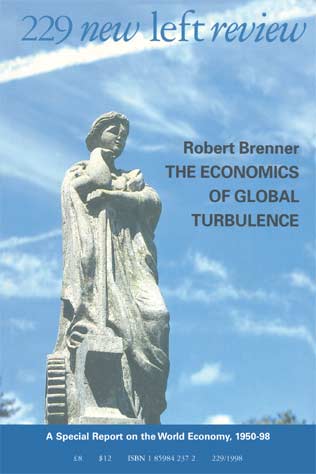Ellen Meiksins Wood
 |
| Monthly Review Vol. 50, No. 03 (July-August 1998) |
Tradução / Uma das convenções mais arraigadas da cultura ocidental é aquela que associa capitalismo a cidades. O capitalismo supostamente nasceu e cresceu nas cidades. Mais que isso, a implicação é de que qualquer cidade – com seus aspectos característicos de comércio e troca – é, por sua própria natureza, potencialmente capitalista, e somente obstáculos exógenos impediriam qualquer civilização urbana de dar surgimento ao capitalismo. A religião errada, a forma errada de Estado, ou qualquer tipo de constrangimento ideológico, político ou cultural, atando as mãos das classes urbanas é que teria impedido o capitalismo de brotar em todos os lugares, desde tempos imemoriais – ou pelo menos desde que a tecnologia permitiu a produção de excedentes suficientes.
De acordo com esta visão, o desenvolvimento do capitalismo no ocidente se explica pela autonomia ímpar das suas cidades e das suas classes únicas (típicas), os habitantes dos burgos ou burgueses. Em outras palavras, o capitalismo emergiu no Ocidente menos em decorrência do que estava presente do que daquilo que estava ausente: limitações às práticas econômicas urbanas. Nessas condições, foi preciso apenas uma relativa expansão espontânea do comércio para desencadear o desenvolvimento do capitalismo e levá-lo à maturidade. Só faltava então um crescimento quantitativo, que teve lugar quase automaticamente com o passar do tempo (em algumas versões, é claro, auxiliado, mas não necessariamente causado, pela ética protestante).
Há muito a ser dito a propósito destas pressuposições sobre a ligação natural entre cidades e capitalismo. Dentre elas, está o fato de que tendem a naturalizar o capitalismo, a disfarçar sua característica distintiva de ser uma forma social específica com um começo e (sem dúvida) com um fim. A tendência de identificar capitalismo com cidades e comércio urbano tem sido acompanhada pela inclinação de considerar o capitalismo mais ou menos como uma decorrência automática de práticas tão antigas quanto a história humana, ou até mesmo como a conseqüência automática da natureza humana, a inclinação “natural” para o comércio, nas palavras de Adam Smith “truck, barter and exchange”.
Talvez o corretivo mais salutar para tais pressuposições – e suas implicações lógicas – seja o reconhecimento de que o capitalismo, com todo o seu impulso específico de acumular e de buscar o lucro máximo, nasceu não na cidade mas no campo, num lugar muito específico, e tardiamente na história humana. Ele requer não uma simples extensão ou expansão do escambo e da troca, mas uma transformação completa nas práticas e relações humanas mais fundamentais, uma ruptura nos antigos padrões de interação com a natureza na produção das necessidades vitais básicas. Se a tendência de identificar capitalismo com cidades se apresenta associada à de obscurecer a sua especificidade, uma das melhores maneiras de entender esta especificidade é examinar as origens agrárias do capitalismo.
No que consistiu o “capitalismo agrário”?
Por muitos milênios, os seres humanos proveram suas necessidades materiais através do trabalho da terra. E provavelmente durante um período mais ou menos similar estiveram divididos em classes sociais, constituídas por aqueles que trabalhavam a terra e aqueles que se apropriavam do trabalho dos outros. Esta divisão entre produtores e apropriadores tem assumido diversas formas dependendo do tempo e do lugar, mas possuindo uma característica geral, qual seja, a de que os produtores diretos têm sido camponeses. Estes produtores camponeses permaneceram na posse dos meios de produção, especificamente a terra. Como em todas as sociedades pré-capitalistas, esses produtores tinham acesso direto aos meios de sua própria reprodução. Isto significa que a apropriação do trabalho excedente pela camada exploradora era feita pelo que Marx chamou de meios “extra-econômicos” – quer dizer, por meio de coerção direta, exercida pelos senhores rurais e/ou Estado, através do emprego de força superior, acesso privilegiado aos poderes militares, judiciais e políticos.
Aqui está, portanto, a diferença essencial entre todas as sociedades pré-capitalistas e as capitalistas. Não tem nada a ver com o fato de a produção ser urbana ou rural e tem tudo a ver com as relações de propriedade entre produtores e apropriadores, seja na agricultura ou na indústria. Somente no capitalismo, a forma dominante de apropriação do excedente está baseada na expropriação dos produtores diretos, cujo trabalho excedente é apropriado exclusivamente por meios puramente econômicos. Devido ao fato de que os produtores diretos numa sociedade capitalista plenamente desenvolvida se encontram na situação de expropriados, e devido também ao fato de que o único modo de terem acesso aos meios de produção, para atenderem aos requisitos da sua própria reprodução, e até mesmo para proverem os meios do seu próprio trabalho, é a venda da sua força de trabalho em troca de um salário, os capitalistas podem se apropriar da mais-valia produzida pelos trabalhadores sem necessidade de recorrer à coerção direta.
Esta relação particular entre produtores e apropriadores é, obviamente, mediada pelo mercado. Mercados de vários tipos existiram através da História e até mesmo da pré-história, quando as pessoas trocaram ou venderam o excedente de diversas maneiras e com diferentes objetivos. Mas o mercado no capitalismo tem uma função distinta e sem precedente. Virtualmente tudo numa sociedade capitalista é uma mercadoria produzida para o mercado. O mais importante é que capital e trabalho dependem do mercado para as condições mais básicas da sua reprodução. Assim como os trabalhadores dependem do mercado para vender sua força de trabalho como uma mercadoria, os capitalistas dependem dele para comprar a força de trabalho e também os meios de produção, e para realizarem os seus lucros através da venda de bens e serviços produzidos pelos trabalhadores. Esta dependência do mercado dá a este último um papel sem precedente nas sociedades capitalistas, não apenas como um simples mecanismo de intercâmbio ou distribuição mas como o principal determinante e regulador da reprodução social. O surgimento do mercado como um determinante da reprodução social pressupôs a sua penetração na produção do ingrediente básico mais necessário, o alimento.
Este sistema único de dependência do mercado implicou na existência de algumas “leis do movimento” muito especiais, compulsões e exigências sistêmicas específicas que nenhum outro modo de produção exigiu: os imperativos da competição, acumulação e maximização do lucro. E estes imperativos, por sua vez, significam que o capitalismo pode e deve constantemente se expandir de maneiras e em graus que outras formas sociais desconheciam – permanentemente acumulando, buscando novos mercados, impondo seus imperativos em novos territórios e em novas esferas da vida, em seres humanos e sobre o meio ambiente.
Uma vez que reconheçamos quão distintos são esses processos e essas relações sociais, quão diferentes são das outras formas sociais dominantes na maior parte da história da humanidade, fica claro que é preciso mais para explicar o surgimento dessa forma social distinta do que a duvidosa pressuposição de que ela sempre existiu (de modo embrionário), precisando apenas ser liberada dos constrangimentos artificiais que a encerravam. A questão das suas origens, então, pode ser formulada da seguinte maneira: dado que os produtores foram explorados pelos apropriadores através de meios não-capitalistas durante milênios antes que o capitalismo surgisse, e dado que os mercados também existiram desde os tempos imemoriais praticamente em todos os lugares, como explicar o fato de que as relações produtores/apropriadores passaram a ser dependentes do mercado?
Naturalmente seria possível refazer, incansavelmente, o longo e complexo processo histórico que atribuiu ao mercado este papel central. Mas acreditamos que a questão se torna mais manejável se pudermos identificar a primeira vez e lugar nos quais uma nova dinâmica social se tornou claramente perceptível, uma dinâmica causada pela dependência do mercado dos atores econômicos principais. Aí então poderemos explorar as condições específicas nas quais está mergulhada essa situação única.
Até o século XVII, e ainda bem depois, a maior parte do mundo, inclusive da Europa, estava imune aos imperativos impostos pelo mercado tais como descritos acima. Sem dúvida existia um vasto sistema de comércio que se estendia por todo o globo. Mas em nenhum lugar, nem nos grandes centros comerciais da Europa, nem na vasta rede comercial do mundo islâmico ou da Ásia, estava a atividade econômica, e em particular a produção, impulsionada pelos imperativos da competição e da acumulação. O princípio dominante do comércio, em todo lugar, era “lucro através da venda”, ou “comprar barato para vender caro”. Comprando barato num mercado, vendendo caro em outro. O comércio internacional era essencialmente “carrying trade”, com os comerciantes comprando bens em um lugar para serem vendidos com lucro em outro. Mas mesmo dentro de um único, poderoso e relativamente unificado reino como a França, basicamente os mesmos princípios não-capitalistas de comércio prevaleciam. Não havia um mercado unificado, um mercado no qual as pessoas obtivessem lucro não através do “comprar barato e vender caro”, ou através da simples transferência de mercadorias de um mercado para outro, mas através de uma produção a melhores preços num processo competitivo dentro de um mesmo mercado.
O comércio pendia ainda para os artigos de luxo, ou pelo menos para os artigos que se destinavam aos lares mais prósperos ou que respondiam às necessidades e aos padrões de consumo das classes dominantes. Não havia um mercado de massas para os produtos baratos do consumo cotidiano. O camponês médio produzia não somente suas próprias necessidades alimentares mas também outros artigos corriqueiros como os tecidos de que necessitavam. Eles podiam levar seus excedentes para os mercados locais, onde eram trocados por outros produtos. E produtos agrícolas até podiam ser vendidos em mercados mais distantes. Mas também nesses casos os princípios do comércio eram aqueles aplicados aos produtos manufaturados.
Estes princípios não-capitalistas de comércio existiam ao lado das formas de exploração não-capitalistas. Por exemplo, na Europa ocidental, mesmo lá onde a servidão havia desaparecido, outras formas de exploração “extra-econômica” ainda prevaleciam. Na França, por exemplo, onde os camponeses constituíam a maior parte da população e ainda permaneciam com a posse da terra, um cargo público era um meio de sustentação para muitos membros das classes dominantes, um meio de extração de sobre-trabalho dos camponeses na forma de impostos. E mesmo a grande maioria dos senhores de terras que viviam de rendas dependiam de poderes e privilégios extra-econômicos para amealhar sua fortuna.
Em conseqüência, os camponeses tinham acesso aos meios de produção, à terra, sem precisar oferecer sua força de trabalho no mercado como uma mercadoria. Senhores de terras e ocupantes de cargos públicos (office-holders), com a ajuda de vários poderes e privilégios extra-econômicos, extraíam sobre-trabalho dos camponeses diretamente, na forma de renda ou imposto. Em outras palavras, enquanto todo tipo de pessoa podia comprar e vendar toda sorte de objetos no mercado, nem os camponeses-proprietários que produziam, nem os senhores de terras e funcionários (office-holders) que se apropriavam da produção dos outros, dependiam diretamente do mercado para as condições de sua reprodução, e as relações entre eles não eram mediadas pelo mercado.
Mas havia uma exceção importante a esta regra geral. A Inglaterra, já no século dezesseis, se desenvolvia numa nova direção. Embora houvesse outros Estados monárquicos relativamente fortes, mais ou menos unificados sob a monarquia (como a Espanha e a França), nenhum era tão unificado quanto a Inglaterra (e a ênfase aqui é na Inglaterra e não nas outras partes das ilhas britânicas). A unificação do reino inglês começara bem cedo, no século XI, quando os conquistadores normandos se estabeleceram, através de uma grande coesão militar e política, como classe dominante na ilha. E no século XVI, a Inglaterra já percorrera um longo caminho no sentido de eliminar a fragmentação feudal do Estado e a soberania “dividida” herdada do feudalismo. Os poderes autônomos detidos pelos nobres, corpos municipais e outras entidades corporativas existentes nos outros Estados europeus estavam na Inglaterra cada vez mais concentrados no Estado central. Isto contrastava com os outros Estados europeus, onde mesmo monarquias poderosas continuaram por muito tempo a conviver penosamente com poderes militares pós-feudais, sistemas legais fragmentados e privilégios de corpos sociais. Os detentores desses poderes insistiam em preservar a autonomia frente à centralização do poder no Estado.
A centralização política do Estado inglês tinha fundamentos materiais e corolários. Primeiro, já no século XVI, a Inglaterra possuía uma rede impressionante de estradas e de vias de transportes fluviais e marítimas que unificavam a nação de modo bastante excepcional para o período. Londres cresceu numa taxa muito acima das outras cidades inglesas e do crescimento total da população (transformou-se na maior cidade da Europa) e tornou-se o centro de um mercado nacional em desenvolvimento.
A base material sobre a qual esta economia nacional emergente repousava era a agricultura inglesa, especial em mais de um aspecto. A classe dominante inglesa se caracterizava por dois aspectos que se inter-relacionavam: por um lado, em aliança com a monarquia, participava de um Estado com forte poder centralizador, e não possuía numa medida similar à das suas congêneres europeias os poderes extra-econômicos, mais ou menos autônomos, nos quais estas últimas se apoiavam para extrair sobre-trabalho (ou o excedente) dos produtores diretos. Por outro lado, a alta concentração da terra constituía um dado presente há muito tempo no campo inglês, com grandes senhores de terras detendo uma parcela importante do território. Esta concentração significava que os senhores ingleses podiam usar suas propriedades de diferentes e novas maneiras. O que faltava à classe proprietária em poder extra-econômico para a extração do excedente era largamente compensado pelo seu crescente poderio econômico.
Esta combinação particular de fatores teve consequências significativas. De um lado, a concentração da propriedade da terra implicava que uma porção considerável da terra fosse tornada produtiva não por camponeses-proprietários mas por arrendatários. Isto vinha ocorrendo mesmo antes das grandes ondas de expropriação, que ocorreram principalmente nos séculos XVI e XVIII, usualmente associadas com os “cercamentos” (a eles voltaremos adiante), em contraste, por exemplo, com o ocorrido na França, onde uma parcela importante das terras permaneceu por longo período histórico ainda nas mãos dos camponeses.
De outro lado, a relativa “fraqueza” dos poderes extra-econômicos dos senhores de terras fazia com que dependessem cada vez menos da sua habilidade de espremer mais renda dos arrendatários por meios coercitivos diretos do que da produtividade desses mesmos arrendatários. Em conseqüência os senhores de terras tinham um incentivo muito forte para encorajar – e quando possível obrigar – seus arrendatários a encontrar os meios de aumentar sua produção. Neste aspecto eles eram fundamentalmente diferentes dos aristocratas rentistas que em variadas épocas históricas fizeram depender suas fortunas da capacidade de extorquir o excedente dos camponeses através da simples coação, aumentando essa capacidade através apenas do aperfeiçoamento dos seus poderes coercitivos – militares, judiciais e políticos.
Quanto aos arrendatários, eles estavam crescentemente sujeitos não só à pressão direta dos senhores de terras mas aos imperativos do mercado que os impeliam a aumentar a produtividade. As formas do arrendamento foram múltiplas na Inglaterra, existindo muitas variações regionais, mas um número crescente delas estava sujeita a rendas “econômicas”, isto é, rendas fixadas pelas condições do mercado e não por algum padrão legal ou consuetudinário. Desde o início da Época Moderna, até mesmo muitos contratos baseados no costume tinham se tornado contratos “econômicos”.
O efeito do sistema de relações de propriedade foi tornar muitos agricultores (inclusive prósperos “yeomen”) dependentes do mercado, não apenas para a venda de seus produtos, mas no sentido mais fundamental de que seu acesso à terra, isto é aos meios de produção, era mediado pelo mercado. Havia, com efeito, um mercado de aluguel de terras no qual arrendatários em potencial tinham que competir. Neste mercado, a garantia do arrendamento dependia da capacidade de pagar o valor corrente do aluguel, e a falta de competitividade podia significar a direta perda da terra. Para alcançar uma renda adequada numa situação em que outros arrendatários em potencial estavam competindo pelo mesmo contrato de aluguel, os arrendatários eram compelidos a produzirem mais barato sob pena de perderem a terra.
Mesmo aqueles arrendatários que gozavam de alguma espécie de direito costumeiro à terra, portanto, mais garantidos nas suas parcelas, eram obrigados a vender seus produtos nos mesmos mercados, e consequentemente estavam submetidos às condições da concorrência, quer dizer, aos padrões de produtividade estipulados pelos agricultores submetidos mais diretamente às pressões do mercado. O mesmo ocorria numa proporção cada vez maior com os proprietários que exploravam eles próprios suas terras. Neste ambiente competitivo, agricultores produtivos prosperavam e suas parcelas de terras cultivadas tendiam a crescer, enquanto que agricultores menos competitivos fracassavam e iam se juntar aos sem-terra.
Em todos os casos, os efeitos dos imperativos do mercado foram intensificar a exploração tendo em vista o aumento da produtividade – fosse a exploração do trabalho dos outros, ou a auto-exploração do agricultor e sua família. Este padrão seria reproduzido nas colônias, e também na América independente, onde os pequenos produtores independentes, supostamente a espinha dorsal de uma república livre, tiveram cedo de encarar a cruel escolha imposta pelo capitalismo agrário: na melhor hipótese, intensa auto-exploração e na pior, perda das terras para empresas maiores e mais produtivas.
O surgimento da propriedade capitalista
Em síntese, a agricultura inglesa no século XVI reunia uma combinação ímpar de fatores, ao menos em certas regiões, que acabariam por determinar a direção da economia inglesa como um todo. O resultado disso foi o setor agrário mais produtivo da história. Proprietários e arrendatários se tornaram igualmente preocupados com o que chamavam de “melhoramento” (improvement), o aumento da produtividade da terra visando o lucro.
Vale a pena se debruçar um momento sobre esse conceito de “melhoramento”, porque ele revela muito sobre a agricultura inglesa e o capitalismo. A palavra improve (melhorar) no seu sentido original não significava somente “tornar melhor” num sentido amplo, mas literalmente5 fazer algo visando lucro monetário, e especialmente, cultivar terra visando lucro. No século XVII, o sentido da palavra improver (o agente da melhoria) fixou-se definitivamente na linguagem para designar o indivíduo que tornava a terra produtiva e lucrativa, especialmente através do cercamento ou da supressão do desperdício. Os melhoramentos agrícolas eram naquele momento uma prática já bem estabelecida, e no século XVIII, na época de ouro do capitalismo agrário, “improvement” (melhoramento), no idioma e na realidade, designava um e mesmo fenômeno.
Ao mesmo tempo, a palavra começou a adquirir um significado mais geral, no sentido com o qual a entendemos hoje (pode ser útil refletir a respeito de uma sociedade na qual a palavra “melhorar” tem como raiz lucro monetário); mesmo quando associada à agricultura, atualmente, ela perdeu uma pouco da sua antiga especificidade – de modo que, por exemplo, alguns pensadores radicais do século XIX podiam adotar a palavra “improvement” (melhoramento) no sentido de agricultura científica, sem a conotação de lucro comercial. Mas no início do período moderno, produtividade e lucro estavam indissoluvelmente ligados no conceito de “improvement”(melhoramento), o que resume bem a ideologia da classe agrária capitalista emergente.
No século XVII tomou corpo uma nova literatura que explicava detalhadamente as técnicas e os benefícios dos melhoramentos. Melhoramento foi também a preocupação principal da Royal Society, que reunia alguns dos mais proeminentes cientistas da Inglaterra (Isaac Newton e Robert Boyle eram membros da Society) e alguns dos membros mais progressistas das classes dominantes inglesas – como o filósofo John Locke e o seu mentor, o primeiro Earl de Shaftesbury, ambos profundamente interessados nos melhoramentos agrícolas.
Os melhoramentos não dependiam em primeira instância de inovações tecnológicas significativas – apesar de que novos equipamentos estavam sendo usados, como o arado com roda. Em geral, era mais uma questão de desenvolvimento de técnicas agrícolas: por exemplo, cultivo “conversível” ou “em degrau” – alternância de cultivo com períodos de descanso, rotação de cultura, drenagem de pântanos e terras baixas, etc.
Mas os melhoramentos também significavam algo mais do que novos métodos e técnicas de cultivo. Significavam novas formas e concepções de propriedade. Agricultura “melhorada”, para o proprietário de terras empreendedor e seu próspero capitalista arrendatário, implicava em propriedades aumentadas e concentradas. Também implicava – talvez em maior medida – na eliminação dos antigos costumes e práticas que atrapalhassem o uso mais produtivo da terra.
Comunidades camponesas tinham, desde tempos imemoriais, empregado vários meios de regulamentar o uso da terra conforme os interesses da comunidade aldeã: elas restringiam algumas práticas e concediam determinados direitos, tendo em vista não o aumento da riqueza do senhor ou da propriedade, mas a preservação da própria comunidade camponesa; às vezes, visando a conservação da terra ou a distribuição mais equitativa dos seus frutos, e, freqüentemente, para socorrer os membros menos afortunados da comunidade. Até a propriedade “privada” da terra foi condicionada por estas práticas, que davam a não-proprietários certos direitos de uso da terra apropriada por outra pessoa. Na Inglaterra, existiram muitas dessas práticas e costumes. Era o caso das terras comunais, que podiam eventualmente ser usadas pelos membros da comunidade como pasto ou para apanhar lenha, e havia também diversos tipos de direitos concernentes às terras privadas – tais como o direito ao recolhimento dos restos da colheita em determinados períodos do ano.
Do ponto de vista dos proprietários e dos arrendatários capitalistas, a terra devia ser liberada de todo tipo de obstrução ao seu uso produtivo e lucrativo. Entre o século XVI e XVIII, houve uma pressão contínua para a extinção dos direitos costumeiros que interferiam na acumulação capitalista. Isto poderia significar muitas coisas: a disputa da propriedade comunal com vistas à apropriação privada; a eliminação de um série de direitos de uso sobre as terras privadas; ou, finalmente, problematizar o acesso à terra dos pequenos camponeses que não possuíam título de domínio inequívoco. Em todos esses casos, a concepção tradicional de propriedade precisava ser substituída por um conceito novo, o conceito capitalista de propriedade – propriedade não apenas privada, mas excludente, literalmente excluindo outros indivíduos e a comunidade, através da eliminação das regulações das aldeias e das restrições ao uso da terra, pela extinção dos usos e direitos costumeiros, e assim por diante.
Estas pressões para transformar a natureza da propriedade manifestaram-se de diversas maneiras, na teoria e na prática. Elas são detectáveis nos casos surgidos nos tribunais, nos conflitos a propósito de direitos específicos de apropriação de parcelas das terras comunais ou de alguma terra particular sobre a qual mais de uma pessoa tinha direito de uso. Nesses casos, as práticas costumeiras e a posse freqüentemente eram confrontadas com os princípios dos “melhoramentos” – e os magistrados muitas vezes davam ganho de causa às reclamações baseadas no argumento do “melhoramento”, considerando-as legítimas contra direitos costumeiros que existiam há mais tempo do que a memória alcança.
Novas concepções de propriedade estavam também sendo teorizadas mais sistematicamente, sobretudo na famosa obra de John Locke, Concerning civil government, second treatise. No capítulo 5 deste trabalho encontra-se a afirmação clássica da teoria da propriedade baseada nos princípios do “melhoramento”. Nela, a propriedade como um direito “natural” está baseada naquilo que Locke considera como o meio divino de tornar a terra produtiva e lucrativa, “melhorá-la” (improve it). A interpretação convencional da teoria da propriedade de Locke sugere que o trabalho estabelece (ou funda) o direito de propriedade, mas se lermos cuidadosamente o capítulo de Locke sobre a propriedade veremos com clareza que o que está em questão não é o trabalho enquanto tal, mas a utilização da propriedade de modo produtivo e lucrativo, seu “melhoramento”. Um proprietário (ou senhor de terra) empreendedor, disposto a realizar os “melhoramentos” fundamenta seu direito à propriedade não através de seu trabalho direto, mas através da exploração produtiva da sua terra pelo trabalho de outras pessoas. Terras sem “melhoramentos”, terra que não se torna produtiva e lucrativa (como por exemplo as terras dos indígenas nas Américas) constituem desperdício, e como tal, estabelecem o direito e até mesmo o dever daqueles decididos a “melhorá-las” a se apropriarem dela.
A mesma ética dos melhoramentos podia ser usada para justificar certos tipos de expropriação não apenas nas colônias mas na metrópole inglesa também. Isto nos traz para a mais famosa redefinição de direitos de propriedade: os cercamentos. O “enclosure” é freqüentemente visto simplesmente como a privatização e o cercamento de terras comunais, ou dos “campos abertos” caracteristicamente presentes em algumas regiões do campo inglês. Mas “enclosure” significou, mais precisamente, a extinção (com ou sem o cercamento das terras) dos direitos de uso baseados nos costumes dos quais muitas pessoas dependiam para tirar o seu sustento.
A primeira grande vaga de cercamentos ocorreu no século XVI, quando grandes senhores de terras procuraram retirar os camponeses das terras que podiam se tornar mais rentáveis se usadas para pasto como exigia a cada vez mais lucrativa criação de carneiros. Os comentaristas coevos acusavam os cercamentos, mais do que qualquer outro fator, de responsável pela crescente vaga de vagabundos, aqueles homens sem terra nem senhor que vagavam pelos campos e ameaçavam a ordem social. O mais famoso desses comentaristas, Thomas More, embora ele próprio um “cercador”, descrevia essa prática como os “carneiros que devoram os homens”. Estes críticos sociais, como muitos historiadores depois deles, podem ter superestimado os efeitos dos “enclosures”, em detrimento de outros fatores como causa da transformação das relações de propriedade inglesas. Mas eles permanecem como a expressão mais vívida do processo incansável que estava mudando não apenas o campo inglês mas o mundo: o nascimento do capitalismo.
“Enclosure” continuou sendo uma fonte de conflito na Inglaterra da Época Moderna, fosse feita para a criação de carneiros, fosse para a crescente e lucrativa agricultura de arado. Revoltas por causa dos cercamentos marcaram os séculos XVI e XVII, e os cercamentos apareceram como a maior reclamação durante a Guerra Civil Inglesa. Nas fases iniciais essa prática foi às vezes obstaculizada pelo Estado monárquico, quando mais não fosse por ser uma ameaça à ordem pública. Mas uma vez que as classes agrárias conseguiram moldar o Estado aos seus interesses – sucesso praticamente garantido depois da chamada Revolução Gloriosa de 1688 – não houve mais interferência estatal, e um novo tipo de cercamento apareceu no século XVIII, os chamados cercamentos do Parlamento. Nada testemunha com maior clareza o triunfo do capitalismo agrário.
Assim, na Inglaterra, uma sociedade na qual a riqueza ainda derivava predominantemente da produção agrícola, a auto-reprodução dos dois atores econômicos principais no setor agrícola – produtores diretos e apropriadores do excedente produzido por eles – era, pelo menos a partir do século XVI, cada vez mais dependente de práticas que podem ser consideradas capitalistas: a maximização do valor de troca por meio da redução de custos e pelo aumento da produtividade, através da especialização, acumulação e inovação.
Este modo de prover as necessidades materiais básicas da sociedade inglesa trouxe consigo toda uma nova dinâmica de crescimento auto-sustentado, um processo de acumulação e expansão muito diferente do antigo padrão cíclico que dominava a vida material em outras sociedades. Foi também acompanhado pelo processo capitalista típico de expropriação e de criação de uma massa de expropriados. É neste sentido que podemos falar de “capitalismo agrário” na Inglaterra da Época Moderna.
O capitalismo agrário era realmente capitalista?
Aqui devemos fazer uma pausa para enfatizar dois pontos importantes. Primeiro, não eram comerciantes nem “industriais” os condutores deste processo. A transformação das relações sociais de propriedade estava firmemente enraizada no campo, e a transformação do comércio e da indústria ingleses foi mais resultado do que causa da transição capitalista na Inglaterra. Os comerciantes podiam funcionar perfeitamente dentro de sistemas não capitalistas. Eles prosperaram, por exemplo, no contexto do feudalismo europeu, onde se aproveitaram não somente da autonomia das cidades mas também da fragmentação dos mercados e da oportunidade de realizar transações entre um mercado e outro.
Em segundo lugar, e ainda mais fundamentalmente, os leitores devem ter notado que o termo “capitalismo agrário” está sendo utilizado (neste texto) sem referência a trabalho assalariado, aspecto que aprendemos a considerar como a essência do capitalismo. Isto requer alguma explicação.
É preciso que se diga, primeiro, que muitos arrendatários empregavam trabalho assalariado, tanto que a “tríade” identificada por Marx e outros – a tríade de proprietários de terras vivendo da renda da terra capitalista, arrendatários capitalistas vivendo do lucro e trabalhadores vivendo de salários – tem sido vista por muitos como a característica definidora das relações agrárias na Inglaterra. E assim era – pelo menos naquelas partes do país, particularmente no leste e no sudeste, notáveis pela sua produtividade agrícola. De fato, as novas pressões econômicas, as pressões competitivas que excluíam fazendeiros improdutivos, foram um fato crucial na polarização da população agrícola em grandes proprietários de terras e trabalhadores sem terra, e na promoção da tríade agrária. E, naturalmente, as pressões pelo aumento da produtividade foram sentidas na exploração intensificada do trabalho assalariado.
Não seria, portanto, sem sentido definir o capitalismo agrário inglês em termos da tríade. Mas é importante ter presente ao espírito o fato de que as pressões competitivas e as novas “leis do movimento” que as acompanhavam dependiam numa primeira instância não da existência de uma massa proletária mas da existência de arrendatários dependentes do mercado. Trabalhadores assalariados e especialmente aqueles que dependiam inteiramente de salário, para a sua manutenção e não apenas como complementação sazonal (aquele tipo de trabalho assalariado sazonal e suplementar que tem existido desde os tempos antigos em sociedades camponesas), permaneciam em minoria na Inglaterra do século XVII.
Além do mais essas pressões competitivas se operavam não apenas nos arrendatários que empregavam trabalho assalariado mas também nos fazendeiros que – de modo típico com suas famílias – eram eles mesmos produtores diretos trabalhando sem ajuda contratada. As pessoas podiam depender do mercado – depender do mercado para as condições básicas da sua reprodução – sem estarem totalmente expropriadas dos meios de produção. Para se tornarem dependentes do mercado, era preciso apenas a perda do acesso direto (não dependente do mercado) aos meios de produção. De fato, uma vez que os imperativos do mercado estavam bem estabelecidos, até mesmo a propriedade plena não constituía uma proteção contra seus efeitos. E a dependência do mercado foi a causa e não o resultado da proletarização em massa.
Isto é importante por vários motivos – e falaremos mais adiante sobre suas mais amplas implicações. Por enquanto, o ponto importante é que a dinâmica específica do capitalismo já estava instalada na agricultura inglesa antes da proletarização da força de trabalho. De fato, essa dinâmica foi um fator decisivo na proletarização da força de trabalho na Inglaterra. O fator crucial foi a dependência dos produtores, assim como dos apropriadores, no mercado e os novos imperativos sociais criados por esta dependência.
Algumas pessoas podem hesitar em descrever essa formação social como “capitalista”, justamente porque capitalismo está, por definição, baseado na exploração do trabalho assalariado. Esta relutância é justa – contanto que reconheçamos que, independentemente do nome que se dê, a economia inglesa no início da Época Moderna, levada pela lógica do seu setor produtivo básico, a agricultura, estava operando de acordo com princípios e com “leis do movimento” diferentes daqueles que prevaleceram em qualquer outro período histórico. Essas leis do movimento foram as pré-condições – que não existiram em nenhum outro lugar – para o desenvolvimento do capitalismo maduro que seria, de fato, baseado na exploração em massa do trabalho assalariado.
Qual foi então o resultado disso tudo? Primeiro, a agricultura inglesa tornou-se mais produtiva do que qualquer outra. Em torno do final do século XVII, por exemplo, a produção de grãos e cereais tinha aumentado de modo tão notável que a Inglaterra se tornou a líder na exportação desses produtos. Esses avanços na produção foram conseguidos com uma força de trabalho relativamente pequena empregada na agricultura. É isto que quer dizer ter a agricultura mais produtiva.
Alguns historiadores puseram em dúvida a ideia mesma de capitalismo agrário, sugerindo que a “produtividade” da agricultura francesa era mais ou menos a mesma que a inglesa no século XVIII. Mas o que eles realmente querem dizer é que a produção agrícola total nos dois países era mais ou menos a mesma. O que eles desconsideram é que num país este nível de produção era atingido por uma população majoritariamente composta de camponeses, enquanto no outro país, a mesma produção global era atingida por uma força de trabalho muito inferior, numa população rural declinante. Em outras palavras, a questão aqui não é produção total mas produtividade, no sentido de produção por unidade de trabalho.
O fato demográfico sozinho explica muito. Entre 1500 e 1700, a Inglaterra teve um crescimento substancial de população – como outros países europeus. Mas o crescimento da população na Inglaterra foi diferente num aspecto essencial: a porcentagem da população urbana mais que dobrou neste período (alguns historiadores consideram que era de um pouco menos de 25% já no final do século XVII). O contraste com a França é flagrante: lá, a população rural permaneceu estável, em torno de 85 a 90% no tempo da Revolução, em 1789, e depois. Por volta de 1850, quando a população urbana da Inglaterra e do país de Gales era de mais ou menos 40,8%, a da França era ainda de 14,4% (e da Alemanha 10,8%).
A agricultura na Inglaterra, já no início da Época Moderna, era produtiva o bastante para sustentar um número excepcional de pessoas não mais engajadas na produção agrícola. Este fato, obviamente, revela mais do que a eficiência das técnicas agrícolas. Ele também indica uma revolução nas relações sociais de apropriação. Enquanto a França permanecia um país de camponeses proprietários, a terra na Inglaterra estava concentrada em muito menos mãos e a massa dos sem-propriedade estava crescendo rapidamente. Enquanto a produção agrícola na França ainda seguia as práticas camponesas tradicionais (nada parecido com a literatura inglesa sobre “melhoramentos” existia na França, e a aldeia comunitária ainda impunha suas regulações e restrições na produção, afetando até mesmos grandes proprietários), os fazendeiros ingleses estavam respondendo aos imperativos da competição e dos melhoramentos.
Vale a pena acrescentar um outro ponto a propósito do padrão demográfico distinto da Inglaterra. O crescimento extraordinário da população urbana não estava distribuído igualmente pelas cidades inglesas. Em outros lugares da Europa, o padrão típico era uma população urbana dispersa em várias cidades importantes – de tal modo que Lyon não era muito menor que Paris. Na Inglaterra, Londres se tornou desproporcionalmente grande, crescendo de mais ou menos 60.000 habitantes em torno de 1520 para 575.000 em 1700 e se tornando a maior cidade da Europa, enquanto que outras cidades inglesas eram muito menores.
Este padrão significa mais do que se pode perceber à primeira vista. Testemunha, entre outras coisas, a transformação das relações sociais de apropriação no coração do capitalismo agrário, o sul e o sudeste, e a expropriação de pequenos produtores, o deslocamento e a migração de uma população cujo destino era, tipicamente, Londres. O crescimento de Londres também representa a crescente unificação, não só do Estado mas do mercado interno. A enorme cidade era o centro do comércio inglês – não somente como o lugar de trânsito para o comércio nacional e internacional mas como o imenso consumidor dos produtos ingleses, em particular, produtos agrícolas. O crescimento de Londres, em outras palavras, representa o capitalismo inglês emergente, com seu mercado integrado – cada vez mais um único, unificado e competitivo mercado; sua agricultura produtiva; e sua população expropriada.
As conseqüências a longo prazo destes padrões distintos devem estar bastante óbvias. Embora este não seja o lugar de explorar as conexões entre o capitalismo agrário e a subsequente transformação da Inglaterra na primeira economia “industrializada”, alguns pontos são evidentes. Sem um setor agrícola produtivo que pudesse sustentar uma importante força de trabalho não-agrícola, o primeiro capitalismo industrial do mundo provavelmente não teria aparecido. Sem o capitalismo agrário inglês, não teria havido uma massa de expropriados obrigados a vender sua força de trabalho por um salário. Sem essa força de trabalho não-agrícola expropriada, não teria havido um mercado de consumo de massa para os bens de consumo diário - como alimentos e têxteis - que lideraram o processo de industrialização na Inglaterra. E sem a sua crescente riqueza, associada às novas motivações para a expansão colonial – motivações distintas das antigas formas de aquisição territorial – o imperialismo britânico teria sido algo muito diferente da máquina de capitalismo industrial que ele se tornou. E (este é sem dúvida um ponto mais controverso) sem o capitalismo inglês provavelmente não haveria nenhum capitalismo: foram as pressões competitivas emanando da Inglaterra, especialmente a Inglaterra industrializada, que compeliram os outros países a promover seu desenvolvimento econômico no sentido capitalista.
As lições do capitalismo agrário
O que tudo isso nos ensina sobre a natureza do capitalismo ? Primeiro, lembra-nos que o capitalismo não é uma conseqüência “natural” e inevitável da natureza humana, ou mesmo de práticas sociais antigas como o comércio (“truck, barter, and exchange”). É o resultado tardio e localizado de condições históricas muito específicas. O impulso expansivo do capitalismo, a ponto de ter se tornado virtualmente universal hoje, não é uma consequência da sua conformidade com a natureza humana ou de algumas leis naturais trans-históricas, mas o produto das suas próprias leis históricas internas de movimento. E essas leis de movimento exigiram vastas transformações sociais para se iniciarem. Exigiram uma transformação nas trocas do Homem com a natureza, com vistas ao provimento das necessidades vitais básicas.
O segundo ponto é que o capitalismo foi desde o princípio uma força profundamente contraditória. Basta considerarmos os efeitos mais óbvios do capitalismo agrário inglês: por um lado, as condições para a prosperidade material não existiam em nenhuma outra parte como na Inglaterra da Época Moderna; porém, por outro lado, estas condições foram alcançadas às custas da extensa expropriação e intensa exploração. É quase dispensável acrescentar que essas novas condições também estabeleceram os fundamentos para novas e mais eficientes formas de expansão colonial e imperialismo, assim como novas necessidades para tal expansão, em busca de novos mercados e recursos.
E, depois, há os corolários dos “melhoramentos”: por um lado, produtividade e capacidade de alimentar uma vasta população; por outro lado, a subordinação de todas as considerações aos imperativos do lucro. Isto significa, entre outras coisas, que pessoas que podiam ser alimentadas são freqüentemente deixadas famintas. Na verdade, significa que existe em geral uma grande disparidade entre a capacidade produtiva do capitalismo e a qualidade de vida que proporciona. A ética dos “melhoramentos” no seu sentido original, no qual produção e lucro são indissociáveis, é também a ética da exploração, da pobreza, e do desamparo.
A ética do “melhoramento”, da produtividade visando o lucro é também, naturalmente, a ética do uso irresponsável da terra, da doença da vaca louca, e da destruição ambiental. O capitalismo nasceu no âmago da vida humana, na interação com a natureza da qual depende a própria vida. A transformação desta interação pelo capitalismo agrário revela os impulsos inerentemente destrutivos de um sistema no qual os aspectos fundamentais da existência estão sujeitos às exigências do lucro. Em outras palavras, revelam a essência secreta do capitalismo.
A expansão dos imperativos capitalistas através do mundo tem reiteradamente reproduzido alguns dos efeitos apresentados por ele no seu país de origem. O processo de expropriação, extinção dos direitos costumeiros de propriedade, a imposição dos imperativos do mercado e a destruição ambiental têm continuado. Este processo tem expandido seu alcance das relações entre classes exploradas e exploradoras às relações entre países imperialistas e países subordinados. Mais recentemente, a generalização dos imperativos do mercado tem tomado a forma, por exemplo, de obrigar (com a ajuda de agências capitalistas internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional) fazendeiros do terceiro mundo a substituir estratégias de auto-suficiência em matéria de produtos agrícolas por produção especializada para o mercado globalizado. Os efeitos calamitosos dessas mudanças serão explorados em outros artigos deste número da Monthly Review.
Mas se os efeitos destrutivos do capitalismo reproduzem-se constantemente, seus efeitos positivos não têm tido a mesma consistência. Uma vez estabelecido o capitalismo num país e uma vez tendo começado a impor os seus imperativos no resto da Europa e mais recentemente no mundo todo, seu desenvolvimento nos outros lugares não podia seguir o mesmo curso que havia seguido no seu país de origem. A existência de uma sociedade capitalista transformou daí em diante todas as outras, e a expansão subsequente dos imperativos capitalistas mudou sem cessar as condições do desenvolvimento econômico.
Chegamos a um ponto em que os efeitos destrutivos do capitalismo estão sobrepujando os ganhos materiais. Nenhum país do terceiro mundo, hoje em dia, por exemplo, pode esperar atingir até mesmo o desenvolvimento contraditório que a Inglaterra conheceu. Com as pressões da competição, acumulação e exploração impostas pelos outros sistemas capitalistas mais avançados, a tentativa de alcançar a prosperidade material, de acordo com os princípios capitalistas, cada vez mais deverá trazer com ela somente o lado negativo da contradição capitalista, a expropriação e destruição sem os benefícios materiais, ao menos para a vasta maioria.
Há também uma lição de caráter mais geral que se pode tirar da experiência inglesa de capitalismo agrário. Uma vez que os imperativos do mercado ditam os termos da reprodução social, todos os atores econômicos – tanto apropriadores quanto produtores, mesmo que mantenham a posse, ou mesmo a propriedade dos meios de produção – estão sujeitos às exigências da competição, da produtividade crescente, da acumulação de capital e da intensa exploração do trabalho.
No que concerne a este último aspecto, nem mesmo a ausência de uma divisão entre apropriadores e produtores é uma garantia de imunidade (e isto explica porque “socialismo de mercado” é uma contradição em termos): uma vez que o mercado torna-se o “disciplinador” ou o “regulador” econômico, uma vez que os atores econômicos se tornam dependentes do mercado, no que diz respeito às condições da sua própria reprodução, até mesmo trabalhadores que são donos dos seus meios de produção, individualmente ou coletivamente, serão obrigados a responder aos imperativos do mercado – competir e acumular, abandonar as empresas “não-competitivas” e seus trabalhadores, e a explorar a si mesmos.
A história do capitalismo agrário e tudo que segue mostra com clareza que, onde quer que os imperativos do mercado regulem a economia e governem a reprodução social, não há como escapar da exploração.
Há muito a ser dito a propósito destas pressuposições sobre a ligação natural entre cidades e capitalismo. Dentre elas, está o fato de que tendem a naturalizar o capitalismo, a disfarçar sua característica distintiva de ser uma forma social específica com um começo e (sem dúvida) com um fim. A tendência de identificar capitalismo com cidades e comércio urbano tem sido acompanhada pela inclinação de considerar o capitalismo mais ou menos como uma decorrência automática de práticas tão antigas quanto a história humana, ou até mesmo como a conseqüência automática da natureza humana, a inclinação “natural” para o comércio, nas palavras de Adam Smith “truck, barter and exchange”.
Talvez o corretivo mais salutar para tais pressuposições – e suas implicações lógicas – seja o reconhecimento de que o capitalismo, com todo o seu impulso específico de acumular e de buscar o lucro máximo, nasceu não na cidade mas no campo, num lugar muito específico, e tardiamente na história humana. Ele requer não uma simples extensão ou expansão do escambo e da troca, mas uma transformação completa nas práticas e relações humanas mais fundamentais, uma ruptura nos antigos padrões de interação com a natureza na produção das necessidades vitais básicas. Se a tendência de identificar capitalismo com cidades se apresenta associada à de obscurecer a sua especificidade, uma das melhores maneiras de entender esta especificidade é examinar as origens agrárias do capitalismo.
No que consistiu o “capitalismo agrário”?
Por muitos milênios, os seres humanos proveram suas necessidades materiais através do trabalho da terra. E provavelmente durante um período mais ou menos similar estiveram divididos em classes sociais, constituídas por aqueles que trabalhavam a terra e aqueles que se apropriavam do trabalho dos outros. Esta divisão entre produtores e apropriadores tem assumido diversas formas dependendo do tempo e do lugar, mas possuindo uma característica geral, qual seja, a de que os produtores diretos têm sido camponeses. Estes produtores camponeses permaneceram na posse dos meios de produção, especificamente a terra. Como em todas as sociedades pré-capitalistas, esses produtores tinham acesso direto aos meios de sua própria reprodução. Isto significa que a apropriação do trabalho excedente pela camada exploradora era feita pelo que Marx chamou de meios “extra-econômicos” – quer dizer, por meio de coerção direta, exercida pelos senhores rurais e/ou Estado, através do emprego de força superior, acesso privilegiado aos poderes militares, judiciais e políticos.
Aqui está, portanto, a diferença essencial entre todas as sociedades pré-capitalistas e as capitalistas. Não tem nada a ver com o fato de a produção ser urbana ou rural e tem tudo a ver com as relações de propriedade entre produtores e apropriadores, seja na agricultura ou na indústria. Somente no capitalismo, a forma dominante de apropriação do excedente está baseada na expropriação dos produtores diretos, cujo trabalho excedente é apropriado exclusivamente por meios puramente econômicos. Devido ao fato de que os produtores diretos numa sociedade capitalista plenamente desenvolvida se encontram na situação de expropriados, e devido também ao fato de que o único modo de terem acesso aos meios de produção, para atenderem aos requisitos da sua própria reprodução, e até mesmo para proverem os meios do seu próprio trabalho, é a venda da sua força de trabalho em troca de um salário, os capitalistas podem se apropriar da mais-valia produzida pelos trabalhadores sem necessidade de recorrer à coerção direta.
Esta relação particular entre produtores e apropriadores é, obviamente, mediada pelo mercado. Mercados de vários tipos existiram através da História e até mesmo da pré-história, quando as pessoas trocaram ou venderam o excedente de diversas maneiras e com diferentes objetivos. Mas o mercado no capitalismo tem uma função distinta e sem precedente. Virtualmente tudo numa sociedade capitalista é uma mercadoria produzida para o mercado. O mais importante é que capital e trabalho dependem do mercado para as condições mais básicas da sua reprodução. Assim como os trabalhadores dependem do mercado para vender sua força de trabalho como uma mercadoria, os capitalistas dependem dele para comprar a força de trabalho e também os meios de produção, e para realizarem os seus lucros através da venda de bens e serviços produzidos pelos trabalhadores. Esta dependência do mercado dá a este último um papel sem precedente nas sociedades capitalistas, não apenas como um simples mecanismo de intercâmbio ou distribuição mas como o principal determinante e regulador da reprodução social. O surgimento do mercado como um determinante da reprodução social pressupôs a sua penetração na produção do ingrediente básico mais necessário, o alimento.
Este sistema único de dependência do mercado implicou na existência de algumas “leis do movimento” muito especiais, compulsões e exigências sistêmicas específicas que nenhum outro modo de produção exigiu: os imperativos da competição, acumulação e maximização do lucro. E estes imperativos, por sua vez, significam que o capitalismo pode e deve constantemente se expandir de maneiras e em graus que outras formas sociais desconheciam – permanentemente acumulando, buscando novos mercados, impondo seus imperativos em novos territórios e em novas esferas da vida, em seres humanos e sobre o meio ambiente.
Uma vez que reconheçamos quão distintos são esses processos e essas relações sociais, quão diferentes são das outras formas sociais dominantes na maior parte da história da humanidade, fica claro que é preciso mais para explicar o surgimento dessa forma social distinta do que a duvidosa pressuposição de que ela sempre existiu (de modo embrionário), precisando apenas ser liberada dos constrangimentos artificiais que a encerravam. A questão das suas origens, então, pode ser formulada da seguinte maneira: dado que os produtores foram explorados pelos apropriadores através de meios não-capitalistas durante milênios antes que o capitalismo surgisse, e dado que os mercados também existiram desde os tempos imemoriais praticamente em todos os lugares, como explicar o fato de que as relações produtores/apropriadores passaram a ser dependentes do mercado?
Naturalmente seria possível refazer, incansavelmente, o longo e complexo processo histórico que atribuiu ao mercado este papel central. Mas acreditamos que a questão se torna mais manejável se pudermos identificar a primeira vez e lugar nos quais uma nova dinâmica social se tornou claramente perceptível, uma dinâmica causada pela dependência do mercado dos atores econômicos principais. Aí então poderemos explorar as condições específicas nas quais está mergulhada essa situação única.
Até o século XVII, e ainda bem depois, a maior parte do mundo, inclusive da Europa, estava imune aos imperativos impostos pelo mercado tais como descritos acima. Sem dúvida existia um vasto sistema de comércio que se estendia por todo o globo. Mas em nenhum lugar, nem nos grandes centros comerciais da Europa, nem na vasta rede comercial do mundo islâmico ou da Ásia, estava a atividade econômica, e em particular a produção, impulsionada pelos imperativos da competição e da acumulação. O princípio dominante do comércio, em todo lugar, era “lucro através da venda”, ou “comprar barato para vender caro”. Comprando barato num mercado, vendendo caro em outro. O comércio internacional era essencialmente “carrying trade”, com os comerciantes comprando bens em um lugar para serem vendidos com lucro em outro. Mas mesmo dentro de um único, poderoso e relativamente unificado reino como a França, basicamente os mesmos princípios não-capitalistas de comércio prevaleciam. Não havia um mercado unificado, um mercado no qual as pessoas obtivessem lucro não através do “comprar barato e vender caro”, ou através da simples transferência de mercadorias de um mercado para outro, mas através de uma produção a melhores preços num processo competitivo dentro de um mesmo mercado.
O comércio pendia ainda para os artigos de luxo, ou pelo menos para os artigos que se destinavam aos lares mais prósperos ou que respondiam às necessidades e aos padrões de consumo das classes dominantes. Não havia um mercado de massas para os produtos baratos do consumo cotidiano. O camponês médio produzia não somente suas próprias necessidades alimentares mas também outros artigos corriqueiros como os tecidos de que necessitavam. Eles podiam levar seus excedentes para os mercados locais, onde eram trocados por outros produtos. E produtos agrícolas até podiam ser vendidos em mercados mais distantes. Mas também nesses casos os princípios do comércio eram aqueles aplicados aos produtos manufaturados.
Estes princípios não-capitalistas de comércio existiam ao lado das formas de exploração não-capitalistas. Por exemplo, na Europa ocidental, mesmo lá onde a servidão havia desaparecido, outras formas de exploração “extra-econômica” ainda prevaleciam. Na França, por exemplo, onde os camponeses constituíam a maior parte da população e ainda permaneciam com a posse da terra, um cargo público era um meio de sustentação para muitos membros das classes dominantes, um meio de extração de sobre-trabalho dos camponeses na forma de impostos. E mesmo a grande maioria dos senhores de terras que viviam de rendas dependiam de poderes e privilégios extra-econômicos para amealhar sua fortuna.
Em conseqüência, os camponeses tinham acesso aos meios de produção, à terra, sem precisar oferecer sua força de trabalho no mercado como uma mercadoria. Senhores de terras e ocupantes de cargos públicos (office-holders), com a ajuda de vários poderes e privilégios extra-econômicos, extraíam sobre-trabalho dos camponeses diretamente, na forma de renda ou imposto. Em outras palavras, enquanto todo tipo de pessoa podia comprar e vendar toda sorte de objetos no mercado, nem os camponeses-proprietários que produziam, nem os senhores de terras e funcionários (office-holders) que se apropriavam da produção dos outros, dependiam diretamente do mercado para as condições de sua reprodução, e as relações entre eles não eram mediadas pelo mercado.
Mas havia uma exceção importante a esta regra geral. A Inglaterra, já no século dezesseis, se desenvolvia numa nova direção. Embora houvesse outros Estados monárquicos relativamente fortes, mais ou menos unificados sob a monarquia (como a Espanha e a França), nenhum era tão unificado quanto a Inglaterra (e a ênfase aqui é na Inglaterra e não nas outras partes das ilhas britânicas). A unificação do reino inglês começara bem cedo, no século XI, quando os conquistadores normandos se estabeleceram, através de uma grande coesão militar e política, como classe dominante na ilha. E no século XVI, a Inglaterra já percorrera um longo caminho no sentido de eliminar a fragmentação feudal do Estado e a soberania “dividida” herdada do feudalismo. Os poderes autônomos detidos pelos nobres, corpos municipais e outras entidades corporativas existentes nos outros Estados europeus estavam na Inglaterra cada vez mais concentrados no Estado central. Isto contrastava com os outros Estados europeus, onde mesmo monarquias poderosas continuaram por muito tempo a conviver penosamente com poderes militares pós-feudais, sistemas legais fragmentados e privilégios de corpos sociais. Os detentores desses poderes insistiam em preservar a autonomia frente à centralização do poder no Estado.
A centralização política do Estado inglês tinha fundamentos materiais e corolários. Primeiro, já no século XVI, a Inglaterra possuía uma rede impressionante de estradas e de vias de transportes fluviais e marítimas que unificavam a nação de modo bastante excepcional para o período. Londres cresceu numa taxa muito acima das outras cidades inglesas e do crescimento total da população (transformou-se na maior cidade da Europa) e tornou-se o centro de um mercado nacional em desenvolvimento.
A base material sobre a qual esta economia nacional emergente repousava era a agricultura inglesa, especial em mais de um aspecto. A classe dominante inglesa se caracterizava por dois aspectos que se inter-relacionavam: por um lado, em aliança com a monarquia, participava de um Estado com forte poder centralizador, e não possuía numa medida similar à das suas congêneres europeias os poderes extra-econômicos, mais ou menos autônomos, nos quais estas últimas se apoiavam para extrair sobre-trabalho (ou o excedente) dos produtores diretos. Por outro lado, a alta concentração da terra constituía um dado presente há muito tempo no campo inglês, com grandes senhores de terras detendo uma parcela importante do território. Esta concentração significava que os senhores ingleses podiam usar suas propriedades de diferentes e novas maneiras. O que faltava à classe proprietária em poder extra-econômico para a extração do excedente era largamente compensado pelo seu crescente poderio econômico.
Esta combinação particular de fatores teve consequências significativas. De um lado, a concentração da propriedade da terra implicava que uma porção considerável da terra fosse tornada produtiva não por camponeses-proprietários mas por arrendatários. Isto vinha ocorrendo mesmo antes das grandes ondas de expropriação, que ocorreram principalmente nos séculos XVI e XVIII, usualmente associadas com os “cercamentos” (a eles voltaremos adiante), em contraste, por exemplo, com o ocorrido na França, onde uma parcela importante das terras permaneceu por longo período histórico ainda nas mãos dos camponeses.
De outro lado, a relativa “fraqueza” dos poderes extra-econômicos dos senhores de terras fazia com que dependessem cada vez menos da sua habilidade de espremer mais renda dos arrendatários por meios coercitivos diretos do que da produtividade desses mesmos arrendatários. Em conseqüência os senhores de terras tinham um incentivo muito forte para encorajar – e quando possível obrigar – seus arrendatários a encontrar os meios de aumentar sua produção. Neste aspecto eles eram fundamentalmente diferentes dos aristocratas rentistas que em variadas épocas históricas fizeram depender suas fortunas da capacidade de extorquir o excedente dos camponeses através da simples coação, aumentando essa capacidade através apenas do aperfeiçoamento dos seus poderes coercitivos – militares, judiciais e políticos.
Quanto aos arrendatários, eles estavam crescentemente sujeitos não só à pressão direta dos senhores de terras mas aos imperativos do mercado que os impeliam a aumentar a produtividade. As formas do arrendamento foram múltiplas na Inglaterra, existindo muitas variações regionais, mas um número crescente delas estava sujeita a rendas “econômicas”, isto é, rendas fixadas pelas condições do mercado e não por algum padrão legal ou consuetudinário. Desde o início da Época Moderna, até mesmo muitos contratos baseados no costume tinham se tornado contratos “econômicos”.
O efeito do sistema de relações de propriedade foi tornar muitos agricultores (inclusive prósperos “yeomen”) dependentes do mercado, não apenas para a venda de seus produtos, mas no sentido mais fundamental de que seu acesso à terra, isto é aos meios de produção, era mediado pelo mercado. Havia, com efeito, um mercado de aluguel de terras no qual arrendatários em potencial tinham que competir. Neste mercado, a garantia do arrendamento dependia da capacidade de pagar o valor corrente do aluguel, e a falta de competitividade podia significar a direta perda da terra. Para alcançar uma renda adequada numa situação em que outros arrendatários em potencial estavam competindo pelo mesmo contrato de aluguel, os arrendatários eram compelidos a produzirem mais barato sob pena de perderem a terra.
Mesmo aqueles arrendatários que gozavam de alguma espécie de direito costumeiro à terra, portanto, mais garantidos nas suas parcelas, eram obrigados a vender seus produtos nos mesmos mercados, e consequentemente estavam submetidos às condições da concorrência, quer dizer, aos padrões de produtividade estipulados pelos agricultores submetidos mais diretamente às pressões do mercado. O mesmo ocorria numa proporção cada vez maior com os proprietários que exploravam eles próprios suas terras. Neste ambiente competitivo, agricultores produtivos prosperavam e suas parcelas de terras cultivadas tendiam a crescer, enquanto que agricultores menos competitivos fracassavam e iam se juntar aos sem-terra.
Em todos os casos, os efeitos dos imperativos do mercado foram intensificar a exploração tendo em vista o aumento da produtividade – fosse a exploração do trabalho dos outros, ou a auto-exploração do agricultor e sua família. Este padrão seria reproduzido nas colônias, e também na América independente, onde os pequenos produtores independentes, supostamente a espinha dorsal de uma república livre, tiveram cedo de encarar a cruel escolha imposta pelo capitalismo agrário: na melhor hipótese, intensa auto-exploração e na pior, perda das terras para empresas maiores e mais produtivas.
O surgimento da propriedade capitalista
Em síntese, a agricultura inglesa no século XVI reunia uma combinação ímpar de fatores, ao menos em certas regiões, que acabariam por determinar a direção da economia inglesa como um todo. O resultado disso foi o setor agrário mais produtivo da história. Proprietários e arrendatários se tornaram igualmente preocupados com o que chamavam de “melhoramento” (improvement), o aumento da produtividade da terra visando o lucro.
Vale a pena se debruçar um momento sobre esse conceito de “melhoramento”, porque ele revela muito sobre a agricultura inglesa e o capitalismo. A palavra improve (melhorar) no seu sentido original não significava somente “tornar melhor” num sentido amplo, mas literalmente5 fazer algo visando lucro monetário, e especialmente, cultivar terra visando lucro. No século XVII, o sentido da palavra improver (o agente da melhoria) fixou-se definitivamente na linguagem para designar o indivíduo que tornava a terra produtiva e lucrativa, especialmente através do cercamento ou da supressão do desperdício. Os melhoramentos agrícolas eram naquele momento uma prática já bem estabelecida, e no século XVIII, na época de ouro do capitalismo agrário, “improvement” (melhoramento), no idioma e na realidade, designava um e mesmo fenômeno.
Ao mesmo tempo, a palavra começou a adquirir um significado mais geral, no sentido com o qual a entendemos hoje (pode ser útil refletir a respeito de uma sociedade na qual a palavra “melhorar” tem como raiz lucro monetário); mesmo quando associada à agricultura, atualmente, ela perdeu uma pouco da sua antiga especificidade – de modo que, por exemplo, alguns pensadores radicais do século XIX podiam adotar a palavra “improvement” (melhoramento) no sentido de agricultura científica, sem a conotação de lucro comercial. Mas no início do período moderno, produtividade e lucro estavam indissoluvelmente ligados no conceito de “improvement”(melhoramento), o que resume bem a ideologia da classe agrária capitalista emergente.
No século XVII tomou corpo uma nova literatura que explicava detalhadamente as técnicas e os benefícios dos melhoramentos. Melhoramento foi também a preocupação principal da Royal Society, que reunia alguns dos mais proeminentes cientistas da Inglaterra (Isaac Newton e Robert Boyle eram membros da Society) e alguns dos membros mais progressistas das classes dominantes inglesas – como o filósofo John Locke e o seu mentor, o primeiro Earl de Shaftesbury, ambos profundamente interessados nos melhoramentos agrícolas.
Os melhoramentos não dependiam em primeira instância de inovações tecnológicas significativas – apesar de que novos equipamentos estavam sendo usados, como o arado com roda. Em geral, era mais uma questão de desenvolvimento de técnicas agrícolas: por exemplo, cultivo “conversível” ou “em degrau” – alternância de cultivo com períodos de descanso, rotação de cultura, drenagem de pântanos e terras baixas, etc.
Mas os melhoramentos também significavam algo mais do que novos métodos e técnicas de cultivo. Significavam novas formas e concepções de propriedade. Agricultura “melhorada”, para o proprietário de terras empreendedor e seu próspero capitalista arrendatário, implicava em propriedades aumentadas e concentradas. Também implicava – talvez em maior medida – na eliminação dos antigos costumes e práticas que atrapalhassem o uso mais produtivo da terra.
Comunidades camponesas tinham, desde tempos imemoriais, empregado vários meios de regulamentar o uso da terra conforme os interesses da comunidade aldeã: elas restringiam algumas práticas e concediam determinados direitos, tendo em vista não o aumento da riqueza do senhor ou da propriedade, mas a preservação da própria comunidade camponesa; às vezes, visando a conservação da terra ou a distribuição mais equitativa dos seus frutos, e, freqüentemente, para socorrer os membros menos afortunados da comunidade. Até a propriedade “privada” da terra foi condicionada por estas práticas, que davam a não-proprietários certos direitos de uso da terra apropriada por outra pessoa. Na Inglaterra, existiram muitas dessas práticas e costumes. Era o caso das terras comunais, que podiam eventualmente ser usadas pelos membros da comunidade como pasto ou para apanhar lenha, e havia também diversos tipos de direitos concernentes às terras privadas – tais como o direito ao recolhimento dos restos da colheita em determinados períodos do ano.
Do ponto de vista dos proprietários e dos arrendatários capitalistas, a terra devia ser liberada de todo tipo de obstrução ao seu uso produtivo e lucrativo. Entre o século XVI e XVIII, houve uma pressão contínua para a extinção dos direitos costumeiros que interferiam na acumulação capitalista. Isto poderia significar muitas coisas: a disputa da propriedade comunal com vistas à apropriação privada; a eliminação de um série de direitos de uso sobre as terras privadas; ou, finalmente, problematizar o acesso à terra dos pequenos camponeses que não possuíam título de domínio inequívoco. Em todos esses casos, a concepção tradicional de propriedade precisava ser substituída por um conceito novo, o conceito capitalista de propriedade – propriedade não apenas privada, mas excludente, literalmente excluindo outros indivíduos e a comunidade, através da eliminação das regulações das aldeias e das restrições ao uso da terra, pela extinção dos usos e direitos costumeiros, e assim por diante.
Estas pressões para transformar a natureza da propriedade manifestaram-se de diversas maneiras, na teoria e na prática. Elas são detectáveis nos casos surgidos nos tribunais, nos conflitos a propósito de direitos específicos de apropriação de parcelas das terras comunais ou de alguma terra particular sobre a qual mais de uma pessoa tinha direito de uso. Nesses casos, as práticas costumeiras e a posse freqüentemente eram confrontadas com os princípios dos “melhoramentos” – e os magistrados muitas vezes davam ganho de causa às reclamações baseadas no argumento do “melhoramento”, considerando-as legítimas contra direitos costumeiros que existiam há mais tempo do que a memória alcança.
Novas concepções de propriedade estavam também sendo teorizadas mais sistematicamente, sobretudo na famosa obra de John Locke, Concerning civil government, second treatise. No capítulo 5 deste trabalho encontra-se a afirmação clássica da teoria da propriedade baseada nos princípios do “melhoramento”. Nela, a propriedade como um direito “natural” está baseada naquilo que Locke considera como o meio divino de tornar a terra produtiva e lucrativa, “melhorá-la” (improve it). A interpretação convencional da teoria da propriedade de Locke sugere que o trabalho estabelece (ou funda) o direito de propriedade, mas se lermos cuidadosamente o capítulo de Locke sobre a propriedade veremos com clareza que o que está em questão não é o trabalho enquanto tal, mas a utilização da propriedade de modo produtivo e lucrativo, seu “melhoramento”. Um proprietário (ou senhor de terra) empreendedor, disposto a realizar os “melhoramentos” fundamenta seu direito à propriedade não através de seu trabalho direto, mas através da exploração produtiva da sua terra pelo trabalho de outras pessoas. Terras sem “melhoramentos”, terra que não se torna produtiva e lucrativa (como por exemplo as terras dos indígenas nas Américas) constituem desperdício, e como tal, estabelecem o direito e até mesmo o dever daqueles decididos a “melhorá-las” a se apropriarem dela.
A mesma ética dos melhoramentos podia ser usada para justificar certos tipos de expropriação não apenas nas colônias mas na metrópole inglesa também. Isto nos traz para a mais famosa redefinição de direitos de propriedade: os cercamentos. O “enclosure” é freqüentemente visto simplesmente como a privatização e o cercamento de terras comunais, ou dos “campos abertos” caracteristicamente presentes em algumas regiões do campo inglês. Mas “enclosure” significou, mais precisamente, a extinção (com ou sem o cercamento das terras) dos direitos de uso baseados nos costumes dos quais muitas pessoas dependiam para tirar o seu sustento.
A primeira grande vaga de cercamentos ocorreu no século XVI, quando grandes senhores de terras procuraram retirar os camponeses das terras que podiam se tornar mais rentáveis se usadas para pasto como exigia a cada vez mais lucrativa criação de carneiros. Os comentaristas coevos acusavam os cercamentos, mais do que qualquer outro fator, de responsável pela crescente vaga de vagabundos, aqueles homens sem terra nem senhor que vagavam pelos campos e ameaçavam a ordem social. O mais famoso desses comentaristas, Thomas More, embora ele próprio um “cercador”, descrevia essa prática como os “carneiros que devoram os homens”. Estes críticos sociais, como muitos historiadores depois deles, podem ter superestimado os efeitos dos “enclosures”, em detrimento de outros fatores como causa da transformação das relações de propriedade inglesas. Mas eles permanecem como a expressão mais vívida do processo incansável que estava mudando não apenas o campo inglês mas o mundo: o nascimento do capitalismo.
“Enclosure” continuou sendo uma fonte de conflito na Inglaterra da Época Moderna, fosse feita para a criação de carneiros, fosse para a crescente e lucrativa agricultura de arado. Revoltas por causa dos cercamentos marcaram os séculos XVI e XVII, e os cercamentos apareceram como a maior reclamação durante a Guerra Civil Inglesa. Nas fases iniciais essa prática foi às vezes obstaculizada pelo Estado monárquico, quando mais não fosse por ser uma ameaça à ordem pública. Mas uma vez que as classes agrárias conseguiram moldar o Estado aos seus interesses – sucesso praticamente garantido depois da chamada Revolução Gloriosa de 1688 – não houve mais interferência estatal, e um novo tipo de cercamento apareceu no século XVIII, os chamados cercamentos do Parlamento. Nada testemunha com maior clareza o triunfo do capitalismo agrário.
Assim, na Inglaterra, uma sociedade na qual a riqueza ainda derivava predominantemente da produção agrícola, a auto-reprodução dos dois atores econômicos principais no setor agrícola – produtores diretos e apropriadores do excedente produzido por eles – era, pelo menos a partir do século XVI, cada vez mais dependente de práticas que podem ser consideradas capitalistas: a maximização do valor de troca por meio da redução de custos e pelo aumento da produtividade, através da especialização, acumulação e inovação.
Este modo de prover as necessidades materiais básicas da sociedade inglesa trouxe consigo toda uma nova dinâmica de crescimento auto-sustentado, um processo de acumulação e expansão muito diferente do antigo padrão cíclico que dominava a vida material em outras sociedades. Foi também acompanhado pelo processo capitalista típico de expropriação e de criação de uma massa de expropriados. É neste sentido que podemos falar de “capitalismo agrário” na Inglaterra da Época Moderna.
O capitalismo agrário era realmente capitalista?
Aqui devemos fazer uma pausa para enfatizar dois pontos importantes. Primeiro, não eram comerciantes nem “industriais” os condutores deste processo. A transformação das relações sociais de propriedade estava firmemente enraizada no campo, e a transformação do comércio e da indústria ingleses foi mais resultado do que causa da transição capitalista na Inglaterra. Os comerciantes podiam funcionar perfeitamente dentro de sistemas não capitalistas. Eles prosperaram, por exemplo, no contexto do feudalismo europeu, onde se aproveitaram não somente da autonomia das cidades mas também da fragmentação dos mercados e da oportunidade de realizar transações entre um mercado e outro.
Em segundo lugar, e ainda mais fundamentalmente, os leitores devem ter notado que o termo “capitalismo agrário” está sendo utilizado (neste texto) sem referência a trabalho assalariado, aspecto que aprendemos a considerar como a essência do capitalismo. Isto requer alguma explicação.
É preciso que se diga, primeiro, que muitos arrendatários empregavam trabalho assalariado, tanto que a “tríade” identificada por Marx e outros – a tríade de proprietários de terras vivendo da renda da terra capitalista, arrendatários capitalistas vivendo do lucro e trabalhadores vivendo de salários – tem sido vista por muitos como a característica definidora das relações agrárias na Inglaterra. E assim era – pelo menos naquelas partes do país, particularmente no leste e no sudeste, notáveis pela sua produtividade agrícola. De fato, as novas pressões econômicas, as pressões competitivas que excluíam fazendeiros improdutivos, foram um fato crucial na polarização da população agrícola em grandes proprietários de terras e trabalhadores sem terra, e na promoção da tríade agrária. E, naturalmente, as pressões pelo aumento da produtividade foram sentidas na exploração intensificada do trabalho assalariado.
Não seria, portanto, sem sentido definir o capitalismo agrário inglês em termos da tríade. Mas é importante ter presente ao espírito o fato de que as pressões competitivas e as novas “leis do movimento” que as acompanhavam dependiam numa primeira instância não da existência de uma massa proletária mas da existência de arrendatários dependentes do mercado. Trabalhadores assalariados e especialmente aqueles que dependiam inteiramente de salário, para a sua manutenção e não apenas como complementação sazonal (aquele tipo de trabalho assalariado sazonal e suplementar que tem existido desde os tempos antigos em sociedades camponesas), permaneciam em minoria na Inglaterra do século XVII.
Além do mais essas pressões competitivas se operavam não apenas nos arrendatários que empregavam trabalho assalariado mas também nos fazendeiros que – de modo típico com suas famílias – eram eles mesmos produtores diretos trabalhando sem ajuda contratada. As pessoas podiam depender do mercado – depender do mercado para as condições básicas da sua reprodução – sem estarem totalmente expropriadas dos meios de produção. Para se tornarem dependentes do mercado, era preciso apenas a perda do acesso direto (não dependente do mercado) aos meios de produção. De fato, uma vez que os imperativos do mercado estavam bem estabelecidos, até mesmo a propriedade plena não constituía uma proteção contra seus efeitos. E a dependência do mercado foi a causa e não o resultado da proletarização em massa.
Isto é importante por vários motivos – e falaremos mais adiante sobre suas mais amplas implicações. Por enquanto, o ponto importante é que a dinâmica específica do capitalismo já estava instalada na agricultura inglesa antes da proletarização da força de trabalho. De fato, essa dinâmica foi um fator decisivo na proletarização da força de trabalho na Inglaterra. O fator crucial foi a dependência dos produtores, assim como dos apropriadores, no mercado e os novos imperativos sociais criados por esta dependência.
Algumas pessoas podem hesitar em descrever essa formação social como “capitalista”, justamente porque capitalismo está, por definição, baseado na exploração do trabalho assalariado. Esta relutância é justa – contanto que reconheçamos que, independentemente do nome que se dê, a economia inglesa no início da Época Moderna, levada pela lógica do seu setor produtivo básico, a agricultura, estava operando de acordo com princípios e com “leis do movimento” diferentes daqueles que prevaleceram em qualquer outro período histórico. Essas leis do movimento foram as pré-condições – que não existiram em nenhum outro lugar – para o desenvolvimento do capitalismo maduro que seria, de fato, baseado na exploração em massa do trabalho assalariado.
Qual foi então o resultado disso tudo? Primeiro, a agricultura inglesa tornou-se mais produtiva do que qualquer outra. Em torno do final do século XVII, por exemplo, a produção de grãos e cereais tinha aumentado de modo tão notável que a Inglaterra se tornou a líder na exportação desses produtos. Esses avanços na produção foram conseguidos com uma força de trabalho relativamente pequena empregada na agricultura. É isto que quer dizer ter a agricultura mais produtiva.
Alguns historiadores puseram em dúvida a ideia mesma de capitalismo agrário, sugerindo que a “produtividade” da agricultura francesa era mais ou menos a mesma que a inglesa no século XVIII. Mas o que eles realmente querem dizer é que a produção agrícola total nos dois países era mais ou menos a mesma. O que eles desconsideram é que num país este nível de produção era atingido por uma população majoritariamente composta de camponeses, enquanto no outro país, a mesma produção global era atingida por uma força de trabalho muito inferior, numa população rural declinante. Em outras palavras, a questão aqui não é produção total mas produtividade, no sentido de produção por unidade de trabalho.
O fato demográfico sozinho explica muito. Entre 1500 e 1700, a Inglaterra teve um crescimento substancial de população – como outros países europeus. Mas o crescimento da população na Inglaterra foi diferente num aspecto essencial: a porcentagem da população urbana mais que dobrou neste período (alguns historiadores consideram que era de um pouco menos de 25% já no final do século XVII). O contraste com a França é flagrante: lá, a população rural permaneceu estável, em torno de 85 a 90% no tempo da Revolução, em 1789, e depois. Por volta de 1850, quando a população urbana da Inglaterra e do país de Gales era de mais ou menos 40,8%, a da França era ainda de 14,4% (e da Alemanha 10,8%).
A agricultura na Inglaterra, já no início da Época Moderna, era produtiva o bastante para sustentar um número excepcional de pessoas não mais engajadas na produção agrícola. Este fato, obviamente, revela mais do que a eficiência das técnicas agrícolas. Ele também indica uma revolução nas relações sociais de apropriação. Enquanto a França permanecia um país de camponeses proprietários, a terra na Inglaterra estava concentrada em muito menos mãos e a massa dos sem-propriedade estava crescendo rapidamente. Enquanto a produção agrícola na França ainda seguia as práticas camponesas tradicionais (nada parecido com a literatura inglesa sobre “melhoramentos” existia na França, e a aldeia comunitária ainda impunha suas regulações e restrições na produção, afetando até mesmos grandes proprietários), os fazendeiros ingleses estavam respondendo aos imperativos da competição e dos melhoramentos.
Vale a pena acrescentar um outro ponto a propósito do padrão demográfico distinto da Inglaterra. O crescimento extraordinário da população urbana não estava distribuído igualmente pelas cidades inglesas. Em outros lugares da Europa, o padrão típico era uma população urbana dispersa em várias cidades importantes – de tal modo que Lyon não era muito menor que Paris. Na Inglaterra, Londres se tornou desproporcionalmente grande, crescendo de mais ou menos 60.000 habitantes em torno de 1520 para 575.000 em 1700 e se tornando a maior cidade da Europa, enquanto que outras cidades inglesas eram muito menores.
Este padrão significa mais do que se pode perceber à primeira vista. Testemunha, entre outras coisas, a transformação das relações sociais de apropriação no coração do capitalismo agrário, o sul e o sudeste, e a expropriação de pequenos produtores, o deslocamento e a migração de uma população cujo destino era, tipicamente, Londres. O crescimento de Londres também representa a crescente unificação, não só do Estado mas do mercado interno. A enorme cidade era o centro do comércio inglês – não somente como o lugar de trânsito para o comércio nacional e internacional mas como o imenso consumidor dos produtos ingleses, em particular, produtos agrícolas. O crescimento de Londres, em outras palavras, representa o capitalismo inglês emergente, com seu mercado integrado – cada vez mais um único, unificado e competitivo mercado; sua agricultura produtiva; e sua população expropriada.
As conseqüências a longo prazo destes padrões distintos devem estar bastante óbvias. Embora este não seja o lugar de explorar as conexões entre o capitalismo agrário e a subsequente transformação da Inglaterra na primeira economia “industrializada”, alguns pontos são evidentes. Sem um setor agrícola produtivo que pudesse sustentar uma importante força de trabalho não-agrícola, o primeiro capitalismo industrial do mundo provavelmente não teria aparecido. Sem o capitalismo agrário inglês, não teria havido uma massa de expropriados obrigados a vender sua força de trabalho por um salário. Sem essa força de trabalho não-agrícola expropriada, não teria havido um mercado de consumo de massa para os bens de consumo diário - como alimentos e têxteis - que lideraram o processo de industrialização na Inglaterra. E sem a sua crescente riqueza, associada às novas motivações para a expansão colonial – motivações distintas das antigas formas de aquisição territorial – o imperialismo britânico teria sido algo muito diferente da máquina de capitalismo industrial que ele se tornou. E (este é sem dúvida um ponto mais controverso) sem o capitalismo inglês provavelmente não haveria nenhum capitalismo: foram as pressões competitivas emanando da Inglaterra, especialmente a Inglaterra industrializada, que compeliram os outros países a promover seu desenvolvimento econômico no sentido capitalista.
As lições do capitalismo agrário
O que tudo isso nos ensina sobre a natureza do capitalismo ? Primeiro, lembra-nos que o capitalismo não é uma conseqüência “natural” e inevitável da natureza humana, ou mesmo de práticas sociais antigas como o comércio (“truck, barter, and exchange”). É o resultado tardio e localizado de condições históricas muito específicas. O impulso expansivo do capitalismo, a ponto de ter se tornado virtualmente universal hoje, não é uma consequência da sua conformidade com a natureza humana ou de algumas leis naturais trans-históricas, mas o produto das suas próprias leis históricas internas de movimento. E essas leis de movimento exigiram vastas transformações sociais para se iniciarem. Exigiram uma transformação nas trocas do Homem com a natureza, com vistas ao provimento das necessidades vitais básicas.
O segundo ponto é que o capitalismo foi desde o princípio uma força profundamente contraditória. Basta considerarmos os efeitos mais óbvios do capitalismo agrário inglês: por um lado, as condições para a prosperidade material não existiam em nenhuma outra parte como na Inglaterra da Época Moderna; porém, por outro lado, estas condições foram alcançadas às custas da extensa expropriação e intensa exploração. É quase dispensável acrescentar que essas novas condições também estabeleceram os fundamentos para novas e mais eficientes formas de expansão colonial e imperialismo, assim como novas necessidades para tal expansão, em busca de novos mercados e recursos.
E, depois, há os corolários dos “melhoramentos”: por um lado, produtividade e capacidade de alimentar uma vasta população; por outro lado, a subordinação de todas as considerações aos imperativos do lucro. Isto significa, entre outras coisas, que pessoas que podiam ser alimentadas são freqüentemente deixadas famintas. Na verdade, significa que existe em geral uma grande disparidade entre a capacidade produtiva do capitalismo e a qualidade de vida que proporciona. A ética dos “melhoramentos” no seu sentido original, no qual produção e lucro são indissociáveis, é também a ética da exploração, da pobreza, e do desamparo.
A ética do “melhoramento”, da produtividade visando o lucro é também, naturalmente, a ética do uso irresponsável da terra, da doença da vaca louca, e da destruição ambiental. O capitalismo nasceu no âmago da vida humana, na interação com a natureza da qual depende a própria vida. A transformação desta interação pelo capitalismo agrário revela os impulsos inerentemente destrutivos de um sistema no qual os aspectos fundamentais da existência estão sujeitos às exigências do lucro. Em outras palavras, revelam a essência secreta do capitalismo.
A expansão dos imperativos capitalistas através do mundo tem reiteradamente reproduzido alguns dos efeitos apresentados por ele no seu país de origem. O processo de expropriação, extinção dos direitos costumeiros de propriedade, a imposição dos imperativos do mercado e a destruição ambiental têm continuado. Este processo tem expandido seu alcance das relações entre classes exploradas e exploradoras às relações entre países imperialistas e países subordinados. Mais recentemente, a generalização dos imperativos do mercado tem tomado a forma, por exemplo, de obrigar (com a ajuda de agências capitalistas internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional) fazendeiros do terceiro mundo a substituir estratégias de auto-suficiência em matéria de produtos agrícolas por produção especializada para o mercado globalizado. Os efeitos calamitosos dessas mudanças serão explorados em outros artigos deste número da Monthly Review.
Mas se os efeitos destrutivos do capitalismo reproduzem-se constantemente, seus efeitos positivos não têm tido a mesma consistência. Uma vez estabelecido o capitalismo num país e uma vez tendo começado a impor os seus imperativos no resto da Europa e mais recentemente no mundo todo, seu desenvolvimento nos outros lugares não podia seguir o mesmo curso que havia seguido no seu país de origem. A existência de uma sociedade capitalista transformou daí em diante todas as outras, e a expansão subsequente dos imperativos capitalistas mudou sem cessar as condições do desenvolvimento econômico.
Chegamos a um ponto em que os efeitos destrutivos do capitalismo estão sobrepujando os ganhos materiais. Nenhum país do terceiro mundo, hoje em dia, por exemplo, pode esperar atingir até mesmo o desenvolvimento contraditório que a Inglaterra conheceu. Com as pressões da competição, acumulação e exploração impostas pelos outros sistemas capitalistas mais avançados, a tentativa de alcançar a prosperidade material, de acordo com os princípios capitalistas, cada vez mais deverá trazer com ela somente o lado negativo da contradição capitalista, a expropriação e destruição sem os benefícios materiais, ao menos para a vasta maioria.
Há também uma lição de caráter mais geral que se pode tirar da experiência inglesa de capitalismo agrário. Uma vez que os imperativos do mercado ditam os termos da reprodução social, todos os atores econômicos – tanto apropriadores quanto produtores, mesmo que mantenham a posse, ou mesmo a propriedade dos meios de produção – estão sujeitos às exigências da competição, da produtividade crescente, da acumulação de capital e da intensa exploração do trabalho.
No que concerne a este último aspecto, nem mesmo a ausência de uma divisão entre apropriadores e produtores é uma garantia de imunidade (e isto explica porque “socialismo de mercado” é uma contradição em termos): uma vez que o mercado torna-se o “disciplinador” ou o “regulador” econômico, uma vez que os atores econômicos se tornam dependentes do mercado, no que diz respeito às condições da sua própria reprodução, até mesmo trabalhadores que são donos dos seus meios de produção, individualmente ou coletivamente, serão obrigados a responder aos imperativos do mercado – competir e acumular, abandonar as empresas “não-competitivas” e seus trabalhadores, e a explorar a si mesmos.
A história do capitalismo agrário e tudo que segue mostra com clareza que, onde quer que os imperativos do mercado regulem a economia e governem a reprodução social, não há como escapar da exploração.
Ellen Meiksins Wood é coeditora da Monthly Review.