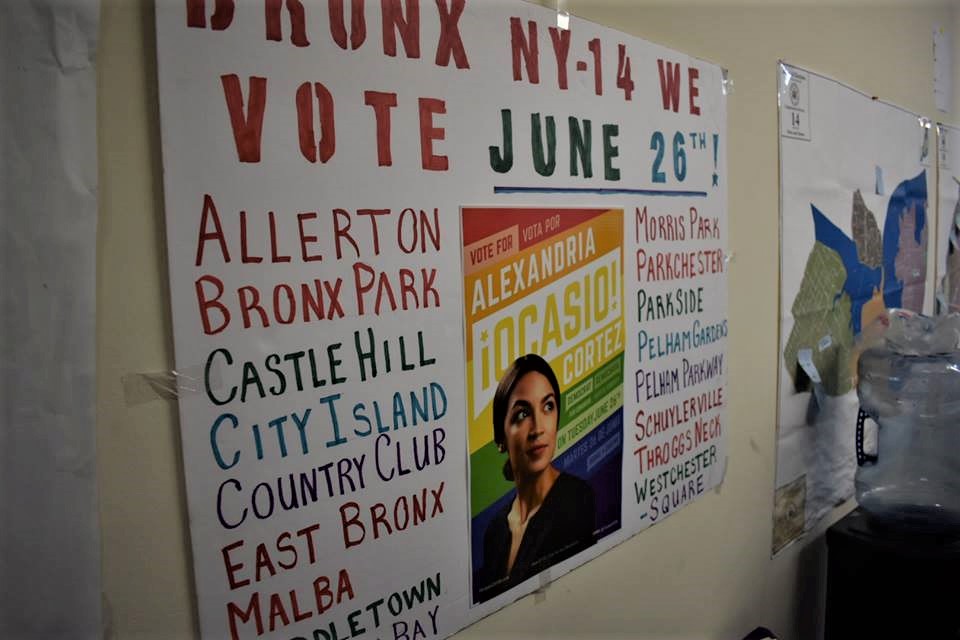Um trabalho de merda é um trabalho tão inútil que até mesmo a pessoa que o faz secretamente acredita que ele não deveria existir. E existem mais agora do que nunca.
 |
| Imagem: Public Domain Pictures. |
Tradução / Em seu livro mais recente, David Graeber, o autor do best-seller Dívida: os Primeiros 5000 Anos, argumenta que muitos empregos hoje são essencialmente inúteis – ou, como o título do livro os chama, Bullshit Jobs (Trabalhos de Merda).
Suzi Weissman, da Jacobin Radio, conversou com Graeber para descobrir o que são trabalhos de merda e por que eles proliferaram nos últimos anos.
Uma taxonomia
Suzi Weissman, da Jacobin Radio, conversou com Graeber para descobrir o que são trabalhos de merda e por que eles proliferaram nos últimos anos.
Uma taxonomia
Suzi Weissman
Vamos direto ao assunto. Qual é a definição de um trabalho de merda?
Vamos direto ao assunto. Qual é a definição de um trabalho de merda?
David Graeber
Um trabalho de merda é um trabalho tão inútil, ou mesmo pernicioso, que até a pessoa que o faz acredita secretamente que ele não deveria existir. Claro, você tem que fingir – esse é o elemento de merda, que você meio que tem que fingir que existe uma razão para esse trabalho estar aqui. Mas, secretamente, você acha que se esse trabalho não existisse, ou não faria qualquer diferença ou o mundo seria na verdade um lugar um pouco melhor.
Suzi Weissman
No livro, você começa distinguindo entre trabalhos de merda e merdas de trabalhos. Talvez devêssemos começar a fazer isso aqui agora, para depois podermos conversar sobre quais são os trabalhos de merda?
Um trabalho de merda é um trabalho tão inútil, ou mesmo pernicioso, que até a pessoa que o faz acredita secretamente que ele não deveria existir. Claro, você tem que fingir – esse é o elemento de merda, que você meio que tem que fingir que existe uma razão para esse trabalho estar aqui. Mas, secretamente, você acha que se esse trabalho não existisse, ou não faria qualquer diferença ou o mundo seria na verdade um lugar um pouco melhor.
Suzi Weissman
No livro, você começa distinguindo entre trabalhos de merda e merdas de trabalhos. Talvez devêssemos começar a fazer isso aqui agora, para depois podermos conversar sobre quais são os trabalhos de merda?
David Graeber
Sim, as pessoas costumam cometer esse erro. Quando você fala sobre trabalhos de merda, elas pensam apenas em trabalhos que são ruins, trabalhos que são degradantes, trabalhos em condições terríveis, sem benefícios e assim por diante. Mas, na verdade, a ironia é que esses trabalhos não são realmente de merda. Você sabe, se você tem um emprego ruim, é provável que ele esteja realmente fazendo algo de bom no mundo. Na verdade, quanto mais o seu trabalho beneficia outras pessoas, menos provavelmente elas pagarão a você e mais provavelmente será uma merda de trabalho nesse sentido. Então, você quase pode ver isso como uma oposição.
Sim, as pessoas costumam cometer esse erro. Quando você fala sobre trabalhos de merda, elas pensam apenas em trabalhos que são ruins, trabalhos que são degradantes, trabalhos em condições terríveis, sem benefícios e assim por diante. Mas, na verdade, a ironia é que esses trabalhos não são realmente de merda. Você sabe, se você tem um emprego ruim, é provável que ele esteja realmente fazendo algo de bom no mundo. Na verdade, quanto mais o seu trabalho beneficia outras pessoas, menos provavelmente elas pagarão a você e mais provavelmente será uma merda de trabalho nesse sentido. Então, você quase pode ver isso como uma oposição.
Por um lado, você tem trabalhos que são uma merda de trabalho, mas são realmente úteis. Se você está limpando banheiros ou algo assim, os banheiros precisam ser limpos, então pelo menos você tem a dignidade de saber que está fazendo algo que está beneficiando outras pessoas – mesmo que você não consiga muito mais que isso. E, por outro lado, você tem trabalhos onde é tratado com dignidade e respeito, recebe um bom pagamento, recebe bons benefícios, mas trabalha secretamente com o conhecimento de que seu emprego, seu trabalho, é totalmente inútil.
Suzi Weissman
Você divide seus capítulos em diferentes tipos de trabalhos de merda. Existem lacaios, paus-mandados, tapa-buracos, preenchedores de caixinhas, mestres de obras e o que eu chamo de contadores de feijão. Talvez possamos ver quais são essas categorias.
Suzi Weissman
Você divide seus capítulos em diferentes tipos de trabalhos de merda. Existem lacaios, paus-mandados, tapa-buracos, preenchedores de caixinhas, mestres de obras e o que eu chamo de contadores de feijão. Talvez possamos ver quais são essas categorias.
David Graeber
Certo. Isso veio do meu próprio trabalho, de pedir às pessoas que me enviassem testemunhos. Reuni centenas de depoimentos de pessoas que tinham trabalhos de merda. Eu perguntei às pessoas: “Qual é o trabalho mais inútil que você já teve? Conte-me tudo sobre isso; como você acha que aconteceu, qual é a dinâmica, seu chefe sabia?” Eu recebia esse tipo de informação. Fiz pequenas entrevistas com as pessoas depois, material de acompanhamento. E assim, de certa forma, criamos sistemas de categorias juntos. As pessoas me sugeriam ideias e, gradualmente, elas acabaram se reunindo em cinco categorias.
Certo. Isso veio do meu próprio trabalho, de pedir às pessoas que me enviassem testemunhos. Reuni centenas de depoimentos de pessoas que tinham trabalhos de merda. Eu perguntei às pessoas: “Qual é o trabalho mais inútil que você já teve? Conte-me tudo sobre isso; como você acha que aconteceu, qual é a dinâmica, seu chefe sabia?” Eu recebia esse tipo de informação. Fiz pequenas entrevistas com as pessoas depois, material de acompanhamento. E assim, de certa forma, criamos sistemas de categorias juntos. As pessoas me sugeriam ideias e, gradualmente, elas acabaram se reunindo em cinco categorias.
Como você disse, temos, primeiro, os lacaios. Isso é meio evidente. Um lacaio existe apenas para fazer outra pessoa parecer bem. Ou se sentir bem consigo mesmo, em alguns casos. Todos nós sabemos que tipo de trabalho eles são, mas um exemplo óbvio seria, digamos, recepcionistas em lugares que na verdade não precisam de recepcionistas. Alguns lugares obviamente precisam de recepcionistas, que estão ocupados o tempo todo. Em alguns lugares, o telefone toca talvez uma vez por dia. Mas você ainda tem que ter alguém – às vezes duas pessoas – sentado lá, com ar de importância. Então, eu não tenho que ligar para ninguém no telefone, eu terei alguém que dirá apenas: “Há um corretor muito importante que quer falar com você.” Isso é um lacaio.
Um pau-mandado é um pouco mais sutil. Mas eu meio que tive que criar essa categoria porque as pessoas sempre me diziam que achavam que seus empregos eram uma merda – se eles fossem do telemarketing, advogados corporativos, se estivessem em RP, marketing, coisas assim. Eu tive que entender por que eles se sentiam assim.
O padrão parecia ser que esses são trabalhos são realmente úteis em muitos casos para as empresas para as quais trabalham, mas eles sentiam que toda a indústria não deveria existir. Eles são basicamente pessoas que estão ali para irritar você, pressioná-lo de alguma forma. E, em termos de serem necessários, só eram necessários porque outras pessoas os têm. Você não precisa de um advogado corporativo se seu concorrente não tiver um advogado corporativo. Você não precisa de um operador de telemarketing, mas na medida em que você pode inventar uma desculpa para dizer que precisa dele, é porque os outros caras têm um. Tudo bem, isso aí é até fácil.
Tapa-buracos são pessoas que estão lá para resolver problemas que não deveriam existir em primeiro lugar. Na minha antiga universidade, a impressão era que tínhamos apenas um carpinteiro, e carpinteiros eram muito difíceis de conseguir. Um dia, a prateleira do meu escritório na universidade onde eu trabalhava na Inglaterra desabou. O carpinteiro deveria ter vindo, e havia um buraco enorme na parede, dava para ver o estrago. E ele nunca aparecia, ele sempre tinha outra coisa para fazer. Finalmente descobrimos que havia um cara sentado ali o dia todo, se desculpando pelo fato de o carpinteiro nunca ter vindo.
Ele é muito bom no trabalho, é um sujeito muito simpático, que sempre parecia um pouco triste e melancólico, e era muito difícil ficar com raiva dele, e é claro o que trabalho dele era para isso. Ele era efetivamente um sujeito que estava ali para tomar esporro. Mas aí eu pensei, se eles demitissem aquele cara e contratassem outro carpinteiro, não iam precisar mais dele. Então, esse é um exemplo clássico de tapa-buracos.
Suzi Weissman
E os preenchedores de caixinhas?
Um pau-mandado é um pouco mais sutil. Mas eu meio que tive que criar essa categoria porque as pessoas sempre me diziam que achavam que seus empregos eram uma merda – se eles fossem do telemarketing, advogados corporativos, se estivessem em RP, marketing, coisas assim. Eu tive que entender por que eles se sentiam assim.
O padrão parecia ser que esses são trabalhos são realmente úteis em muitos casos para as empresas para as quais trabalham, mas eles sentiam que toda a indústria não deveria existir. Eles são basicamente pessoas que estão ali para irritar você, pressioná-lo de alguma forma. E, em termos de serem necessários, só eram necessários porque outras pessoas os têm. Você não precisa de um advogado corporativo se seu concorrente não tiver um advogado corporativo. Você não precisa de um operador de telemarketing, mas na medida em que você pode inventar uma desculpa para dizer que precisa dele, é porque os outros caras têm um. Tudo bem, isso aí é até fácil.
Tapa-buracos são pessoas que estão lá para resolver problemas que não deveriam existir em primeiro lugar. Na minha antiga universidade, a impressão era que tínhamos apenas um carpinteiro, e carpinteiros eram muito difíceis de conseguir. Um dia, a prateleira do meu escritório na universidade onde eu trabalhava na Inglaterra desabou. O carpinteiro deveria ter vindo, e havia um buraco enorme na parede, dava para ver o estrago. E ele nunca aparecia, ele sempre tinha outra coisa para fazer. Finalmente descobrimos que havia um cara sentado ali o dia todo, se desculpando pelo fato de o carpinteiro nunca ter vindo.
Ele é muito bom no trabalho, é um sujeito muito simpático, que sempre parecia um pouco triste e melancólico, e era muito difícil ficar com raiva dele, e é claro o que trabalho dele era para isso. Ele era efetivamente um sujeito que estava ali para tomar esporro. Mas aí eu pensei, se eles demitissem aquele cara e contratassem outro carpinteiro, não iam precisar mais dele. Então, esse é um exemplo clássico de tapa-buracos.
Suzi Weissman
E os preenchedores de caixinhas?
David Graeber
Preenchedores de caixinhas existem para permitir que uma organização diga que está fazendo algo que na verdade não está fazendo. É como uma comissão de inquérito. Se o governo fica constrangido com algum escândalo – digamos, os policiais estão atirando em muitos cidadãos negros – ou se alguém aceita suborno, há algum tipo de escândalo. Eles formam uma comissão de inquérito, fingem que não sabiam o que estava acontecendo, fingem que vão fazer algo a respeito, o que é completamente falso.
Mas as empresas também fazem isso. Elas estão sempre criando comissões. Existem centenas de milhares de pessoas em todo o mundo que trabalham com compliance em bancos, e isso é uma besteira completa. Ninguém jamais teve a intenção de seguir qualquer uma dessas leis que lhe são impostas. Seu trabalho é simplesmente aprovar todas as transações, mas é claro que não é suficiente aprovar todas as transações porque isso parece suspeito. Então você tem que inventar razões para dizer que há algumas coisas que você investigou. Existem rituais muito elaborados de fingir que se está olhando para um problema que você não está realmente olhando.
Suzi Weissman
Então você vai para o mestre de obras.
Preenchedores de caixinhas existem para permitir que uma organização diga que está fazendo algo que na verdade não está fazendo. É como uma comissão de inquérito. Se o governo fica constrangido com algum escândalo – digamos, os policiais estão atirando em muitos cidadãos negros – ou se alguém aceita suborno, há algum tipo de escândalo. Eles formam uma comissão de inquérito, fingem que não sabiam o que estava acontecendo, fingem que vão fazer algo a respeito, o que é completamente falso.
Mas as empresas também fazem isso. Elas estão sempre criando comissões. Existem centenas de milhares de pessoas em todo o mundo que trabalham com compliance em bancos, e isso é uma besteira completa. Ninguém jamais teve a intenção de seguir qualquer uma dessas leis que lhe são impostas. Seu trabalho é simplesmente aprovar todas as transações, mas é claro que não é suficiente aprovar todas as transações porque isso parece suspeito. Então você tem que inventar razões para dizer que há algumas coisas que você investigou. Existem rituais muito elaborados de fingir que se está olhando para um problema que você não está realmente olhando.
Suzi Weissman
Então você vai para o mestre de obras.
David Graeber
Mestres de obras são as pessoas que estão lá para dar às pessoas trabalho que não é necessário, ou para supervisionar pessoas que não precisam de supervisão. Todos nós sabemos de quem estamos falando. A gerência média, é claro, é um exemplo clássico disso. Eu tinha pessoas que me diziam sem rodeios: “Sim, eu tenho um emprego de merda, estou na gerência média. Fui promovido. Eu costumava fazer o trabalho de verdade, e eles me colocaram no andar de cima e disseram para supervisionar as pessoas, fazer com que elas fizessem o trabalho. E eu sei perfeitamente bem que eles não precisam de alguém para supervisioná-los ou obrigá-los a fazer isso. Mas eu tenho que inventar alguma desculpa para existir de qualquer maneira.” Então, eventualmente, em uma situação como essa, você diz: “Tudo bem, bem, vamos apresentar estatísticas de destino, para que eu possa provar que você está realmente fazendo o que eu já sei que você está fazendo, para que eu possa sugerir que eu fui o cara que fez você fazer isso.”
Mestres de obras são as pessoas que estão lá para dar às pessoas trabalho que não é necessário, ou para supervisionar pessoas que não precisam de supervisão. Todos nós sabemos de quem estamos falando. A gerência média, é claro, é um exemplo clássico disso. Eu tinha pessoas que me diziam sem rodeios: “Sim, eu tenho um emprego de merda, estou na gerência média. Fui promovido. Eu costumava fazer o trabalho de verdade, e eles me colocaram no andar de cima e disseram para supervisionar as pessoas, fazer com que elas fizessem o trabalho. E eu sei perfeitamente bem que eles não precisam de alguém para supervisioná-los ou obrigá-los a fazer isso. Mas eu tenho que inventar alguma desculpa para existir de qualquer maneira.” Então, eventualmente, em uma situação como essa, você diz: “Tudo bem, bem, vamos apresentar estatísticas de destino, para que eu possa provar que você está realmente fazendo o que eu já sei que você está fazendo, para que eu possa sugerir que eu fui o cara que fez você fazer isso.”
Na verdade, você pede que as pessoas preencham uma série de formulários, de forma que elas gastam menos tempo fazendo o trabalho. Isso acontece cada vez mais em todo o mundo, mas nos EUA alguém fez algum estudo estatístico e descobriu que acho que algo como 39 por cento do tempo médio que um funcionário de escritório deveria estar trabalhando, ele está de fato trabalhando em seu emprego. Cada vez mais, são e-mails administrativos, reuniões inúteis, todos os tipos de preenchimento de formulários e papelada, basicamente.
Inchaço administrativo
Inchaço administrativo
Suzi Weissman
No pensamento radical ou marxista, existe o conceito de trabalho produtivo e improdutivo. Eu me pergunto como a categoria do trabalho de merda se conecta à ideia de trabalho ou emprego improdutivos.
No pensamento radical ou marxista, existe o conceito de trabalho produtivo e improdutivo. Eu me pergunto como a categoria do trabalho de merda se conecta à ideia de trabalho ou emprego improdutivos.
David Graeber
É diferente. Porque produtivo e improdutivo significa a existência de produção de mais-valia para os capitalistas. Essa é uma pergunta bem diferente. É uma avaliação subjetiva do valor social do trabalho pelas pessoas que o executam.
Por um lado, as pessoas meio que aceitam a ideia de que o mercado determina o valor. Isso é verdade na maioria dos países agora. Você quase nunca ouve pessoas no varejo ou em serviços dizendo: “Eu vendo bastões para selfies, por que as pessoas querem bastões para selfies? Isso é burrice, as pessoas são imbecis.” Elas não dizem isso. Elas não dizem: “Por que você precisa gastar cinco dólares em uma xícara de café?” Então, as pessoas em trabalhos de serviços não acham que têm trabalhos de merda, em quase nenhum caso. Eles aceitam que se há um mercado para algo, as pessoas querem. Quem sou eu
É diferente. Porque produtivo e improdutivo significa a existência de produção de mais-valia para os capitalistas. Essa é uma pergunta bem diferente. É uma avaliação subjetiva do valor social do trabalho pelas pessoas que o executam.
Por um lado, as pessoas meio que aceitam a ideia de que o mercado determina o valor. Isso é verdade na maioria dos países agora. Você quase nunca ouve pessoas no varejo ou em serviços dizendo: “Eu vendo bastões para selfies, por que as pessoas querem bastões para selfies? Isso é burrice, as pessoas são imbecis.” Elas não dizem isso. Elas não dizem: “Por que você precisa gastar cinco dólares em uma xícara de café?” Então, as pessoas em trabalhos de serviços não acham que têm trabalhos de merda, em quase nenhum caso. Eles aceitam que se há um mercado para algo, as pessoas querem. Quem sou eu
para julgar? Eles compram a lógica do capitalismo nesse grau.
No entanto, eles olham para o mercado de trabalho e dizem: “Espere aí, eu recebo 40 mil dólares por ano para sentar e fazer memes de gatos o dia todo e talvez atender um telefonema, isso não pode estar certo.” Portanto, o mercado nem sempre está certo; claramente o mercado de trabalho não funciona de forma economicamente racional. Existe uma contradição. Eles têm que apresentar outro sistema, um sistema tácito de valor, que é muito diferente da relação produtivo/improdutivo para o capitalismo.
Suzi Weissman
Como o aumento desses trabalhos de merda se relaciona com o que consideramos trabalhos produtivos?
No entanto, eles olham para o mercado de trabalho e dizem: “Espere aí, eu recebo 40 mil dólares por ano para sentar e fazer memes de gatos o dia todo e talvez atender um telefonema, isso não pode estar certo.” Portanto, o mercado nem sempre está certo; claramente o mercado de trabalho não funciona de forma economicamente racional. Existe uma contradição. Eles têm que apresentar outro sistema, um sistema tácito de valor, que é muito diferente da relação produtivo/improdutivo para o capitalismo.
Suzi Weissman
Como o aumento desses trabalhos de merda se relaciona com o que consideramos trabalhos produtivos?
David Graeber
Bem, isso é muito interessante. Temos uma narrativa da ascensão da economia de serviços. Você sabe, desde os anos oitenta, estamos abandonando a manufatura. Da forma como é apresentado, nas estatísticas econômicas, parece que a mão-de-obra agrícola em grande parte desapareceu, a mão-de-obra industrial diminuiu – não tanto quanto as pessoas parecem pensar, mas diminuiu – e os serviços estão em alta.
Mas isso também ocorre porque eles dividem os serviços para incluir cargos de escritório, gerenciais, de supervisão e administrativos. Se você os diferenciar, se olhar para os serviços nesse sentido, para as pessoas que estão cortando seu cabelo ou servindo sua comida – bem, na verdade, o serviço permaneceu praticamente estável em 25% da força de trabalho nos últimos 150 anos. Não mudou em nada. O que realmente mudou foi essa explosão gigantesca de burocratas de papel, e esse é o setor de trabalhos de merda.
Suzi Weissman
Você chama isso de burocracia, setor administrativo, setor de gerência média.
Suzi Weissman
Você chama isso de burocracia, setor administrativo, setor de gerência média.
David Graeber
Exatamente. É um setor onde o público e o privado se fundem. Na verdade, uma área para a proliferação maciça desses trabalhos é exatamente onde não está claro o que é público e o que é privado: a interface, onde privatizam os serviços públicos, onde o governo está detendo o avanço dos bancos.
Exatamente. É um setor onde o público e o privado se fundem. Na verdade, uma área para a proliferação maciça desses trabalhos é exatamente onde não está claro o que é público e o que é privado: a interface, onde privatizam os serviços públicos, onde o governo está detendo o avanço dos bancos.
A seção bancária é uma loucura. Há um cara com quem eu começo o livro, na verdade. Eu o chamo de Kurt, não sei seu nome verdadeiro. Ele trabalha para um subempreiteiro de um subempreiteiro para um subempreiteiro do exército alemão. Basicamente, há um soldado alemão que deseja mover seu computador de um escritório para outro. Ele tem que fazer um pedido a alguém para ligar para alguém para ligar para alguém – isso passa por três empresas diferentes. Por fim, ele tem que dirigir 500 quilômetros num carro alugado, preencher os formulários, colocar na embalagem, transportar, outra pessoa desempacota, e ele assina outro formulário e vai embora. Esse é o sistema mais ineficiente que você poderia imaginar, mas tudo é criado por essa interface entre as coisas público-privadas, que supostamente tornaria as coisas mais eficientes.
Suzi Weissman
Grande parte do ethos, como você assinala, dos tempos Thatcher-Reagan, é que o governo é sempre o problema e o governo é onde estão todos esses trabalhos. Então, foi um ataque ao setor público. Ao passo que você mostra que muito disso vem do setor privado, dessa burocratização. A necessidade de maximizar lucros e cortar custos – que é o que pensamos em termos de capitalismo e do estresse da competição – não milita contra a criação desses trabalhos inúteis no setor privado?
Suzi Weissman
Grande parte do ethos, como você assinala, dos tempos Thatcher-Reagan, é que o governo é sempre o problema e o governo é onde estão todos esses trabalhos. Então, foi um ataque ao setor público. Ao passo que você mostra que muito disso vem do setor privado, dessa burocratização. A necessidade de maximizar lucros e cortar custos – que é o que pensamos em termos de capitalismo e do estresse da competição – não milita contra a criação desses trabalhos inúteis no setor privado?
David Graeber
Seria de imaginar que sim, mas parte da razão pela qual isso não acontece é que, quando imaginamos o capitalismo, ainda estamos imaginando um monte de empresas de médio porte engajadas na manufatura e no comércio, e competindo umas com as outras. Não é bem assim que a paisagem se parece hoje em dia, especialmente no setor FIRE.
Seria de imaginar que sim, mas parte da razão pela qual isso não acontece é que, quando imaginamos o capitalismo, ainda estamos imaginando um monte de empresas de médio porte engajadas na manufatura e no comércio, e competindo umas com as outras. Não é bem assim que a paisagem se parece hoje em dia, especialmente no setor FIRE.
Além disso, se você olhar para o que as pessoas realmente fazem, há toda essa ideologia de enxuto e eficiente. Se você é um CEO, é elogiado por quantas pessoas pode demitir, reduzir e acelerar. Os caras que estão sendo reduzidos e acelerados são os operários, os produtivos, os sujeitos que estão realmente fazendo as coisas, movendo-as, mantendo-as, fazendo o trabalho de verdade. Se eu sou UPS, os motoristas estão sendo taylorizados constantemente.
No entanto, você não faz isso com os caras que estão nos escritórios. Acontece exatamente o contrário. Dentro da corporação, há todo esse processo de construção de impérios, por meio do qual diferentes gerentes competem entre si, principalmente para ver quantas pessoas trabalham sob seu comando. Eles não têm nenhum incentivo para se livrar das pessoas.
Você tem esses caras, equipes de pessoas, cujo trabalho todo consiste em escrever os relatórios que executivos importantes apresentam em grandes reuniões. Grandes reuniões são como o equivalente a justas feudais, ou os rituais elevados do mundo corporativo. Você entra lá e tem todo esse equipamento, e tem tudo isso, seus pontos de energia, seus relatórios e assim por diante. Portanto, há equipes inteiras que estão lá apenas para dizer: “Eu faço as ilustrações para os relatórios desse cara” e “Eu faço os gráficos” e “Eu tabulo os dados e mantenho o banco de dados”.
Ninguém nunca lê esses relatórios, eles estão lá apenas para dar uma olhada. É o equivalente a um senhor feudal – tenho um cara cujo trabalho é apenas aparar meu bigode e outro cara que está polindo meus estribos e assim por diante. Só para mostrar que eu posso fazer isso.
No entanto, você não faz isso com os caras que estão nos escritórios. Acontece exatamente o contrário. Dentro da corporação, há todo esse processo de construção de impérios, por meio do qual diferentes gerentes competem entre si, principalmente para ver quantas pessoas trabalham sob seu comando. Eles não têm nenhum incentivo para se livrar das pessoas.
Você tem esses caras, equipes de pessoas, cujo trabalho todo consiste em escrever os relatórios que executivos importantes apresentam em grandes reuniões. Grandes reuniões são como o equivalente a justas feudais, ou os rituais elevados do mundo corporativo. Você entra lá e tem todo esse equipamento, e tem tudo isso, seus pontos de energia, seus relatórios e assim por diante. Portanto, há equipes inteiras que estão lá apenas para dizer: “Eu faço as ilustrações para os relatórios desse cara” e “Eu faço os gráficos” e “Eu tabulo os dados e mantenho o banco de dados”.
Ninguém nunca lê esses relatórios, eles estão lá apenas para dar uma olhada. É o equivalente a um senhor feudal – tenho um cara cujo trabalho é apenas aparar meu bigode e outro cara que está polindo meus estribos e assim por diante. Só para mostrar que eu posso fazer isso.
Suzi Weissman
Você também vê um paralelo com o aumento dos trabalhos de merda, que é o aumento dos trabalhos que não são de merda. Você os chama de trabalhos de cuidar ou prestar cuidados. Pode descrever esses trabalhos? Por que há um aumento nesses trabalhos, e em que setores eles estão?
Você também vê um paralelo com o aumento dos trabalhos de merda, que é o aumento dos trabalhos que não são de merda. Você os chama de trabalhos de cuidar ou prestar cuidados. Pode descrever esses trabalhos? Por que há um aumento nesses trabalhos, e em que setores eles estão?
David Graeber
Estou pegando o conceito em grande parte da teoria feminista. Eu acho que é muito importante, porque a ideia tradicional de trabalho, eu acho, é muito teológica e patriarcal. Temos essa ideia de produção. Vem com a ideia de que o trabalho deve ser doloroso, é o castigo que Deus infligiu a nós, mas também é uma imitação de Deus. Quer seja Prometeu ou seja a Bíblia, os humanos se rebelam contra Deus, e Deus diz: “Ah, você quer meu poder? Tudo bem: você pode criar o mundo, mas será terrível, você vai sofrer para fazer isso.”
Estou pegando o conceito em grande parte da teoria feminista. Eu acho que é muito importante, porque a ideia tradicional de trabalho, eu acho, é muito teológica e patriarcal. Temos essa ideia de produção. Vem com a ideia de que o trabalho deve ser doloroso, é o castigo que Deus infligiu a nós, mas também é uma imitação de Deus. Quer seja Prometeu ou seja a Bíblia, os humanos se rebelam contra Deus, e Deus diz: “Ah, você quer meu poder? Tudo bem: você pode criar o mundo, mas será terrível, você vai sofrer para fazer isso.”
Mas também é visto como um negócio essencialmente masculino: as mulheres dão à luz e os homens produzem coisas, é a ideologia. Claro, isso torna todo o trabalho real que as mulheres fazem, de manter o mundo, invisível. Essa ideia de produção, que está no cerne das teorias do movimento operário do século XIX, a teoria do valor-trabalho – é um pouco enganosa.
Você pergunta a qualquer marxista sobre trabalho e valor-trabalho, eles sempre vão imediatamente para a produção. Bem, aqui está uma xícara. Alguém tem que fazer a xícara, é verdade. Mas fazemos um copo uma vez e lavamos dez mil vezes, certo? Esse trabalho simplesmente desaparece por completo na maioria desses relatos. A maior parte do trabalho não é produzir coisas, é mantê-las iguais, é mantê-las, cuidar delas, mas também cuidar de pessoas, cuidar de plantas e animais.
Houve um debate, se não me engano, em Londres sobre os trabalhadores do metrô. Eles estavam fechando todas as bilheterias do metrô de Londres. Muitos marxistas disseram: “Ah, você sabe, de certa forma esse é provavelmente um trabalho de merda, porque você realmente não precisaria de compradores de ingressos no comunismo pleno, o transporte seria gratuito, então talvez não devêssemos defender esses trabalhos.” Lembro-me de pensar que havia algo um tanto superficial ali.
E então eu vi um documento que foi na verdade publicado pelos grevistas, onde eles diziam: “Boa sorte no novo metrô de Londres sem ninguém trabalhando na estação de metrô. Vamos torcer para que seu filho não se perca, vamos torcer para que você não perca suas coisas, vamos torcer para que não haja acidentes. Vamos torcer para que ninguém surte e tenha um ataque de ansiedade ou fique bêbado e comece a assediar você.”
Eles examinam a lista de todas as coisas diferentes que eles realmente fazem. Você percebe que mesmo muitos desses trabalhos clássicos da classe operária são realmente uma mão de obra de cuidado, é sobre cuidar das pessoas. Mas você não pensa nisso, você não percebe isso. É muito mais como uma enfermeira do que como um operário.
Além da merda
Você pergunta a qualquer marxista sobre trabalho e valor-trabalho, eles sempre vão imediatamente para a produção. Bem, aqui está uma xícara. Alguém tem que fazer a xícara, é verdade. Mas fazemos um copo uma vez e lavamos dez mil vezes, certo? Esse trabalho simplesmente desaparece por completo na maioria desses relatos. A maior parte do trabalho não é produzir coisas, é mantê-las iguais, é mantê-las, cuidar delas, mas também cuidar de pessoas, cuidar de plantas e animais.
Houve um debate, se não me engano, em Londres sobre os trabalhadores do metrô. Eles estavam fechando todas as bilheterias do metrô de Londres. Muitos marxistas disseram: “Ah, você sabe, de certa forma esse é provavelmente um trabalho de merda, porque você realmente não precisaria de compradores de ingressos no comunismo pleno, o transporte seria gratuito, então talvez não devêssemos defender esses trabalhos.” Lembro-me de pensar que havia algo um tanto superficial ali.
E então eu vi um documento que foi na verdade publicado pelos grevistas, onde eles diziam: “Boa sorte no novo metrô de Londres sem ninguém trabalhando na estação de metrô. Vamos torcer para que seu filho não se perca, vamos torcer para que você não perca suas coisas, vamos torcer para que não haja acidentes. Vamos torcer para que ninguém surte e tenha um ataque de ansiedade ou fique bêbado e comece a assediar você.”
Eles examinam a lista de todas as coisas diferentes que eles realmente fazem. Você percebe que mesmo muitos desses trabalhos clássicos da classe operária são realmente uma mão de obra de cuidado, é sobre cuidar das pessoas. Mas você não pensa nisso, você não percebe isso. É muito mais como uma enfermeira do que como um operário.
Além da merda
Suzi Weissman
Uma das coisas que você diz em seu livro é que você pensou que o Occupy poderia ser o início da rebelião da classe assistencial.
Uma das coisas que você diz em seu livro é que você pensou que o Occupy poderia ser o início da rebelião da classe assistencial.
David Graeber
Havia uma página no Tumblr chamada “Somos os 99%”, e era para pessoas que estavam ocupadas demais trabalhando para realmente tomar parte nas ocupações de forma contínua. A ideia era que você pudesse escrever uma pequena placa onde falasse sobre a sua situação de vida e porque apoia o movimento. Sempre terminaria, “Eu sou o 99%.” Teve uma grande resposta; milhares e milhares de pessoas fizeram isso.
Quando eu analisei isso, percebi que quase todos eles estavam no setor de assistência em algum sentido. Mesmo que não fossem, os temas pareciam ser muito semelhantes. Eles estavam basicamente dizendo: “Olha, eu queria um emprego onde pelo menos não estivesse machucando ninguém. Realmente, onde eu estivesse fazendo algum tipo de benefício para a humanidade, eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, eu queria cuidar dos outros, eu queria beneficiar a sociedade”. Mas se você acabar na saúde ou na educação, no serviço social, fazendo algo onde você cuida de outras pessoas, eles vão te pagar tão pouco, e vão te deixar tão endividado, que você não consegue nem cuidar de sua própria família. Isso é totalmente injusto.
Foi aquele sentimento de injustiça fundamental que acho que realmente impulsionou o movimento mais do que qualquer outra coisa. Percebi que eles criam esses empregos fictícios, onde basicamente você está lá para fazer os executivos se sentirem bem consigo mesmos. Eles têm que inventar trabalho para outras pessoas fazerem. Na educação, na saúde, isso é incrivelmente realçado. Você vê isso o tempo todo. Frequentemente, os enfermeiros passam metade do tempo preenchendo papelada. Professores, professores do ensino fundamental, pessoas como eu – não é tão ruim no ensino superior quanto se você estiver ensinando na quinta série, mas ainda é ruim.
Suzi Weissman
Todos nós sonhamos com esta sociedade que nos liberta de um trabalho destruidor, para que possamos perseguir nossas paixões e nossos sonhos e cuidar uns dos outros. Então, é apenas uma questão política? É algo que a RBI, renda básica universal, poderia resolver?
Havia uma página no Tumblr chamada “Somos os 99%”, e era para pessoas que estavam ocupadas demais trabalhando para realmente tomar parte nas ocupações de forma contínua. A ideia era que você pudesse escrever uma pequena placa onde falasse sobre a sua situação de vida e porque apoia o movimento. Sempre terminaria, “Eu sou o 99%.” Teve uma grande resposta; milhares e milhares de pessoas fizeram isso.
Quando eu analisei isso, percebi que quase todos eles estavam no setor de assistência em algum sentido. Mesmo que não fossem, os temas pareciam ser muito semelhantes. Eles estavam basicamente dizendo: “Olha, eu queria um emprego onde pelo menos não estivesse machucando ninguém. Realmente, onde eu estivesse fazendo algum tipo de benefício para a humanidade, eu queria ajudar as pessoas de alguma forma, eu queria cuidar dos outros, eu queria beneficiar a sociedade”. Mas se você acabar na saúde ou na educação, no serviço social, fazendo algo onde você cuida de outras pessoas, eles vão te pagar tão pouco, e vão te deixar tão endividado, que você não consegue nem cuidar de sua própria família. Isso é totalmente injusto.
Foi aquele sentimento de injustiça fundamental que acho que realmente impulsionou o movimento mais do que qualquer outra coisa. Percebi que eles criam esses empregos fictícios, onde basicamente você está lá para fazer os executivos se sentirem bem consigo mesmos. Eles têm que inventar trabalho para outras pessoas fazerem. Na educação, na saúde, isso é incrivelmente realçado. Você vê isso o tempo todo. Frequentemente, os enfermeiros passam metade do tempo preenchendo papelada. Professores, professores do ensino fundamental, pessoas como eu – não é tão ruim no ensino superior quanto se você estiver ensinando na quinta série, mas ainda é ruim.
Suzi Weissman
Todos nós sonhamos com esta sociedade que nos liberta de um trabalho destruidor, para que possamos perseguir nossas paixões e nossos sonhos e cuidar uns dos outros. Então, é apenas uma questão política? É algo que a RBI, renda básica universal, poderia resolver?
David Graeber
Bem, acho que seria uma demanda de transição, faz sentido para mim. Em algum lugar, Marx realmente sugeriu que não há nada de errado com as reformas, desde que sejam reformas que amenizem um problema, mas criem outro problema, que só pode ser resolvido por reformas ainda mais radicais. Se você fizer isso continuamente, pode eventualmente chegar ao comunismo, disse ele. Mas ele é um pouco otimista demais.
Bem, acho que seria uma demanda de transição, faz sentido para mim. Em algum lugar, Marx realmente sugeriu que não há nada de errado com as reformas, desde que sejam reformas que amenizem um problema, mas criem outro problema, que só pode ser resolvido por reformas ainda mais radicais. Se você fizer isso continuamente, pode eventualmente chegar ao comunismo, disse ele. Mas ele é um pouco otimista demais.
Sabe, sou anarquista, não quero criar uma solução estatizante. Uma solução que torne o estado menor, mas ao mesmo tempo melhore as condições e torne as pessoas mais livres para desafiar o sistema, não vai encontrar muita argumentação da minha parte. E é isso que eu gosto na RBI.
Não quero uma solução que crie mais trabalhos de merda. Uma garantia de emprego parece algo bom, mas, como sabemos pela história, tende a criar pessoas pintando pedras de branco ou fazendo outras coisas que não precisam necessariamente ser feitas. Também requer uma administração gigante para administrar isso. Muitas vezes parece que são as pessoas com as sensibilidades da classe profissional-gerencial que preferem esse tipo de solução.
Ao passo que a renda básica universal significa dar a todos o suficiente para que possam sobreviver; depois disso, cabe a você. (Refiro-me às versões radicais, obviamente; não sou a favor da versão de Elon Musk.) A ideia é separar trabalho e compensação, de certa maneira. Se você existe, você merece um meio de vida. Você poderia chamar isso de liberdade na esfera econômica. Eu posso decidir como quero contribuir para a sociedade.
Uma das coisas que é muito importante sobre o estudo que fiz sobre trabalhos de merda é como as pessoas são miseráveis. Isso realmente transpareceu nos relatos. Em teoria, você está recebendo algo por nada, você está sentado aqui sendo pago para fazer quase nada, em muitos casos. Mas isso simplesmente destrói as pessoas. Há depressão, ansiedade, todas essas doenças psicossomáticas, locais de trabalho terríveis e comportamento tóxico, agravados pelo fato de que as pessoas não conseguem entender por que tem motivos justos para estar tão chateadas.
Porque, sabe, por que estou reclamando? Se eu reclamar com alguém, eles vão dizer: “Pô, você está ganhando algo por nada e ainda está reclamando?” Mas isso mostra que nossa ideia básica da natureza humana, que é inculcada em todos pela economia, por exemplo – que todos nós estamos tentando obter a maior recompensa com o mínimo de esforço – não é realmente verdade. As pessoas querem contribuir com o mundo de alguma forma. Então, isso mostra que se você dá às pessoas uma renda básica, elas não vão sentar e assistir TV, o que é uma das objeções.
A outra objeção, claro, é que, talvez eles queiram contribuir com a sociedade, mas eles vão fazer algo estúpido, para que a sociedade fique cheia de poetas ruins e músicos de rua irritantes, mímicos de rua por toda parte, gente desenvolvendo seus dispositivos de movimento perpétuo de manivela e outras bugigangas. Tenho certeza de que haverá um pouco disso, mas veja: se 40 por cento das pessoas já pensam que seus trabalhos são completamente inúteis, como pode ser pior do que já é? Pelo menos eles ficarão muito mais felizes fazendo essas coisas do que preenchendo formulários o dia todo.
Não quero uma solução que crie mais trabalhos de merda. Uma garantia de emprego parece algo bom, mas, como sabemos pela história, tende a criar pessoas pintando pedras de branco ou fazendo outras coisas que não precisam necessariamente ser feitas. Também requer uma administração gigante para administrar isso. Muitas vezes parece que são as pessoas com as sensibilidades da classe profissional-gerencial que preferem esse tipo de solução.
Ao passo que a renda básica universal significa dar a todos o suficiente para que possam sobreviver; depois disso, cabe a você. (Refiro-me às versões radicais, obviamente; não sou a favor da versão de Elon Musk.) A ideia é separar trabalho e compensação, de certa maneira. Se você existe, você merece um meio de vida. Você poderia chamar isso de liberdade na esfera econômica. Eu posso decidir como quero contribuir para a sociedade.
Uma das coisas que é muito importante sobre o estudo que fiz sobre trabalhos de merda é como as pessoas são miseráveis. Isso realmente transpareceu nos relatos. Em teoria, você está recebendo algo por nada, você está sentado aqui sendo pago para fazer quase nada, em muitos casos. Mas isso simplesmente destrói as pessoas. Há depressão, ansiedade, todas essas doenças psicossomáticas, locais de trabalho terríveis e comportamento tóxico, agravados pelo fato de que as pessoas não conseguem entender por que tem motivos justos para estar tão chateadas.
Porque, sabe, por que estou reclamando? Se eu reclamar com alguém, eles vão dizer: “Pô, você está ganhando algo por nada e ainda está reclamando?” Mas isso mostra que nossa ideia básica da natureza humana, que é inculcada em todos pela economia, por exemplo – que todos nós estamos tentando obter a maior recompensa com o mínimo de esforço – não é realmente verdade. As pessoas querem contribuir com o mundo de alguma forma. Então, isso mostra que se você dá às pessoas uma renda básica, elas não vão sentar e assistir TV, o que é uma das objeções.
A outra objeção, claro, é que, talvez eles queiram contribuir com a sociedade, mas eles vão fazer algo estúpido, para que a sociedade fique cheia de poetas ruins e músicos de rua irritantes, mímicos de rua por toda parte, gente desenvolvendo seus dispositivos de movimento perpétuo de manivela e outras bugigangas. Tenho certeza de que haverá um pouco disso, mas veja: se 40 por cento das pessoas já pensam que seus trabalhos são completamente inúteis, como pode ser pior do que já é? Pelo menos eles ficarão muito mais felizes fazendo essas coisas do que preenchendo formulários o dia todo.
Sobre o autor
David Graeber foi um professor de antropologia na London School of Economics. Ele é o autor de vários livros, incluindo Bullshit Jobs: A Theory e Debt: The First 5000 Years.
Suzi Weissman é a autora de "Victor Serge: A Political Biography".