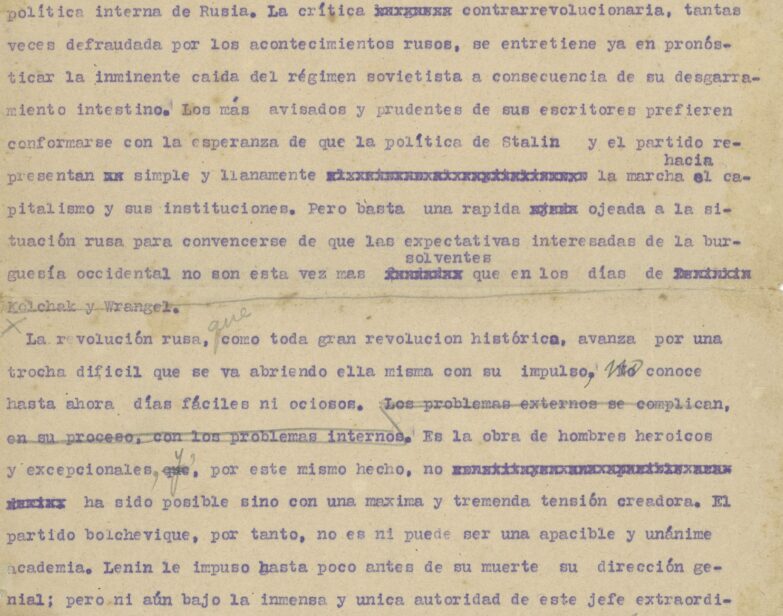|
| O legado intelectual de Rodinson é de particular importância para a esquerda hoje. (Rob Mieremet/Anefo) |
Tradução / Maxime Rodinson foi um dos maiores especialistas internacionais da região, no mundo árabe e no Islã, com uma reputação mundial entre os estudiosos desta área. Nascido em 26 de janeiro de 1915 em Paris, ele morreu em Marseille com a idade de 89 anos, em 2004.
O historiador francês deixou para trás uma bibliografia de mais de mil obras, incluindo cerca de 20 livros autorais, 6 dos quais foram traduzidos para o inglês, e várias coleções de ensaios. Seus temas variaram desde a Arábia do século VII até os estados e movimentos do Oriente Médio moderno.
Esse legado intelectual é de particular importância para a esquerda hoje porque Rodinson procurou explicar os principais desenvolvimentos políticos e sociais nas sociedades árabes com a ajuda de conceitos marxistas, aplicados com um espírito criativo e não dogmático.
Rodinson não foi um acadêmico destacado. Sua contribuição mais influente pode ter sido seu relato politicamente engajado sobre as origens e a trajetória de Israel em livros como Israel: Um Estado Colonial? e Israel e os árabes. Muitas pessoas que nunca ouviram falar de Rodinson, no entanto, conhecem sem saber sua avaliação crítica do sionismo, que ele combinou com uma visão clara das falhas do nacionalismo árabe.
Essa foi apenas uma parte do trabalho de Rodinson. Seus livros e ensaios são ferramentas inestimáveis para qualquer um que queira compreender as sociedades do Oriente Médio, do passado até o presente. Aqui vai uma introdução aos principais sinais políticos e intelectuais da longa e notável carreira de Rodinson.
Uma vida contra a maré
Os pais de Rodinson, humildes alfaiates socialistas de origem judaica, fugiram dos pogroms da Rússia no final do século XIX para se estabelecerem na França, onde aderiram ao Partido Comunista (PCF) em 1920. Aos 13 anos de idade, armado apenas com um certificado de conclusão da escola primária, Rodinson tornou-se um moço de recados e aprendeu sozinho, esperanto, inglês, grego e latim.
Ele devorava os livros que pegava emprestados e procurava os conselhos dos professores sempre que podia. Aos 17 anos, ele passou no exame de admissão para a École Nationale des Langues Orientales Vivantes em Paris. Quatro anos depois, formou-se em ge’ez, amárico, árabe clássico, árabe oriental, árabe norte-africano e turco.
Em 1937, Rodinson recebeu uma bolsa de estudos do Conselho Nacional de Pesquisa – no mesmo ano que ele entrou para o PCF. Como ele lembrou mais tarde, o PCF tinha uma cultura fortemente “operária”, e ele se sentia muito mais próximo dos membros da classe trabalhadora do partido do que dos intelectuais de famílias burguesas: “Pelo menos assim eu acreditava. Mas os ‘intelectuais de tempo integral’, no entanto, me consideravam um intelectual, um portador de todos os vícios inerentes à categoria.”
Rodinson deixou a França logo após a Segunda Guerra Mundial ter começado para trabalhar na Síria e no Líbano. Foi seu domínio do árabe que lhe permitiu escapar da deportação para os campos sob a ocupação nazista. Muitos de seus parentes não foram tão afortunados, inclusive seus pais, que morreram enquanto eram transportados para Auschwitz em 1943.
Durante seus anos no Oriente Médio, Rodinson lecionou em uma escola secundária e colaborou com a Missão Arqueológica da França Livre. Foi lá que ele começou seu estudo sobre o Islã a partir de uma perspectiva materialista. De volta a Paris, em 1948, tornou-se chefe do Departamento de Publicações Orientais da Biblioteca Nacional e depois diretor de estudos na École Pratique des Hautes Études.
Ao longo de sua carreira docente, Rodinson avançou para se tornar professor de etíope clássico e sul arábico, e finalmente professor de Etnografia Histórica do Oriente Próximo. Ele inspirou muitos alunos e, em 1971, ele supervisionou simultaneamente mais de 70 teses de doutorado.
Rodinson permaneceu membro do PCF até sua expulsão do partido em 1958 por mostrar uma linha de pensamento cada vez mais independente, especialmente após o “discurso secreto” do líder soviético Nikita Khrushchev em 1956, que denunciou alguns dos abusos do governo de Stálin. Em 1981, ele escreveu uma longa e intransigente autocrítica de seu período stalinista, explicando que agora via Stalin como um “tirano sádico” responsável por crimes terríveis, enquanto insistia na sinceridade de muitos militantes comunistas da época, que haviam acreditado que estavam lutando por um mundo melhor.
O historiador disse que ele não aceitaria “a condenação farisaica” de figuras que apoiavam as injustiças do status quo. Entretanto, Rodinson declarou seu respeito por aqueles militantes cujo entendimento do stalinismo havia sido mais lúcido do que o seu na época: “Aceito apenas as lições daqueles que se mostraram mais lúcidos ao dirigir melhor sua indignação e rebeldia.”
O marxismo criativo
Rodinson foi acima de tudo um pesquisador de campo dedicado aos “exercícios concretos de investigação” (coleta e análise de fontes e leitura crítica). Ele guardava sua independência de espírito. Quando tive a oportunidade de falar longamente com ele no final dos anos 70, ele confidenciou que não se considerava mais um marxista, talvez ecoando o famoso comentário de Karl Marx de que ele não era um “marxista” pelos padrões de alguns discípulos autoproclamado em seu próprio tempo.
Rodinson foi em todo caso um dos primeiros “marxistas” do pós-guerra a defender uma abordagem da história baseada na análise de formações sociais concretas. De sua perspectiva, o modo de produção dominante certamente determinava a realidade social, mas os subordinados também poderiam influenciá-la. Além disso, as “superestruturas” políticas e ideológicas de sociedades não eram rigidamente determinadas por suas “bases” econômicas, como as formas mais rigorosas da teoria marxista a querem. Estas ideias ajudaram a tirar o marxismo do impasse estéril no qual o dogma stalinista o havia aprisionado.
Sendo “modestamente” capaz, como ele disse, de ler cerca de 30 línguas, Rodinson odiava as fronteiras nacionais tanto quanto as fronteiras disciplinares. Ele era ao mesmo tempo um linguista, um historiador, um antropólogo e um sociólogo. Como especialista em línguas semitas, ele também se interessava pelo mundo turco, Ásia Central e Etiópia, islamismo e judaísmo, sionismo, Israel e a questão palestina, assim como classes sociais, economia, grupos étnicos e racismo, medicina, culinária, feitiçaria, magia, mitos e os rituais.
Suas duas obras mais importantes, Muhammad, publicada em 1961, e Islã e capitalismo, de 1966, marcaram um ponto de virada na historiografia do mundo muçulmano, avançando uma análise materialista de sua evolução e recusando-se a dar à religião um status privilegiado. Rodinson descartou “a concepção idealista da religião como um conjunto de ideias flutuando sobre as realidades terrestres e animando constantemente o espírito e as ações de todos os seus seguidores” – uma concepção que foi (e continua sendo) especialmente prevalecente na discussão das sociedades muçulmanas:
“Existe um fosso considerável entre o Islã, como veio a ser, e a inspiração original. Não fosse assim, como se poderia explicar os apelos ao ihya [renascimento] e ao tajdid [renovação] que se repetem ao longo da história do Islã? Esta dinâmica se aplica a todas as religiões. De fato, ela é mais ou menos válida para todas as ideologias e movimentos ideológicos, incluindo o marxismo!”
Em 1972, ele publicou o Marxismo e o Mundo Muçulmano. Esta coleção de artigos, conferências e ensaios escritos entre 1958 e 1972, e atualizados pelo autor para publicação, trata das formações sociais e ideologias dos Estados de maioria muçulmana. Ele também escreveu Os Árabes, 1979, uma monografia que tenta ilustrar o retrato antropológico, sociológico, histórico e político de um povo em sua infinita diversidade, juntamente com o livro Europa e a Mística do Islã, de 1980, que traça a evolução das perspectivas ocidentais sobre o mundo muçulmano desde os primeiros encontros até a era moderna.
Muhammad em carne e sangue
A biografia de Rodinson sobre o profeta do Islã marcou uma partida no pensamento de seu tempo, na medida em que apresentou aos leitores um homem de carne e osso. O livro descrevia Muhammad fisicamente como se ele estivesse diante de nós: “Ele era de altura média, com uma cabeça grande, mas um rosto que não era nem redondo nem gordo. Seu cabelo era ligeiramente encaracolado e seus olhos eram grandes, pretos e bem abertos sob longas pestanas”.
Rodinson baseou sua análise materialista da tradição muçulmana em particular em duas obras originais sobre a vida de Muhammad em Meca e Medina publicadas nos anos 50 pelo historiador britânico William Montgomery Watt. Na época, a historiografia ocidental aceitava este ponto de vista em suas linhas gerais. Desde o final dos anos 70, alguns estudiosos proeminentes, como John Wansbrough, Michael Cook e Patricia Crone, têm submetido esse material a fortes críticas.
Estas figuras retratam a “pré-história” do Islã como um movimento messiânico que reunia judeus e cristãos e que levou à conquista árabe. Seu trabalho datou a escrita do Alcorão de um período com cerca de dois séculos depois, e até questionou o papel de Muhammad e Meca no nascimento do Islã.
No entanto, pesquisas recentes não fornecem um apoio substancial para um revisionismo histórico tão radical. Pelo contrário, ela tende a confirmar que o Alcorão teve origem na Arábia Central, e que a maior parte de seu conteúdo data do século VII, embora provavelmente tenha havido revisões textuais em uma etapa posterior.
Em 1972, a restauração da Grande Mesquita do Sanaa no Iêmen descobriu um palimpsesto provavelmente datado do final do século VII, que continha cerca da metade do Alcorão. Um professor alemão aposentado revelou então no início dos anos 90 a existência de um arquivo fotográfico essencial de fragmentos do antigo Alcorão que acreditava-se ter desaparecido nos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Esta descoberta deu um novo impulso à pesquisa sobre as origens do Alcorão.
Ao ler hoje a biografia de Rodinson sobre Muhammad, é preciso ter em mente estas controvérsias. Ela permanece amplamente compatível com o trabalho mais atual, particularmente o de Fred M. Donner ou Angelika Neuwirth.
Orientalismo e subdesenvolvimento
Islã e capitalismo, publicado em 1966, foi sem dúvida o livro de Rodinson que gerou os debates mais apaixonados. Sua tese central fez eco nos debates dos anos 60 sobre as principais causas do subdesenvolvimento, particularmente no mundo muçulmano. Para Rodinson, o Islã não havia impedido o crescimento econômico, seja por meio de suas instituições ou de suas práticas seculares.
Aqueles que argumentam o contrário apontaram um fator doutrinário central que eles acreditavam ter inibido o desenvolvimento do capitalismo nos países muçulmanos, a saber, a proibição de empréstimos remunerados. De acordo com a pesquisa de Rodinson, esta regra tinha sido, na prática, amplamente contornada por meios legais. O Islã sempre defendeu a propriedade privada e o enriquecimento individual desde que os ricos fossem caridosos e prestassem ajuda aos órfãos ou aos pobres.
Seguindo o caminho de investigação aberto por Rodinson, historiadores como Jairus Banaji procuraram mostrar que o Islã medieval, de fato, fez a ponte entre o próspero comércio da antiguidade tardia e o das cidades-estado italianas, Portugal e Holanda centenas de anos mais tarde. Este papel de ponte envolveu práticas comerciais, inovações legais e instituições.
A partir do século XIX, a Europa Ocidental e os Estados Unidos passaram a dominar a economia mundial. Para Rodinson, o status hegemônico desses poderes explicava porque o capital comercial nas sociedades muçulmanas, que existiam em quantidades substanciais, não podia produzir uma forma autossustentável de capitalismo industrial.
A espetacular tentativa de industrialização do Egito na primeira metade do século XIX dá apoio a sua argumentação. Nos anos 1830, o país teve uma das indústrias modernas mais desenvolvidas do mundo, especialmente em setores como a fiação e a tecelagem do algodão. Entretanto, uma poderosa intervenção diplomática e militar da Grã-Bretanha e de outras potências ocidentais encurtou esta experiência na década de 1840.
O Islã e o capitalismo mostram a importância do raciocínio do Alcorão, numa época em que os fundadores do Islã estavam envolvidos em um diálogo com a sociedade árabe do século VII. Esta forma de pensar se desenvolveu em resposta à ascensão do comércio e das finanças. A instigação do Alcorão para pensar, confrontar ideias e se engajar em um esforço intelectual para encontrar a verdade decorre da necessidade de promover uma compreensão mais universal do mundo.
Será que o Alcorão realmente defende o fatalismo, uma passividade contrária ao espírito empreendedor, como muitos estudiosos têm sugerido? Suponhamos que o destino do ser humano depende de Deus, o criador de todas as coisas, o onisciente. Se este é o caso, então a ideia de predestinação no Islã (como em outras religiões) não contradiz o chamado à ação, já que a agência humana é em si mesma um produto da vontade de Deus. A palavra jihad não se refere apenas à guerra santa, mas, sobretudo, ao esforço para melhorar a si mesmo e a sociedade.
“Exclusividade possessiva”
Rodinson foi um daqueles pensadores que acreditava que a busca da verdade através de métodos científicos é uma prerrogativa universal da humanidade, assim como a crítica às ideologias que impedem seu desenvolvimento. Ele apreciou o trabalho de Edward Said, Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente, publicado em 1978, que se tornou um texto extremamente influente nas humanidades:
No Islã e capitalismo, Rodinson já havia escrito uma nota cautelosa sobre a forma que o Islã político provavelmente assumiria, nadando contra a corrente do que ele considerava ser um terceiro mundo ingenuamente otimista:
Rodinson prestou especial atenção a estes desenvolvimentos, olhando para a carreira do militante político do Tatar Mir Sayit Sultan-Galiev. Sultan-Galiev foi um porta-voz dentro do Partido Bolchevique para as exigências nacionais e religiosas dos muçulmanos russos:
Ele via a sociedade muçulmana, com exceção de alguns grandes proprietários feudais e burgueses, como uma unidade que tinha sido oprimida coletivamente pelos russos sob o czarismo. Portanto, não fazia sentido dividi-la com diferenças criadas artificialmente e lutas de classes… de fato, a revolução socialista deveria se adaptar a uma sociedade tão impregnada de tradições muçulmanas. O próprio Sultão-Galiev, ateu, recomendava, portanto, que o Islã fosse tratado suavemente, através de uma gradual “desfanatização” e secularização.
Lenin apoiou o Sultão-Galiev, mas mais tarde ele se chocou com a liderança soviética. Sob o governo de Stalin, ele foi preso e acabou sendo baleado. Rodinson viu o revolucionário tártaro como o homem que primeiro reconheceu a importância da questão nacional nos países coloniais, e “a relevância internacional para o socialismo daqueles movimentos nacionais que não contemplam imediatamente uma completa guerra de classes e socialização”.
Rodinson acreditava que era possível prever um “islamismo de libertação” na mesma linha da Teologia de Libertação cristã da América Latina. Isto poderia acontecer enquanto o portador de tal tendência fosse um movimento popular cuja liderança iria romper conscientemente com a longa tradição de colaboração dos ulemá com a classe dominante e o poder estatal.
Com isto em mente, Rodinson criticou Amar Ouzegane, um dos fundadores do Partido Comunista Argelino. Em sua opinião, Ouzegane certamente estava certo em reconhecer os sentimentos religiosos generalizados que o movimento nacionalista mobilizou contra o colonialismo francês em seu livro Le Meilleur Combat (O Melhor Combate) de 1962. No entanto, Rodinson se opôs ao apoio de Ouzegane às autoridades muçulmanas tradicionais na Argélia. Ele advertiu que estes clérigos defenderiam inevitavelmente os interesses das novas classes dominantes argelinas após a independência, assim como os valores sociais reacionários.
Em uma entrevista de 1986 para o marxista libanês Gilbert Achcar, Rodinson lembrou uma viagem que havia feito à Argélia em 1965, quando o primeiro presidente do país, Ahmed Ben Bella, estava “fazendo tentativas cautelosas para promover a igualdade das mulheres”:
As sementes que Rodinson detectou no rescaldo da independência argelina floresceram plenamente após a Revolução Iraniana de 1978-79 com a consolidação do regime fundamentalista xiita do Ayatollah Khomeini. Como o movimento revolucionário iraniano vinha se desenvolvendo nos dois anos anteriores, alguns intelectuais ocidentais de esquerda o saudaram com uma mistura de entusiasmo e fascínio. Eram tanto mais entusiasmados quanto tinham visto as esperanças políticas dos anos sessenta revolucionários se tornarem amargas em outros lugares.
Rodinson viu imediatamente os perigos de uma reação ingênua e mal informada. Em três artigos publicados em dezembro de 1978 para o Le Monde, ele descreveu o fundamentalismo islâmico como uma espécie de “fascismo arcaico” baseado na “vontade de estabelecer um Estado autoritário e totalitário cuja polícia política manteria ferozmente a ordem moral e social”, ao mesmo tempo em que impunha “a conformidade com as normas da tradição religiosa interpretada no sentido mais conservador”.
Os partidários de Khomeini eram de duas variedades, acreditava Rodinson: alguns atribuíam importância primordial à “renovação da fé” por meios artificiais e coercivos, enquanto outros a viam como um “suplemento psicológico” que facilitaria uma “reforma social retrógrada”. Em fevereiro de 1979, no jornal francês Le Nouvel Observateur, ele ofereceu um comentário irônico sobre o entusiasmo de Michel Foucault pelo que estava acontecendo no Irã sob a liderança de Khomeini:
O historiador francês deixou para trás uma bibliografia de mais de mil obras, incluindo cerca de 20 livros autorais, 6 dos quais foram traduzidos para o inglês, e várias coleções de ensaios. Seus temas variaram desde a Arábia do século VII até os estados e movimentos do Oriente Médio moderno.
Esse legado intelectual é de particular importância para a esquerda hoje porque Rodinson procurou explicar os principais desenvolvimentos políticos e sociais nas sociedades árabes com a ajuda de conceitos marxistas, aplicados com um espírito criativo e não dogmático.
Rodinson não foi um acadêmico destacado. Sua contribuição mais influente pode ter sido seu relato politicamente engajado sobre as origens e a trajetória de Israel em livros como Israel: Um Estado Colonial? e Israel e os árabes. Muitas pessoas que nunca ouviram falar de Rodinson, no entanto, conhecem sem saber sua avaliação crítica do sionismo, que ele combinou com uma visão clara das falhas do nacionalismo árabe.
Essa foi apenas uma parte do trabalho de Rodinson. Seus livros e ensaios são ferramentas inestimáveis para qualquer um que queira compreender as sociedades do Oriente Médio, do passado até o presente. Aqui vai uma introdução aos principais sinais políticos e intelectuais da longa e notável carreira de Rodinson.
Uma vida contra a maré
Os pais de Rodinson, humildes alfaiates socialistas de origem judaica, fugiram dos pogroms da Rússia no final do século XIX para se estabelecerem na França, onde aderiram ao Partido Comunista (PCF) em 1920. Aos 13 anos de idade, armado apenas com um certificado de conclusão da escola primária, Rodinson tornou-se um moço de recados e aprendeu sozinho, esperanto, inglês, grego e latim.
Ele devorava os livros que pegava emprestados e procurava os conselhos dos professores sempre que podia. Aos 17 anos, ele passou no exame de admissão para a École Nationale des Langues Orientales Vivantes em Paris. Quatro anos depois, formou-se em ge’ez, amárico, árabe clássico, árabe oriental, árabe norte-africano e turco.
Em 1937, Rodinson recebeu uma bolsa de estudos do Conselho Nacional de Pesquisa – no mesmo ano que ele entrou para o PCF. Como ele lembrou mais tarde, o PCF tinha uma cultura fortemente “operária”, e ele se sentia muito mais próximo dos membros da classe trabalhadora do partido do que dos intelectuais de famílias burguesas: “Pelo menos assim eu acreditava. Mas os ‘intelectuais de tempo integral’, no entanto, me consideravam um intelectual, um portador de todos os vícios inerentes à categoria.”
Rodinson deixou a França logo após a Segunda Guerra Mundial ter começado para trabalhar na Síria e no Líbano. Foi seu domínio do árabe que lhe permitiu escapar da deportação para os campos sob a ocupação nazista. Muitos de seus parentes não foram tão afortunados, inclusive seus pais, que morreram enquanto eram transportados para Auschwitz em 1943.
Durante seus anos no Oriente Médio, Rodinson lecionou em uma escola secundária e colaborou com a Missão Arqueológica da França Livre. Foi lá que ele começou seu estudo sobre o Islã a partir de uma perspectiva materialista. De volta a Paris, em 1948, tornou-se chefe do Departamento de Publicações Orientais da Biblioteca Nacional e depois diretor de estudos na École Pratique des Hautes Études.
Ao longo de sua carreira docente, Rodinson avançou para se tornar professor de etíope clássico e sul arábico, e finalmente professor de Etnografia Histórica do Oriente Próximo. Ele inspirou muitos alunos e, em 1971, ele supervisionou simultaneamente mais de 70 teses de doutorado.
Rodinson permaneceu membro do PCF até sua expulsão do partido em 1958 por mostrar uma linha de pensamento cada vez mais independente, especialmente após o “discurso secreto” do líder soviético Nikita Khrushchev em 1956, que denunciou alguns dos abusos do governo de Stálin. Em 1981, ele escreveu uma longa e intransigente autocrítica de seu período stalinista, explicando que agora via Stalin como um “tirano sádico” responsável por crimes terríveis, enquanto insistia na sinceridade de muitos militantes comunistas da época, que haviam acreditado que estavam lutando por um mundo melhor.
O historiador disse que ele não aceitaria “a condenação farisaica” de figuras que apoiavam as injustiças do status quo. Entretanto, Rodinson declarou seu respeito por aqueles militantes cujo entendimento do stalinismo havia sido mais lúcido do que o seu na época: “Aceito apenas as lições daqueles que se mostraram mais lúcidos ao dirigir melhor sua indignação e rebeldia.”
O marxismo criativo
Rodinson foi acima de tudo um pesquisador de campo dedicado aos “exercícios concretos de investigação” (coleta e análise de fontes e leitura crítica). Ele guardava sua independência de espírito. Quando tive a oportunidade de falar longamente com ele no final dos anos 70, ele confidenciou que não se considerava mais um marxista, talvez ecoando o famoso comentário de Karl Marx de que ele não era um “marxista” pelos padrões de alguns discípulos autoproclamado em seu próprio tempo.
Rodinson foi em todo caso um dos primeiros “marxistas” do pós-guerra a defender uma abordagem da história baseada na análise de formações sociais concretas. De sua perspectiva, o modo de produção dominante certamente determinava a realidade social, mas os subordinados também poderiam influenciá-la. Além disso, as “superestruturas” políticas e ideológicas de sociedades não eram rigidamente determinadas por suas “bases” econômicas, como as formas mais rigorosas da teoria marxista a querem. Estas ideias ajudaram a tirar o marxismo do impasse estéril no qual o dogma stalinista o havia aprisionado.
Sendo “modestamente” capaz, como ele disse, de ler cerca de 30 línguas, Rodinson odiava as fronteiras nacionais tanto quanto as fronteiras disciplinares. Ele era ao mesmo tempo um linguista, um historiador, um antropólogo e um sociólogo. Como especialista em línguas semitas, ele também se interessava pelo mundo turco, Ásia Central e Etiópia, islamismo e judaísmo, sionismo, Israel e a questão palestina, assim como classes sociais, economia, grupos étnicos e racismo, medicina, culinária, feitiçaria, magia, mitos e os rituais.
Suas duas obras mais importantes, Muhammad, publicada em 1961, e Islã e capitalismo, de 1966, marcaram um ponto de virada na historiografia do mundo muçulmano, avançando uma análise materialista de sua evolução e recusando-se a dar à religião um status privilegiado. Rodinson descartou “a concepção idealista da religião como um conjunto de ideias flutuando sobre as realidades terrestres e animando constantemente o espírito e as ações de todos os seus seguidores” – uma concepção que foi (e continua sendo) especialmente prevalecente na discussão das sociedades muçulmanas:
“Existe um fosso considerável entre o Islã, como veio a ser, e a inspiração original. Não fosse assim, como se poderia explicar os apelos ao ihya [renascimento] e ao tajdid [renovação] que se repetem ao longo da história do Islã? Esta dinâmica se aplica a todas as religiões. De fato, ela é mais ou menos válida para todas as ideologias e movimentos ideológicos, incluindo o marxismo!”
Em 1972, ele publicou o Marxismo e o Mundo Muçulmano. Esta coleção de artigos, conferências e ensaios escritos entre 1958 e 1972, e atualizados pelo autor para publicação, trata das formações sociais e ideologias dos Estados de maioria muçulmana. Ele também escreveu Os Árabes, 1979, uma monografia que tenta ilustrar o retrato antropológico, sociológico, histórico e político de um povo em sua infinita diversidade, juntamente com o livro Europa e a Mística do Islã, de 1980, que traça a evolução das perspectivas ocidentais sobre o mundo muçulmano desde os primeiros encontros até a era moderna.
Muhammad em carne e sangue
A biografia de Rodinson sobre o profeta do Islã marcou uma partida no pensamento de seu tempo, na medida em que apresentou aos leitores um homem de carne e osso. O livro descrevia Muhammad fisicamente como se ele estivesse diante de nós: “Ele era de altura média, com uma cabeça grande, mas um rosto que não era nem redondo nem gordo. Seu cabelo era ligeiramente encaracolado e seus olhos eram grandes, pretos e bem abertos sob longas pestanas”.
O autor passou a oferecer um retrato psicológico de Muhammad:
“Ele não estava contente. A felicidade, com suas limitações, sua aceitação calma ou ansiosa, não é feita para aqueles que estão sempre olhando além do que são e do que têm, cujo espírito de busca está sempre alcançando as próximas coisas a serem desejadas. E uma infância pobre, carente, órfã como a de Maomé, estava destinada a fomentar o crescimento desta capacidade infinita de desejo. Somente o sucesso em uma escala extraordinária, pode-se até dizer sobrenatural, poderia satisfazê-lo.”
Rodinson tentou dar uma explicação materialista ao nascimento do Islã em um lugar e em uma época em que e quando ideias bíblicas e caravanas mercantes se cruzavam. Em 610, quando fez 40 anos, Muhammad começou a recitar as mensagens que ele acreditava que Deus lhe havia ditado, dando a luz ao Alcorão. Este novo credo alegou reunir verdadeiros monoteístas, revisitando e transcendendo as tradições judaicas e cristãs e fornecendo uma identidade espiritual compartilhada a todos os árabes através de suas barreiras tribais.
Em 622, tendo anteriormente forçado o novo profeta ao exílio em Medina, a aristocracia de Meca se mobilizou em torno de sua liderança. Muhammad e seus sucessores lideraram um poderoso exército de beduínos na conquista do Oriente Médio, do Norte da África e da Espanha. Ao mesmo tempo, porém, o Islã permaneceu ligado a sua posição original igualitária, muitas vezes impedindo o poder absoluto dos Califas, os líderes Emir e Sultões que vieram depois.
No capítulo final do livro, Rodinson rejeitou o tipo de “determinismo primitivo” às vezes associado ao marxismo, segundo o qual “se Muhammad nunca tivesse nascido, a situação teria se chamado outro Muhammad”. Esta era uma clara alusão ao filósofo marxista russo George Plekhanov, cujo influente ensaio “Sobre o papel do indivíduo na história” tinha feito a mesma afirmação sobre Napoleão.
Para Rodinson, o curso dos acontecimentos históricos não podia ser explicado de forma tão clara:
Em 622, tendo anteriormente forçado o novo profeta ao exílio em Medina, a aristocracia de Meca se mobilizou em torno de sua liderança. Muhammad e seus sucessores lideraram um poderoso exército de beduínos na conquista do Oriente Médio, do Norte da África e da Espanha. Ao mesmo tempo, porém, o Islã permaneceu ligado a sua posição original igualitária, muitas vezes impedindo o poder absoluto dos Califas, os líderes Emir e Sultões que vieram depois.
No capítulo final do livro, Rodinson rejeitou o tipo de “determinismo primitivo” às vezes associado ao marxismo, segundo o qual “se Muhammad nunca tivesse nascido, a situação teria se chamado outro Muhammad”. Esta era uma clara alusão ao filósofo marxista russo George Plekhanov, cujo influente ensaio “Sobre o papel do indivíduo na história” tinha feito a mesma afirmação sobre Napoleão.
Para Rodinson, o curso dos acontecimentos históricos não podia ser explicado de forma tão clara:
“Um Maomé diferente, vinte anos depois, talvez tivesse encontrado o Império Bizantino consolidado, pronto para combater com sucesso os ataques das tribos do deserto. A Arábia poderia ter sido convertida ao cristianismo. A situação exigia soluções para uma série de problemas cruciais, como vimos; mas essas soluções poderiam facilmente ter sido diferentes daquelas que realmente ocorreram. Um lançamento diferente dos dados e do acaso toma outro rumo.”
Novas controvérsias
Rodinson baseou sua análise materialista da tradição muçulmana em particular em duas obras originais sobre a vida de Muhammad em Meca e Medina publicadas nos anos 50 pelo historiador britânico William Montgomery Watt. Na época, a historiografia ocidental aceitava este ponto de vista em suas linhas gerais. Desde o final dos anos 70, alguns estudiosos proeminentes, como John Wansbrough, Michael Cook e Patricia Crone, têm submetido esse material a fortes críticas.
Estas figuras retratam a “pré-história” do Islã como um movimento messiânico que reunia judeus e cristãos e que levou à conquista árabe. Seu trabalho datou a escrita do Alcorão de um período com cerca de dois séculos depois, e até questionou o papel de Muhammad e Meca no nascimento do Islã.
No entanto, pesquisas recentes não fornecem um apoio substancial para um revisionismo histórico tão radical. Pelo contrário, ela tende a confirmar que o Alcorão teve origem na Arábia Central, e que a maior parte de seu conteúdo data do século VII, embora provavelmente tenha havido revisões textuais em uma etapa posterior.
Em 1972, a restauração da Grande Mesquita do Sanaa no Iêmen descobriu um palimpsesto provavelmente datado do final do século VII, que continha cerca da metade do Alcorão. Um professor alemão aposentado revelou então no início dos anos 90 a existência de um arquivo fotográfico essencial de fragmentos do antigo Alcorão que acreditava-se ter desaparecido nos bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Esta descoberta deu um novo impulso à pesquisa sobre as origens do Alcorão.
Ao ler hoje a biografia de Rodinson sobre Muhammad, é preciso ter em mente estas controvérsias. Ela permanece amplamente compatível com o trabalho mais atual, particularmente o de Fred M. Donner ou Angelika Neuwirth.
Orientalismo e subdesenvolvimento
Islã e capitalismo, publicado em 1966, foi sem dúvida o livro de Rodinson que gerou os debates mais apaixonados. Sua tese central fez eco nos debates dos anos 60 sobre as principais causas do subdesenvolvimento, particularmente no mundo muçulmano. Para Rodinson, o Islã não havia impedido o crescimento econômico, seja por meio de suas instituições ou de suas práticas seculares.
Aqueles que argumentam o contrário apontaram um fator doutrinário central que eles acreditavam ter inibido o desenvolvimento do capitalismo nos países muçulmanos, a saber, a proibição de empréstimos remunerados. De acordo com a pesquisa de Rodinson, esta regra tinha sido, na prática, amplamente contornada por meios legais. O Islã sempre defendeu a propriedade privada e o enriquecimento individual desde que os ricos fossem caridosos e prestassem ajuda aos órfãos ou aos pobres.
Seguindo o caminho de investigação aberto por Rodinson, historiadores como Jairus Banaji procuraram mostrar que o Islã medieval, de fato, fez a ponte entre o próspero comércio da antiguidade tardia e o das cidades-estado italianas, Portugal e Holanda centenas de anos mais tarde. Este papel de ponte envolveu práticas comerciais, inovações legais e instituições.
A partir do século XIX, a Europa Ocidental e os Estados Unidos passaram a dominar a economia mundial. Para Rodinson, o status hegemônico desses poderes explicava porque o capital comercial nas sociedades muçulmanas, que existiam em quantidades substanciais, não podia produzir uma forma autossustentável de capitalismo industrial.
A espetacular tentativa de industrialização do Egito na primeira metade do século XIX dá apoio a sua argumentação. Nos anos 1830, o país teve uma das indústrias modernas mais desenvolvidas do mundo, especialmente em setores como a fiação e a tecelagem do algodão. Entretanto, uma poderosa intervenção diplomática e militar da Grã-Bretanha e de outras potências ocidentais encurtou esta experiência na década de 1840.
O Islã e o capitalismo mostram a importância do raciocínio do Alcorão, numa época em que os fundadores do Islã estavam envolvidos em um diálogo com a sociedade árabe do século VII. Esta forma de pensar se desenvolveu em resposta à ascensão do comércio e das finanças. A instigação do Alcorão para pensar, confrontar ideias e se engajar em um esforço intelectual para encontrar a verdade decorre da necessidade de promover uma compreensão mais universal do mundo.
Será que o Alcorão realmente defende o fatalismo, uma passividade contrária ao espírito empreendedor, como muitos estudiosos têm sugerido? Suponhamos que o destino do ser humano depende de Deus, o criador de todas as coisas, o onisciente. Se este é o caso, então a ideia de predestinação no Islã (como em outras religiões) não contradiz o chamado à ação, já que a agência humana é em si mesma um produto da vontade de Deus. A palavra jihad não se refere apenas à guerra santa, mas, sobretudo, ao esforço para melhorar a si mesmo e a sociedade.
“Exclusividade possessiva”
Rodinson foi um daqueles pensadores que acreditava que a busca da verdade através de métodos científicos é uma prerrogativa universal da humanidade, assim como a crítica às ideologias que impedem seu desenvolvimento. Ele apreciou o trabalho de Edward Said, Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente, publicado em 1978, que se tornou um texto extremamente influente nas humanidades:
“Seu grande mérito, a meu ver, foi sacudir a auto-satisfação de muitos orientalistas, apelar para eles (com questionável sucesso), considerar as fontes e as conexões de suas ideias, deixar de vê-las como uma conclusão natural, sem preconceitos, dos fatos.”
No entanto, Rodinson expressou algumas críticas sobre o método de Said. Plenamente consciente dos preconceitos coloniais de muitos pesquisadores europeus em relação ao Oriente, ele estava, no entanto, desconfiado de uma abordagem que poderia levar à invalidação a priori da ciência ocidental.
Em La fascination de l’islam, de 1980, que foi traduzido para o inglês como Europa e a Mística do Islã, ele expôs explicitamente essas preocupações. Na opinião de Rodinson, embora fosse importante reconhecer e desafiar o efeito de distorção do colonialismo tanto na escolha dos dados quanto em sua interpretação pelos estudiosos, isto não deveria significar a adoção do conceito de “duas ciências”.
Ele estava se referindo a uma ideia promovida pelo tenente Andrei Zhdanov de Stalin no final dos anos 40. Zhdanovismo submeteu a sociedade soviética a uma verdadeira inquisição ao dividir os campos da ciência e da cultura em duas categorias, “proletário” e “burguês”, rejeitando a ideia de investigação acadêmica objetiva e dando aos comissários do partido o direito de julgar a linha correta, mesmo em campos como a biologia e a física.
Em um artigo de 1985, “Orientalismo Reconsiderado”, Said insistiu que as críticas de Rodinson a sua abordagem eram infundadas. Entretanto, ele retomou uma advertência formulada por Myra Jehlen a partir de uma perspectiva feminista, abordando a questão de “se, ao identificar e trabalhar através de críticas antidominantes, os grupos subalternos – mulheres, negros e assim por diante – podem resolver o dilema dos campos autônomos de experiência e conhecimento que são criados como consequência”.
Segundo Said, aqueles que trabalham em tais campos teriam que se precaver contra uma dupla tentação:
Em La fascination de l’islam, de 1980, que foi traduzido para o inglês como Europa e a Mística do Islã, ele expôs explicitamente essas preocupações. Na opinião de Rodinson, embora fosse importante reconhecer e desafiar o efeito de distorção do colonialismo tanto na escolha dos dados quanto em sua interpretação pelos estudiosos, isto não deveria significar a adoção do conceito de “duas ciências”.
Ele estava se referindo a uma ideia promovida pelo tenente Andrei Zhdanov de Stalin no final dos anos 40. Zhdanovismo submeteu a sociedade soviética a uma verdadeira inquisição ao dividir os campos da ciência e da cultura em duas categorias, “proletário” e “burguês”, rejeitando a ideia de investigação acadêmica objetiva e dando aos comissários do partido o direito de julgar a linha correta, mesmo em campos como a biologia e a física.
Em um artigo de 1985, “Orientalismo Reconsiderado”, Said insistiu que as críticas de Rodinson a sua abordagem eram infundadas. Entretanto, ele retomou uma advertência formulada por Myra Jehlen a partir de uma perspectiva feminista, abordando a questão de “se, ao identificar e trabalhar através de críticas antidominantes, os grupos subalternos – mulheres, negros e assim por diante – podem resolver o dilema dos campos autônomos de experiência e conhecimento que são criados como consequência”.
Segundo Said, aqueles que trabalham em tais campos teriam que se precaver contra uma dupla tentação:
“Um duplo tipo de exclusivismo possessivo poderia se instalar: o sentido de ser um insider excludente em virtude da experiência (somente as mulheres podem escrever sobre e para as mulheres, e somente a literatura que trata bem as mulheres ou os orientais é boa literatura), e em segundo lugar, ser um insider excludente em virtude do método (somente as marxistas, anti-orientalistas e feministas podem escrever sobre economia, orientalismo, literatura feminina).”
Em todos os debates polêmicos trocados entre eles, Rodinson teria concordado com isso.
Islamismo e política
Islamismo e política
No Islã e capitalismo, Rodinson já havia escrito uma nota cautelosa sobre a forma que o Islã político provavelmente assumiria, nadando contra a corrente do que ele considerava ser um terceiro mundo ingenuamente otimista:
“Os intérpretes reacionários das escrituras gozam do benefício de toda a herança do passado, do peso de séculos de interpretação no sentido tradicional, do prestígio dessas interpretações, do hábito estabelecido de relacioná-las à religião geralmente aceita por razões que não são de modo algum religiosas. Estes fatores só poderiam ser eliminados após um radical aggiornamento da religião muçulmana.”
Aggiornamento, um termo italiano para “modernização” ou “atualização”, foi usado em 1959 pelo Papa João XXIII para descrever seu plano de renovação da Igreja Católica.
Como Rodinson explicou mais de uma vez em seus textos, “islamismo” não era um fenômeno unidimensional. O islã político poderia assumir orientações conflitantes, dependendo de quais atores sociais alegavam ser seus defensores e quais líderes políticos e intelectuais se apresentavam para articular seu programa. Não havia uma única doutrina religiosa, internamente consistente, que pudesse ser aplicada ao domínio da política.
A tradição construída em torno das ações e ditos do Profeta, seus companheiros e os primeiros Califas, compilados cerca de 150 a 200 anos depois, formou a Sharia. Enquanto este corpo de pensamento tendia a defender interesses privados privilegiados e defender a submissão total à autoridade, as exigências de um credo nascido em um contexto relativamente igualitário muitas vezes seguiram na direção oposta, oferecendo a base para a crítica social. Por outro lado, os Califas, os Emir e Sultões cujo poder autocrático havia reinado sobre o mundo islâmico a partir de meados do século VII quiseram ser os únicos juízes capacitados para ditar o rumo adequado a ser seguido pelos muçulmanos.
As religiões não são escritas em pedra pelo texto de suas escrituras fundadoras. Elas evoluem com as sociedades que as adotam, cujas classes dominantes têm uma influência decisiva em suas formas institucionais e doutrinárias. Esta cooptação de clérigos – o ulemá – pelos poderosos não é algo exclusivo do Islã, mesmo que tenha assumido uma forma particular no mundo muçulmano. As “heresias” que proclamam um retorno à “verdadeira fé” também alimentaram muitos movimentos de resistência social dentro do Islã, assim como fizeram em outras religiões.
Teologias da Libertação e da Opressão
Como Rodinson explicou mais de uma vez em seus textos, “islamismo” não era um fenômeno unidimensional. O islã político poderia assumir orientações conflitantes, dependendo de quais atores sociais alegavam ser seus defensores e quais líderes políticos e intelectuais se apresentavam para articular seu programa. Não havia uma única doutrina religiosa, internamente consistente, que pudesse ser aplicada ao domínio da política.
A tradição construída em torno das ações e ditos do Profeta, seus companheiros e os primeiros Califas, compilados cerca de 150 a 200 anos depois, formou a Sharia. Enquanto este corpo de pensamento tendia a defender interesses privados privilegiados e defender a submissão total à autoridade, as exigências de um credo nascido em um contexto relativamente igualitário muitas vezes seguiram na direção oposta, oferecendo a base para a crítica social. Por outro lado, os Califas, os Emir e Sultões cujo poder autocrático havia reinado sobre o mundo islâmico a partir de meados do século VII quiseram ser os únicos juízes capacitados para ditar o rumo adequado a ser seguido pelos muçulmanos.
As religiões não são escritas em pedra pelo texto de suas escrituras fundadoras. Elas evoluem com as sociedades que as adotam, cujas classes dominantes têm uma influência decisiva em suas formas institucionais e doutrinárias. Esta cooptação de clérigos – o ulemá – pelos poderosos não é algo exclusivo do Islã, mesmo que tenha assumido uma forma particular no mundo muçulmano. As “heresias” que proclamam um retorno à “verdadeira fé” também alimentaram muitos movimentos de resistência social dentro do Islã, assim como fizeram em outras religiões.
Teologias da Libertação e da Opressão
O Islã está condenado a ser um instrumento de políticas reacionárias? Não necessariamente, insistiu Rodinson. Sob o impacto da Revolução Russa e das lutas de libertação que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, certos setores do mundo muçulmano desenvolveram uma espécie de “Teologia de Libertação” com conotações socialistas.
Rodinson prestou especial atenção a estes desenvolvimentos, olhando para a carreira do militante político do Tatar Mir Sayit Sultan-Galiev. Sultan-Galiev foi um porta-voz dentro do Partido Bolchevique para as exigências nacionais e religiosas dos muçulmanos russos:
Ele via a sociedade muçulmana, com exceção de alguns grandes proprietários feudais e burgueses, como uma unidade que tinha sido oprimida coletivamente pelos russos sob o czarismo. Portanto, não fazia sentido dividi-la com diferenças criadas artificialmente e lutas de classes… de fato, a revolução socialista deveria se adaptar a uma sociedade tão impregnada de tradições muçulmanas. O próprio Sultão-Galiev, ateu, recomendava, portanto, que o Islã fosse tratado suavemente, através de uma gradual “desfanatização” e secularização.
Lenin apoiou o Sultão-Galiev, mas mais tarde ele se chocou com a liderança soviética. Sob o governo de Stalin, ele foi preso e acabou sendo baleado. Rodinson viu o revolucionário tártaro como o homem que primeiro reconheceu a importância da questão nacional nos países coloniais, e “a relevância internacional para o socialismo daqueles movimentos nacionais que não contemplam imediatamente uma completa guerra de classes e socialização”.
Rodinson acreditava que era possível prever um “islamismo de libertação” na mesma linha da Teologia de Libertação cristã da América Latina. Isto poderia acontecer enquanto o portador de tal tendência fosse um movimento popular cuja liderança iria romper conscientemente com a longa tradição de colaboração dos ulemá com a classe dominante e o poder estatal.
Com isto em mente, Rodinson criticou Amar Ouzegane, um dos fundadores do Partido Comunista Argelino. Em sua opinião, Ouzegane certamente estava certo em reconhecer os sentimentos religiosos generalizados que o movimento nacionalista mobilizou contra o colonialismo francês em seu livro Le Meilleur Combat (O Melhor Combate) de 1962. No entanto, Rodinson se opôs ao apoio de Ouzegane às autoridades muçulmanas tradicionais na Argélia. Ele advertiu que estes clérigos defenderiam inevitavelmente os interesses das novas classes dominantes argelinas após a independência, assim como os valores sociais reacionários.
Em uma entrevista de 1986 para o marxista libanês Gilbert Achcar, Rodinson lembrou uma viagem que havia feito à Argélia em 1965, quando o primeiro presidente do país, Ahmed Ben Bella, estava “fazendo tentativas cautelosas para promover a igualdade das mulheres”:
“Uma organização oficial de mulheres – não a organização falsa que elas têm hoje – estava realizando um congresso na capital. Quando o congresso estava fechando, Ben Bella veio para marchar à frente de uma procissão de mulheres pelas ruas da Argélia. Das calçadas de ambos os lados, homens enojados assobiavam e zombavam.”
Rodinson acreditava que o apoio provisório de Ben Bella à igualdade de gênero havia sido um fator significativo por trás do golpe liderado por Houari Boumedienne que o expulsou mais tarde naquele ano. Ele viu isso como um exemplo precoce de um fenômeno muito mais amplo: “Uma razão pela qual o fundamentalismo islâmico teve um apelo sedutor em quase todos os lugares é que os homens estão sendo despojados de seus privilégios tradicionais pelas ideologias modernistas”.
A ascensão do fundamentalismo islâmico
A ascensão do fundamentalismo islâmico
As sementes que Rodinson detectou no rescaldo da independência argelina floresceram plenamente após a Revolução Iraniana de 1978-79 com a consolidação do regime fundamentalista xiita do Ayatollah Khomeini. Como o movimento revolucionário iraniano vinha se desenvolvendo nos dois anos anteriores, alguns intelectuais ocidentais de esquerda o saudaram com uma mistura de entusiasmo e fascínio. Eram tanto mais entusiasmados quanto tinham visto as esperanças políticas dos anos sessenta revolucionários se tornarem amargas em outros lugares.
Rodinson viu imediatamente os perigos de uma reação ingênua e mal informada. Em três artigos publicados em dezembro de 1978 para o Le Monde, ele descreveu o fundamentalismo islâmico como uma espécie de “fascismo arcaico” baseado na “vontade de estabelecer um Estado autoritário e totalitário cuja polícia política manteria ferozmente a ordem moral e social”, ao mesmo tempo em que impunha “a conformidade com as normas da tradição religiosa interpretada no sentido mais conservador”.
Os partidários de Khomeini eram de duas variedades, acreditava Rodinson: alguns atribuíam importância primordial à “renovação da fé” por meios artificiais e coercivos, enquanto outros a viam como um “suplemento psicológico” que facilitaria uma “reforma social retrógrada”. Em fevereiro de 1979, no jornal francês Le Nouvel Observateur, ele ofereceu um comentário irônico sobre o entusiasmo de Michel Foucault pelo que estava acontecendo no Irã sob a liderança de Khomeini:
“A esperança, há muito morta ou moribunda, de uma revolução mundial que liquidaria a exploração e a opressão do homem pelo homem, ressurgiu, primeiro timidamente, depois com maior segurança. Será que, mais inesperadamente, esta esperança está agora sendo encarnada neste Oriente muçulmano até então pouco promissor e, mais precisamente, neste velho perdido em um mundo medieval de pensamento?”
Ruhollah Khomeini no final dos anos 1970.
Também no Irã, marxistas e liberais pareciam surpreendidos pelo poder mobilizador dos slogans religiosos – “cobrindo os motivos mais materiais de insatisfação e revolta”, segundo Rodinson – em nome dos quais as massas tinham enfrentado o exército do xá com suas próprias mãos. Muitos intelectuais progressistas iranianos há muito tempo tentavam encontrar pontos de convergência entre o Islã, particularmente o xiismo, e o socialismo.
Alguns o fizeram com toda sinceridade, como Ali Shariati, cujas ideias eram influentes entre o grupo de esquerda chamado Organização dos Mujahedin do Povo do Irã. Outros seguiram esta abordagem por razões táticas, na esperança de conquistar o coração das massas. Após a chamada Revolução Branca de 1962-63, um programa de reformas sociais e econômicas liberais lançado pela ditadura pró-ocidental do Xá, outros ainda tentaram formar alianças religiosas em oposição a seu governo.
No entanto, todos eles haviam negligenciado a posição social e a ideologia da liderança religiosa do Irã, que estava próxima à burguesia, principalmente comercial. Na década de 1970, Ruhollah Khomeini havia conquistado os mullahs para sua concepção de um “governo islâmico” que estaria sujeito à autoridade inquestionável de um guia supremo.
Para Rodinson, não se tratava de tentar impedir os muçulmanos de buscar seu futuro em alguma versão do Islã, “cuja nova face eles teriam que formar com suas próprias mãos”. No caso iraniano, não era o termo “islâmico” na formulação de Khomeini que deveria ter chamado a atenção dos observadores, mas sim a palavra “governo”, que Khomeini tinha investido firmemente com um conteúdo autocrático em seus discursos e escritos.
Rodinson via o fundamentalismo islâmico como um produto dos impasses da modernidade em suas diversas formas – colonial, neocolonial, nacional, ou mesmo “socialista” – seja na região árabe, Turquia, Irã, Ásia Central, ou África subsaariana. Em 1986, ele advertiu que isso permaneceria por muito tempo como uma característica do cenário político nos países muçulmanos:
Alguns o fizeram com toda sinceridade, como Ali Shariati, cujas ideias eram influentes entre o grupo de esquerda chamado Organização dos Mujahedin do Povo do Irã. Outros seguiram esta abordagem por razões táticas, na esperança de conquistar o coração das massas. Após a chamada Revolução Branca de 1962-63, um programa de reformas sociais e econômicas liberais lançado pela ditadura pró-ocidental do Xá, outros ainda tentaram formar alianças religiosas em oposição a seu governo.
No entanto, todos eles haviam negligenciado a posição social e a ideologia da liderança religiosa do Irã, que estava próxima à burguesia, principalmente comercial. Na década de 1970, Ruhollah Khomeini havia conquistado os mullahs para sua concepção de um “governo islâmico” que estaria sujeito à autoridade inquestionável de um guia supremo.
Para Rodinson, não se tratava de tentar impedir os muçulmanos de buscar seu futuro em alguma versão do Islã, “cuja nova face eles teriam que formar com suas próprias mãos”. No caso iraniano, não era o termo “islâmico” na formulação de Khomeini que deveria ter chamado a atenção dos observadores, mas sim a palavra “governo”, que Khomeini tinha investido firmemente com um conteúdo autocrático em seus discursos e escritos.
Rodinson via o fundamentalismo islâmico como um produto dos impasses da modernidade em suas diversas formas – colonial, neocolonial, nacional, ou mesmo “socialista” – seja na região árabe, Turquia, Irã, Ásia Central, ou África subsaariana. Em 1986, ele advertiu que isso permaneceria por muito tempo como uma característica do cenário político nos países muçulmanos:
“O fundamentalismo islâmico é um movimento temporário, transitório, mas pode durar mais trinta ou cinqüenta anos – não sei quanto tempo. Onde o fundamentalismo não está no poder, ele continuará sendo um ideal, enquanto persistir a frustração e o descontentamento básicos que levam as pessoas a tomar posições extremas. Você precisa de uma longa experiência com o fundamentalismo para finalmente ficar farto dele – veja quanto tempo levou na Europa! Os fundamentalistas islâmicos continuarão a dominar o período por um longo tempo. Se um regime fundamentalista islâmico fracassasse de forma muito visível e introduzisse uma tirania óbvia, uma sociedade abjetamente hierárquica, e também experimentasse retrocessos em termos nacionalistas, isso poderia levar muitas pessoas a se voltarem para uma alternativa que denunciasse esses fracassos. Mas isso exigiria uma alternativa credível que entusiasme e mobilize as pessoas. Não vai ser fácil.”
Nisso, é claro, ele estava certo.
“Duvidar de tudo!”
A vida e a trajetória intelectual de Rodinson foram marcadas por uma busca constante da verdade dentro de uma crença na emancipação coletiva. Sem hesitação, ele teria retomado a célebre injunção de Marx: duvidar de tudo! Ele desconfiava de teorias abstratas que não tinham uma base concreta e sempre se esforçou para basear suas próprias concepções em incansáveis pesquisas empíricas. Tampouco aceitava a ideia de que o pensamento crítico sobre um determinado assunto poderia ser prerrogativa de um grupo de pessoas, pois somente elas haviam experimentado essa forma de exploração ou opressão.
Rodinson rejeitou firmemente a ideia do marxismo como um pensamento acabado ou doutrinário que já continha todas as respostas para as importantes questões políticas, “um pouco como uma daquelas placas eletrônicas nas estações de metrô de Paris, que indicam o caminho correto de um ponto a outro”. Em seu entendimento, havia “não apenas um marxismo, mas vários marxismos, todos com um núcleo comum, é verdade, mas também com muitas divergências, sendo cada versão tão legítima quanto qualquer outra”.
De sua própria fase stalinista, ele tirou a lição de que os altos ideais políticos não eram “nenhuma garantia contra as armadilhas da auto-satisfação e do narcisismo coletivo, nem contra o delírio ideológico e os lapsos morais aos quais até mesmo os mais admiráveis dos compromissos podem levar”. Entretanto, o ceticismo de Rodinson em relação aos dogmas ideológicos não o levou à neutralidade política. Como ele escreveu na introdução ao marxismo e ao mundo muçulmano:
“Duvidar de tudo!”
A vida e a trajetória intelectual de Rodinson foram marcadas por uma busca constante da verdade dentro de uma crença na emancipação coletiva. Sem hesitação, ele teria retomado a célebre injunção de Marx: duvidar de tudo! Ele desconfiava de teorias abstratas que não tinham uma base concreta e sempre se esforçou para basear suas próprias concepções em incansáveis pesquisas empíricas. Tampouco aceitava a ideia de que o pensamento crítico sobre um determinado assunto poderia ser prerrogativa de um grupo de pessoas, pois somente elas haviam experimentado essa forma de exploração ou opressão.
Rodinson rejeitou firmemente a ideia do marxismo como um pensamento acabado ou doutrinário que já continha todas as respostas para as importantes questões políticas, “um pouco como uma daquelas placas eletrônicas nas estações de metrô de Paris, que indicam o caminho correto de um ponto a outro”. Em seu entendimento, havia “não apenas um marxismo, mas vários marxismos, todos com um núcleo comum, é verdade, mas também com muitas divergências, sendo cada versão tão legítima quanto qualquer outra”.
De sua própria fase stalinista, ele tirou a lição de que os altos ideais políticos não eram “nenhuma garantia contra as armadilhas da auto-satisfação e do narcisismo coletivo, nem contra o delírio ideológico e os lapsos morais aos quais até mesmo os mais admiráveis dos compromissos podem levar”. Entretanto, o ceticismo de Rodinson em relação aos dogmas ideológicos não o levou à neutralidade política. Como ele escreveu na introdução ao marxismo e ao mundo muçulmano:
“Quando é evidente que calamidades inaceitáveis são o resultado direto de estruturas opressoras e exploradoras fundamentais, então o remédio deve ser radical; deve, como Marx disse, ir à raiz das coisas. E nesse caso, só há uma postura válida para aqueles que não conseguem resignar-se a aceitar o sofrimento evitável da humanidade: ser um rebelde.”
Sobre o autor
Jean Batou é professor de história internacional moderna na Universidade de Lausanne.
Jean Batou é professor de história internacional moderna na Universidade de Lausanne.