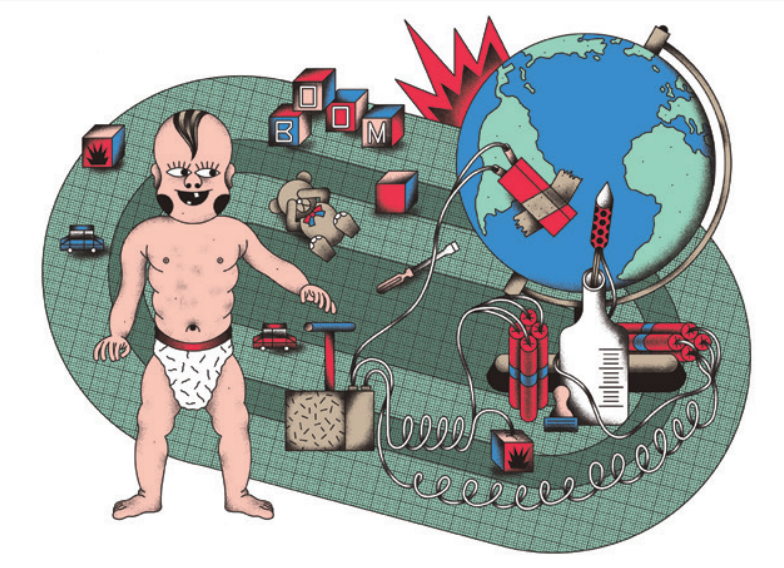Guillaume Long
Há vários fatores internos, o primeiro, é claro, sendo a escolha do sucessor de Correa, pelo próprio Correa, um erro significativo. Entendo que nasceu de boas intenções, quando Correa decidiu não concorrer novamente.
Esse deveria ser um movimento muito democrático. Era provável que Correa vencesse, por outro lado Lenin lutou para vencer, mas venceu com os votos de Correa. Se fizermos uma análise rigorosa do voto a Moreno em 2017, veremos que foi basicamente dos bastiões de apoio popular ao Correísmo.
Mas a ideia era ter alguém que fosse mais de centro, porque tivemos muitas políticas polarizadoras, particularmente em 2015, com um inesperado
imposto sobre terras e heranças, que não existia antes. A direita mobilizou-se intensamente e pensamos que alguém como Lenin Moreno, um caráter benevolente que prezava o diálogo, institucionalizaria as coisas. Talvez Correa pudesse até mesmo voltar, quatro anos depois, com uma agenda mais radical, e continuar a transformação.
Mas penso também que foram cometidos vários erros pelos governos de Correa, em particular nos últimos anos. Isso deu mais poder a Lenin, porque havia uma noção de que Correa criava muito conflito. Os erros foram mais estéticos que estruturais, e fizeram de Lenin não apenas um herdeiro de Correa, mas uma alternativa viável para setores que não demonstravam simpatia por Correa.
Quando Moreno afastou-se de Correa, nos primeiros meses, ele capitalizou esse gesto com pessoas que estavam fartas do estilo polarizador de Correa governar. Particularmente nas classes médias, havia um sentimento de que era tempo para um tipo de governo muito mais ecumênico, que pudesse ouvir, que fosse menos conflitivo. Claro, isso foi usado como plataforma para a recuperação do poder e para colocar um fim em todos os tipos de política, inclusive políticas redistributivas de que as elites discordavam.
Claro que houve também fatores exógenos. Os dois últimos anos de governo de Correa foram muito difíceis. Em 2014, a quebra das commodities afetou a economia muito seriamente. Isso significa que, ao invés de terminar seu mandato em alta, Correa terminou na baixa. Agora, paradoxalmente, eu diria que seu melhor governo foi entre 2014 e 2017, quando ele surfou na queda das commodities de forma muito inteligente. O Equador é o único país do seu tipo que não enfrentou uma grande crise por causa da queda das commodities.
Houve também um
terremoto, o que contribuiu com o crescimento negativo, fatores de todo tipo. O Equador acertou em muitas coisas: manejou para sair da recessão por meio de investimentos antiausteridade, derrotando o neoliberalismo, demonstrando que a austeridade não funciona nos bons tempos, e funciona ainda menos quando os tempos são difíceis.
Mas as pessoas sentiram que houve uma desaceleração na economia, as coisas ficaram mais duras, ficaram difíceis. Isso permitiu que Lenin viesse com uma agenda de mudanças, mas mudanças que viraram as costas para as reformas, para a transformação, a redistribuição, e retornaram a um estilo conservador de governar, que implica muito menos polarização com as elites.
Nesse processo, Lenin ganhou o apoio da mídia. De repente havia essa enorme hegemonia reconstruída em torno de sua figura, o que lhe permitiu consolidar-se politicamente.
Então, por que as pessoas do projeto político de Correa acompanham Lenin? O governo de Correa sempre foi muito heterogêneo, diria que do Partido Comunista até o centro-direita, era amplo. Havia setores empresariais, mas também movimentos sociais, sindicatos, o Partido Comunista, o Partido Socialista e a Aliança PAIS, que é como um partido de massas, e dentro do PAIS há muitas facções.
Isso significava que a esquerda estava representada em sua totalidade. Correa era radical em certos aspectos, mas em outros era menos radical, incluindo aí seu catolicismo profundamente arraigado, que era problemático para certos setores de seu governo. Alguns desses setores viu Moreno como alguém mais secular.
Naquele momento havia a possibilidade de que Moreno se abriria para algumas dessas frentes, certas reformas de gênero, direitos sexuais e reprodutivos. Agora sabemos que isso não aconteceu. Poderíamos examinar algumas dessas acusações contra Correa, porque eu diria que, com a grande exceção do aborto, nas outras frentes o Equador deu importantes saltos nas questões de gênero e LGBT.
Mas havia uma percepção, em certos setores da esquerda, de que Moreno seria mais progressista nesses temas. Que talvez perdêssemos algum radicalismo no fronte econômico, mas ganhássemos em políticas identitárias.
Não aconteceu, mas esta é a razão pela qual eles o apoiaram.
Pablo Vivanco
Parece paradoxal que, por um lado, a situação atual resulte da fraqueza de Correa e de seu governo; mas por outro, ele poderia provavelmente vencer a eleição. Diante disso, como descreveria o estado da esquerda e da Revolução Cidadã no Equador, hoje?
Guillaume Long
Gostaria que a política fosse menos contraditória, porque as duas coisas são verdadeiras. Penso que Correa teria vencido, mas penso também que foi muito fácil montar uma plataforma anti-Correa. Havia dois amplos setores da sociedade – um que teria votado em Correa e outro que não teria votado em Correa. Penso que Moreno conseguiu eleger-se com uma metade, mas governa com a outra.
Eu diria que a esquerda é quase inexistente hoje, no governo. Aqueles setores que uniram-se ao governo de Moreno pouco a pouco se deram conta de que ele tinha uma agenda liberal, fundamentalmente. Estamos agora vendo todas essas leis entrar em vigor, basicamente trazendo um novo tipo de ajuste estrutural que se afasta do modelo de desenvolvimento que Correa e seu governo implementaram.
Agora todos os ministérios-chave estão nas mãos, não somente da direita, mas da linha dura, incluindo os conselheiros-chave do opositor de Moreno nas eleições de 2017. O novo
ministro das finanças foi conselheiro financeiro na campanha eleitoral do opositor de Moreno.
Então, a esquerda ocupa postos marginais no governo do Equador. Tivemos outra demissão semana passada. Ele tinha as mãos amarradas. Houve algumas dúvidas se Moreno ainda podia ser considerado de esquerda, logo nos primeiros meses, inclusive internacionalmente. Mas penso que agora há consenso em todo lugar, inclusive fora do Equador, de que Moreno não constituiu um governo de esquerda e que, de todos as formas possíveis, economicamente, geopoliticamente, em termos de política exterior, é um giro conservador.
Onde está a esquerda? Na oposição. Alguns poucos pequenos partidos estão acompanhando Moreno, mas todos os outros estão hoje na oposição.
O que é incrível é a própria Aliança PAIS. Ela foi fundada por Correa, depois expropriada por Moreno, quando foram expulsas todas as pessoas-chave, os fundadores. Agora, é uma casca vazia. O PAIS foi durante anos o maior partido no Equador e no entanto desmoronou, porque está dividido, tanto em sua expressão parlamentar quanto entre os que permanecem leais a Correa e os que se vendem a Moreno, mas também em sua expressão de base. Nas comunidades de base, onde há menos interesses, menos salários envolvidos, menos poder e menos dinheiro para ser distribuido ao redor, obviamente, uma grande maioria dos apoiadores do PAIS permaneceu leal a Correa.
Isso significa que eles agora estão sem partido, porque o governo de Moreno e as instituições controladas por ele impediram Correa de criar um novo partido.
Moreno conseguiu controlar o PAIS, mas o partido agora é insignificante. Perdeu a maioria no Congresso, não por meio de votos, mas por causa de todos aqueles parlamentares que deixaram o partido. E assim Moreno perdeu a maioria e, perdendo a maioria, teve também que abraçar a direita, porque a única maneira de governar é com essa aliança, que o está pressionando a fazer ajustes estruturais neoliberais.
Assim, a esquerda está na oposição, obviamente dividida numa miríade de diferentes expressões, mas cada vez mais unida contra a virada neoliberal.
Há correistas inveterados, há correistas críticos. Algumas pessoas que eram muito favoráveis a suas políticas socioeconômicas e sua política externa, que fez nascer o Estado-nação soberano, foram críticos de outras coisas, por exemplo, a questão do aborto. Há diferentes tipos de correísmo, e há também a esquerda não correísta. Esta é mais marginal e menor, mas existe e agora estamos vendo pessoas fazendo oposição de esquerda a Correa, incluindo pessoas agressivamente anti-Correa que agora são agressivamente anti-Moreno. Então, a esquerda está se reconfigurando.
Pablo Vivanco
Você mencionou uma esquerda anti-Correa que está se voltando contra Moreno. A quem está se referindo?
Guillaume Long
A esquerda anti-Correa sempre foi pequena e de elite. O único setor não-elitista foi o
movimento indígena CONAIE, em declínio acelerado, que, infelizmente,
cogovernado por Lucio Gutierrez , vem decaindo. Ainda há alguns remanescentes indígenas, mas nunca foram importantes em termos eleitorais.
Depois há outro tipo de esquerda hard que se denomina maoista, embora eu pense que não tem nada de maoista nela. Está ligada aos sindicatos e ao relacionamento clientelista com o estado. Eram chamados Movimento Popular Democrático e agora são Unidade Popular. Sempre fizeram oposição a Correa, porque ele obviamente limpou os sindicatos e suas relações com o estado.
Não são contra Moreno porque ele lhes deu um grande espaço nos estados, de modo a não ter problemas.
Outros setores da esquerda, particularmente a esquerda liberal, certas elites, estão começando a tornar-se mais críticas. Pode-se, por exemplo, ver acadêmicos e economistas de esquerda, que pensavam que Correa não era suficientemente radical, que sempre faziam críticas à esquerda a Correa, sendo agora ainda mais críticos de Moreno.
Pablo Vivanco
Você vê a “traição” de Lenin como alguma coisa que foi se desenvolvendo, produto de um processo de divergência, ou pensa que houve algo mais nefasto envolvido?
Guillaume Long
Ninguém esperava que Moreno fosse idêntico a Correa, nem esperaríamos que obedecesse a Correa ou fosse seu fantoche. Qualquer pessoa eleita legitimamente deveria ter seu próprio programa de governo e isso era o que todos esperávamos. O que desejávamos, em vários sentidos.
Mas uma coisa é dizer “vou ser meu próprio homem, não uma marionete”, e outra bem diferente é implementar políticas que são exatamente contrárias às que ofereceu às pessoas em sua campanha política. Moreno está implementando o programa e promessas de seu opositor na campanha. Ele até disse diante das câmeras, em tom de brincadeira, que “estava meio que odiando” as pessoas que votaram nele.
Verdadeiros líderes democráticos devem estar conscientes de que são representantes da nação, da totalidade do eleitorado, e não somente daqueles eleitores que votaram nele, mas isso é muito diferente de dizer “estou começado a preferir as pessoas que votaram contra mim”.
Isso é contrário à ideia que há por trás da democracia representativa, de que você tem um programa, faz promessas e então, se é eleito, implementa esse programa. Se não o faz, o que está na verdade dizendo é que está mentindo, que mentiu durante a campanha, que seu programa foi uma mentira, suas promessas foram uma mentira.
Não se pode dizer, como Moreno, “sou a favor da Revolução Cidadã, o que fizemos é realmente importante em termos de nossa soberania, em termos de justiça e redistribuição social” e depois se aproximar dos Estados Unidos, querer
expulsar Julian Assange da embaixada,
aderir à Aliança do Pacífico, colocar um fim ao processo de paz entre o Exército de Libertação Nacional (ELN) e o governo colombiano no Equador e implementar um agressivo
programa de ajuste estrutural neoliberal.
Não se trata apenas de rivalidade pessoal entre dois líderes. Isso é algo maior, que tem consequências geopolíticas. É algo que foi encorajado e celebrado pelas elites do Equador, pelas elites da América Latina e pelas elites dos EUA. Penso que os Estados Unidos estão felizes, pode-se ver isso pela satisfação do embaixador dos EUA em todas as fotos, em cada evento ministerial que é organizado no Equador. Ele aparece com um largo sorriso. Está muito claro, penso, o que está acontecendo geopoliticamente.
Até que ponto foi premeditado ou foi se desdobrando é algo a ser analisado além da retórica política. Os historiadores deverão examinar com rigor se havia um plano desde o início, com envolvimento internacional, inclusive, ou se os Estados Unidos surfaram na onda e deram mais incentivos.
Mas estou absolutamente certo de que esse não é um evento inocente – é parte de um projeto mais amplo, que busca não só colocar um fim nos governos esquerdistas da América Latina, como também enlamear seu legado. Nesse sentido, o governo Moreno insere-se no TINA (There Is No Alternative) – “não há alternativa”– o tipo de fatalismo neoliberal de que medidas anti-austeridade, ou governos de esquerda não podem ter sucesso na América Latina. Isso é o que está em jogo, de fato.
A lama que foi atirada em Correa está tentando mudar o julgamento da história, mas penso que não vão conseguir. Há muitos de nós resistindo, as pessoas têm memória.
Pablo Vivanco
Regionalmente, as coisas também mudaram muito nos últimos anos. Não apenas em termos de resultados eleitorais, mas também questões persistentes em torno das contradições que surgiram com a entrada da esquerda no poder. Ao lado do seu papel como ministro do exterior, você liderou várias iniciativas políticas para o PAIS. Que lições a esquerda do continente pode tirar dessas experiências de governo?
Guillaume Long
Devíamos aprender com nossos erros, evidentemente. O projeto de Correa era criar um estado-nação moderno, num contexto muito pré-moderno. O Equador é, sob vários pontos de vista, um dos estados mais pré-modernos da América do Sul. Correa criou um estado-nação mais estável e moderno, com redistribuição de renda. O Equador tem muito a ensinar à América Latina e à esquerda, foi bem sucedido, economicamente viável – que é a crítica sempre feita à esquerda.
O modelo econômico era interessante em termos de redistribuição, de redução de desigualdade, numa parte do mundo que é a mais desigual. Foi um sucesso também em termos de seus projetos internacionais: soberania, integração e inserção estratégica num mundo multipolar. Esses são os sucessos, mas há coisas em que foi menos bem sucedido.
Penso que hoje é difícil ter um projeto de esquerda sem uma postura mais radical sobre feminismo, particularmente no contexto latino-americano. Também porque o norte global tenta erigir um pedestal dizendo que o sul global ainda é pré-moderno numa série de aspectos.
Sabemos, é claro, que essas questões tendem a avançar com a modernidade, a urbanização e a alfabetização, não se pode separá-las. E tivemos sucesso em alguns aspectos, como por exemplo a representação das mulheres na política. Tivemos um parlamento com muito mais mulheres como representantes legislativas do que a maioria das democracias europeias. Mas penso que a revolução deveria ser não somente social e econômica, deveria também ser feminista, e isso é algo que precisamos fazer.
A simplificação da questão ambiental também é uma ferramenta do imperialismo. Muitos dos problemas ambientais de países latino-americanos, tais como os enfrentados pelo Equador, devem-se em primeiro lugar à ausência da modernidade. Assim, se na Amazônia não há cidades organizadas, com um bom sistema de esgoto, e todo o lixo vai parar nos rios — o que é típico de estados fracos, uma consequência do neoliberalismo —, isso acaba prejudicando mais o meio ambiente do que políticas desenvolvimentistas, frequentemente condenadas.
Há um mito de que fomos vítimas, mas é também verdade que poderíamos ter feito mais para assegurar que nosso desenvolvimento fosse amigável ao meio ambiente. Também poderíamos ter feito mais para mobilizar politicamente a questão ambiental, e criar os tipos certos de aliança política para criar consenso hegemônico sobre os direitos da natureza, que nós consagramos em nossa constituição.
Então, em gênero, direitos reprodutivos, direitos LGBT e meio ambiente, que são as grandes questões do século 21, deveríamos ter feito mais.
No governo Correa havia em geral muita consideração com os bens comuns globais, bens públicos, todas essas coisas com que era necessário lidar em nível internacional, e não apenas superficialmente, com um discurso estilo ONG “a natureza é bela”, sem pensar em termos estruturais e sistêmicos.
Há dois tipos de redistribuição. A primeira é o tipo de redistribuição nacional, em que se redistribui recursos para o povo mais pobre, e que é o grande problema da América Latina, por causa de nossas desigualdades. Mas há o outro tipo de redistribuição, entre países ricos e pobres, e que não se pode fazer por decreto ou política pública. Tem de ser feita pela mudança da matriz improdutiva e seu papel na divisão internacional do trabalho. Essa é a única maneira, porque não há um governo global para promover essa redistribuição.
É onde Correa era forte, onde o Equador era forte. Dez anos não são suficientes para mudar a matriz produtiva, mas a visão esteva sempre voltada para a educação, a educação superior, ciência e tecnologia, energia, desenvolvimento de novos setores. Não apenas usar o dinheiro que recebíamos do petróleo ou outras fontes para redistribuir, mas para investir uma quantia significativa na transformação da economia para a redistribuição global.
Isso é algo que, penso, o Equador pode trazer para a esquerda latino-americana, porque fala-se muito sobre redistribuição doméstica mas muito pouco sobre redistribuição internacional.
Precisamos unir a esquerda e superar nossas diferenças. É sempre mais fácil superar as diferenças estando na oposição do que fazê-lo sendo governo, porque quando você está governando, faz coisas que dividem as pessoas. Mas quando está na oposição, é muito mais fácil encontrar o que Laclau costumava denominar significantes vazios, que fazem uma plataforma ampla e antioligárquica. E peso que, da próxima vez que estivermos no governo, devemos nos esforçar para ter menos divisões do que tivemos neste momento, e tentar manter essa plataforma.
Sobre o autor
Guillaume Long was president of the International Relations Commission of Ecuador’s governing Alianza PAIS party. He was Ecuador’s minister for foreign relations and holds a PhD from the University of London’s Institute for the Study of the Americas.
Sobre o entrevistador
Pablo Vivanco é o ex-diretor do TeleSUR English.