Giovanni Arrighi
New Left Review
No último quarto de século, a crise africana do final da década de 1970 transformou-se no que foi corretamente chamado de “Tragédia Africana” . Em 1975, o PNB regional per capita da África subsaariana foi de 17,6% do PNB per capita “mundial”; em 1999, caíra para 10,5%. Em relação à tendência geral do Terceiro Mundo, os níveis subsaarianos de saúde, mortalidade e alfabetização de adultos deterioraram-se num ritmo comparável. Hoje a expectativa de vida ao nascer é de 49 anos, e 34% dos habitantes da região são classificados como subnutridos. A taxa africana de mortalidade infantil era de 107 por mil nascidos vivos em 1999, contra 69 no sul da Ásia e 32 na América Latina. Quase 9% dos habitantes subsaarianos entre 15 e 49 anos vivem com HIV/Aids, número que se eleva muito acima do de outras regiões. Os casos de tuberculose são 121 a cada 100 mil habitantes; os números respectivos do sul da Ásia e da América Latina são 98 e 45.
O principal objetivo deste ensaio é recontextualizar essa transformação de uma perspectiva histórica mundial, inserindo a experiência da África subsaariana na bifurcação mais ampla dos destinos do Terceiro Mundo que vem ocorrendo desde 1975. Essa recontextualização, por sua vez, serve a dois propósitos. De um lado, visa a avaliar em que extensão a crise e a tragédia poderiam ter sido previstas usando a variedade específica de economia política que John Saul e eu apresentamos no final da década de 1960 . Por outro lado, busca remediar as deficiências que, em retrospecto, parecem-me as mais gritantes, não só da nossa (“antiga”) variedade de economia política como também e especificamente da “nova” variedade que os teóricos e praticantes da opção racional apresentaram nos anos 1980 em resposta à crise.
Eis como vou prosseguir. Primeiro descrevo as teses principais que Saul e eu apresentamos antes que a crise se instalasse e comparo-as com as determinações da “nova” economia política. Depois, analiso os fatos convencionais da crise africana para mostrar que os anos em torno de 1980 constituem um importante ponto de virada do destino subsaariano na economia política global; e apresento uma primeira explicação, concentrando-me na mudança radical do contexto geral do desenvolvimento do Terceiro Mundo que aconteceu entre 1979 e 1982. Na parte final do ensaio, passo para uma segunda explicação, que se concentra no impacto irregularíssimo dessa mudança do contexto global sobre regiões diferentes do Terceiro Mundo, dando atenção especial ao contraste marcante entre o destino da África e da Ásia oriental; e concluo com uma breve avaliação do que as elites e os governos africanos poderiam ter feito para evitar a tragédia africana ou para neutralizar seus aspectos mais destrutivos.
I. ECONOMIA POLÍTICA DA ÁFRICA, “NOVA” E “ANTIGA”
Nos últimos vinte anos, a interpretação dominante da crise africana ligava-a a uma suposta tendência das elites e dos grupos governantes da África às “más políticas” e ao “mau governo”. A definição disso, assim como as razões para esse suposto vício africano, variam. Mas a idéia de que a responsabilidade primária pela tragédia africana é das elites e dos governos africanos é comum à maioria das interpretações. Como veremos, nos últimos anos essa idéia foi questionada por algumas investigações convincentes sobre os determinantes do desempenho econômico dos países do Terceiro Mundo. Esse questionamento, entretanto, ficou implícito e teve pouco impacto sobre a opinião dominante sobre a crise.
O texto mais influente a apresentar a interpretação padrão foi um documento de 1981 do Banco Mundial conhecido como Relatório Berg. Sua avaliação das causas da crise africana foi altamente “internalista”, muito crítica das políticas dos governos africanos por terem minado o processo de desenvolvimento ao destruir os incentivos aos produtores agrícolas para aumentar a produção e a exportação. A supervalorização da moeda nacional, o descuido com a agricultura familiar, indústrias manufatureiras altamente protegidas e o excesso de intervenção do Estado foram destacados como as “más” políticas mais responsáveis pela crise africana. A desvalorização substancial da moeda, o desmantelamento da proteção industrial, os incentivos fiscais à produção e à exportação agrícolas e a substituição das empresas públicas por privadas – não só na indústria, mas também na prestação de serviços sociais – foram destacadas como “boas” políticas contrastantes que poderiam salvar a África subsaariana de suas dificuldades.
Os diagnósticos e prognósticos do Relatório Berg coincidiram com os de outro texto muito influente também publicado em 1981: Markets and States in tropical Africa [Mercados e Estados na África tropical], de Robert Bates, que logo adquiriu status de clássico como apresentação tanto da “nova” economia política quanto dos perigos da intervenção do Estado em países subdesenvolvidos . Na opinião de Bates, as autoridades estatais nos países africanos de independência recente usaram os instrumentos poderosos de controle econômico herdados do regime colonial para beneficiar a elite urbana e, em primeiríssimo lugar, a si mesmos. Ao acabar com os incentivos aos fazendeiros para que aumentassem a produção agrícola, essas políticas solaparam o processo de desenvolvimento. A resposta de Bates ao problema – desmantelar o poder do Estado e deixar o campesinato livre para aproveitar as oportunidades do mercado – era parecida com aquela defendida pelo Banco Mundial no Relatório Berg e em relatórios posteriores sobre a África.
Ainda assim, sua interpretação da crise era, ao mesmo tempo, mais pessimista e mais radicalmente antiestatista que a do Banco Mundial. Afinal, as avaliações do Banco Mundial sobre a situação baseavam-se ostensivamente em duas pressuposições. Partiam do princípio de que uma razão importante das “más” políticas era que os governos africanos tinham deixado de entender seus efeitos negativos e que os efeitos positivos das “boas” políticas, assim que implementadas, gerariam apoio generalizado à sua continuação. A única (ou principal) coisa necessária para resolver a crise, portanto, era convencer os governos africanos de que a troca das políticas más pelas boas era do seu maior interesse e do interesse do eleitorado. Ao apresentar considerações históricas e socioestruturais – os poderosos instrumentos de dominação que as elites africanas herdaram do domínio colonial; os conflitos pelo poder entre classes e grupos étnicos, regionais e econômicos –, a “nova” economia política (daqui para a frente, NEP) era muito mais cética do que o Banco Mundial quanto à probabilidade de que os governos africanos pudessem ser convencidos a passar das políticas “más” para as “boas” e que, depois da troca, mantivessem as “boas” . Portanto, pelo menos em termos implícitos, o antiestatismo da NEP não buscava apenas libertar as forças do mercado das restrições e dos regulamentos governamentais, como defendia o Banco Mundial. Visava também a minar a legitimidade das coalizões sociais que controlavam as forças do Estado, vistas como irremediavelmente comprometidas com as “más” políticas como meio eficaz de reprodução de seu próprio poder e seus próprios privilégios.
Os diagnósticos “internalistas” e de “Estado minimalista” do Banco Mundial e da NEP não deixaram de ser questionados. O maior questionamento veio dos próprios governos africanos. Num documento publicado no mesmo ano em que o Relatório Berg, mas assinado, em 1980, numa reunião no Lagos, os líderes dos Estados da OUA vincularam a crise a uma série de choques externos. Entre eles, estavam a deterioração dos termos de comércio de produtos primários, o protecionismo crescente dos países ricos, o grande aumento dos juros e o comprometimento cada vez maior com o serviço da dívida. O Plano de Ação de Lagos, como veio a ser chamado, via, assim, a solução da crise numa maior dependência não dos mecanismos do mercado mundial, mas da capacidade dos Estados africanos de mobilizar os recursos nacionais e patrocinar mais integração e cooperação econômicas mútuas . Ao dar ênfase à confiança coletiva própria por meio da criação posterior de um mercado comum continental, o Plano refletia a influência na época da teoria da dependência, assim como a sensação de fortalecimento que os Estados africanos obtiveram com o término próximo da descolonização formal do continente. No entanto, nem a influência da teoria da dependência nem a sensação de fortalecimento duraram muito.
Pouco depois da promulgação do Plano e em meio a uma situação econômica em rápida deterioração, a seca e a fome atacaram o Sahel com espantosa violência e chegaram ao ponto máximo em 1983-4. No ano seguinte, uma nova cúpula da OUA reuniu-se em Adis Abeba com o objetivo específico de preparar um plano de ação sobre os problemas sociais e econômicos da África a ser apresentado numa sessão especial da Assembléia Geral da ONU. A cúpula produziu um documento, o Programa de Prioridades para a Recuperação Econômica da África, 1986-1990 (PPREA, em inglês Africa’s Priority Programme for Economic Recovery, 1986-1990), que enfatizou mais uma vez o papel dos choques externos no aprofundamento da crise e a necessidade de maior autoconfiança para superá-la. Em marcante contraste com o Plano de Lagos, contudo, o PPREA admitia abertamente a responsabilidade dos governos africanos na crise e as limitações de quaisquer ações realizadas isoladamente pelos Estados africanos. Alinhado com essa admissão, concordava em implementar várias reformas políticas coerentes com o Relatório Berg e pedia à comunidade internacional que agisse para aliviar o fardo esmagador da dívida externa da África e para estabilizar e aumentar os preços pagos por suas exportações. O resultado foi um “pacto” de ação conjunta dos Estados africanos e da “comunidade internacional” para a solução da crise, estabelecido no Programa de ação das Nações Unidas para a Recuperação e o Desenvolvimento Econômico Africano, 1986-1990 (Panurdea, em inglês United Nations Programme of Action for African Economic Recovery and Development, 1986-1990).
Ao mostrar que os Estados africanos cumpriram seu lado no pacto enquanto as potências ocidentais não, Fantu Cheru caracteriza o Panurdea como “simples reencarnação do Relatório Berg”10. Essa caracterização é bastante exata, mas encobre as mudanças ocorridas na posição do próprio Banco Mundial. Enquanto um número crescente de Estados africanos submetia-se aos programas de ajuste estrutural do FMI e do Banco Mundial, com resultados no máximo inconclusivos, tanto a NEP quanto o Banco Mundial começaram a revisar suas receitas neo-utilitárias e de Estado minimalista e a enfatizar o papel das instituições e do “bom governo”11. Em 1997, o Banco Mundial abandonara, para todos os propósitos práticos, a visão minimalista do Estado. Em seu Relatório de Desenvolvimento Mundial daquele ano, as antigas preocupações com o tamanho do aparelho de Estado e a extensão da intervenção pública na economia foram completamente superadas pela necessidade de burocracias eficientes e Estados ativistas na implementação de programas de ajuste estrutural. Entretanto, os novos imperativos conferiam responsabilidade maior ainda às elites e aos governos africanos, tanto pelo fracasso da recuperação de suas economias quanto pelos desastres sociais que acompanharam aquele fracasso. Os surtos de otimismo baseados na maior integração da África na economia mundial, a libertação dos mercados do controle governamental e as oportunidades maiores para empresas privadas – ou seja, a obediência africana às receitas do FMI e do Banco Mundial – foram logo seguidos por avaliações ainda mais pessimistas da capacidade dos governos e das elites da África em solucionar a crise permanente12.
Ao reler nosso Essays on the political economy of Africa [Ensaios sobre a economia política da África], espanto-me tanto com as semelhanças quanto com as diferenças entre a nossa postura e a da NEP, que se tornou dominante nas décadas de 1980 e 1990. Nossa análise antecipava a maior parte das criticas às elites africanas que Bates apresentou treze anos depois. Muito antes do início da tragédia africana, estivemos entre os primeiros a ressaltar que os grupos governantes da época, fosse qual fosse sua tendência ideológica, tinham mais probabilidade de ser parte do problema do que da solução do subdesenvolvimento da África subsaariana. Num ensaio publicado pela primeira vez em 1968, argumentamos que o mais central desses problemas era um padrão de “absorção de excedentes” que patrocinava o consumo ostentatório das elites e subelites urbanas empregadas na burocracia, o consumo de massa relativamente elevado das “aristocracias operárias” e a transferência para o exterior de lucros, juros, dividendos e vários tipos de remuneração. Ao restringir o crescimento da produtividade agrícola e dos mercados domésticos, esse padrão perpetuava a dependência das economias africanas ao crescimento da demanda mundial de produtos primários. A menos que o padrão mudasse, observamos, “a aceleração do crescimento econômico na África tropical dentro do arcabouço político existente é altamente improvável, e, quando for superada a fase de substituição fácil das importações, pode-se esperar na verdade uma desaceleração”.
Ao mesmo tempo, uma mudança do padrão de absorção de excedentes capaz de estimular a produtividade agrícola exigia “um ataque aos privilégios daquelas mesmas classes que constituem a base do poder da qual, provavelmente, depende a maioria dos governos africanos”. Portanto, na década de 1960 caracterizamos o desenvolvimento econômico da África tropical como “crescimento perverso”, ou seja, “crescimento que mina em vez de aumentar a potencialidade da economia para o crescimento a longo prazo”. Numa época de otimismo generalizado com a possibilidade de desenvolvimento econômico da África e, em especial, com o papel desenvolvimentista das elites africanas, estávamos, assim, muito céticos em relação aos dois. Na verdade, chegamos a observar como “o caráter da competição interna na elite da África contemporânea e, em particular, a ascensão dos militares a uma posição de destaque especial mostram o poderio das forças que impelem a situação no sentido contra-revolucionário”13.
No entanto, apesar desses paralelos diagnósticos, nossa variante de economia política diferia radicalmente da NEP em dois aspectos: dava atenção muito maior ao contexto global em que se desenrolava o esforço desenvolvimentista africano e era muito mais neutra quanto ao papel dos Estados nos processos de desenvolvimento. O contexto global se elevava em nossa visão das coisas. Ao contrário da NEP, atribuíamos papel fundamental ao capitalismo mundial, que restringia e configurava o esforço de desenvolvimento e seus resultados em nível nacional. O padrão de absorção de excedentes que solapou o potencial de crescimento a longo prazo das economias africanas – inclusive o consumo ostentatório das elites urbanas e o nível relativamente elevado de consumo de massa de várias “aristocracias operárias” – devia-se, pelo menos, tanto à integração dessas economias nos circuitos globais do capital quanto às políticas das elites africanas voltadas para a apropriação da maior parte possível do excedente econômico. Além disso, como mostra um dos trechos já citados aqui, percebemos que a suplantação da fase de substituição fácil de importações envolveria um aperto das restrições impostas pelo capitalismo mundial ao desenvolvimento nacional da África.
Como veremos, tratava-se de uma economia política capaz de prever e explicar a crise africana da década de 1970. Ainda assim, não foi um guia para o entendimento das forças que, mais tarde, transformariam a crise em tragédia. Não demonstramos perceber o torvelinho incipiente do capitalismo mundial e menos ainda o impacto especialmente desastroso que teria sobre a economia política da África, em forte contraste com seus efeitos benéficos em outras regiões do Terceiro Mundo, mais notadamente na Ásia oriental. Para destacar e tentar corrigir essas deficiências, começarei mostrando o que previmos e o que não previmos na crise africana.
II. O DESENVOLVIMENTO IRREGULAR DA CRISE AFRICANA
Apesar da tendência generalizada de tratar a África subsaariana como um desastre desenvolvimentista uniforme, o subcontinente teve seu quinhão de histórias de sucesso. Em um estudo das experiências de crescimento econômico sustentado na África entre 1960 e 1996, Jean-Claude Berthélemy e Ludvig Soderling identificam até vinte experiências assim, quatro no norte da África e as outras dezesseis na África subsaariana14. São desempenhos excelentes que se comparam de modo bastante favorável com as economias do “milagre” da Ásia oriental. Como tal, constituem um indício conclusivo de que, com todo o respeito à Economist, os países africanos, em comparação com outros países de baixa renda, não têm nenhuma “falha de caráter” que os torne incapazes de desenvolvimento sustentado. No entanto, para nossos atuais objetivos, o principal interesse dessas experiências é sua distribuição no decorrer do tempo.
Em suma, o que transformou a crise da África subsaariana em tragédia, com conseqüências desastrosas não só para o bem-estar de seu povo como também para sua posição no mundo em geral, foi o colapso econômico da região na década de 198017. Embora único em sua gravidade, o colapso foi parte integrante de uma mudança mais ampla das tendêtncias entre as regiões do Primeiro e do Terceiro Mundo. Portanto, a tragédia africana deve ser explicada tanto a partir das forças que provocaram essa transformação quanto daquelas que tornaram especialmente grave seu impacto sobre a África. Ou seja, devemos dar respostas às duas perguntas básicas seguintes. Primeira: o que explica a mudança do destino das regiões do mundo no final dos anos 1970? E segunda: por que a mudança afetou positivamente o desempenho de algumas regiões do Terceiro Mundo e negativamente outras, e o desempenho da África subsaariana de forma muito mais negativa do que todas as outras regiões do Terceiro Mundo?
CONTEXTO MUNDIAL SISTÊMICO DA CRISE AFRICANA
Boa parte da resposta à primeira pergunta está na natureza da crise que atingiu o capitalismo mundial na década de 1970 e na conseqüente reação da potência hegemônica, os Estados Unidos. A crise global dos anos 1970 foi uma crise ao mesmo tempo de lucratividade e de legitimidade18. A crise de lucratividade deveu-se em primeiro lugar à intensificação mundial das pressões competitivas sobre as empresas em geral e as indústrias em particular que se seguiu à grande expansão do comércio e da produção mundiais nas décadas de 1950 e 1960. Até certo ponto, a crise de legitimidade emanou da crise de lucratividade. As políticas e ideologias que tiveram papel essencial para provocar e manter a expansão mundial do comércio e da produção nos anos 1950 e 1960 – o chamado keynesianismo em sentido ampliado – tornaram-se contraproducentes, tanto em termos sociais quanto econômicos, depois que a expansão intensificou a competição por recursos humanos e naturais cada vez mais escassos. Mas a crise de legitimidade também se deveu ao custo social e econômico crescente do emprego da coação pelos Estados Unidos para conter o desafio comunista no Terceiro Mundo.
A resposta inicial dos Estados Unidos à crise – sua retirada do Vietnã e a abertura para a China, mas uma adesão constante ao keynesianismo em casa e no exterior – só a piorou, provocando um declínio violento do poder e prestígio norte-americano. Parte integrante desse declínio foi o desencanto generalizado (especialmente forte na África) com as realizações do que Philip McMichael chamara de “projeto de desenvolvimento” iniciado sob hegemonia norte-americana19. Isso não se deveu à deterioração das condições econômicas do Terceiro Mundo. Afinal, de início a crise global pareceu melhorar as perspectivas econômicas desses países, inclusive dos Estados africanos. No início da década de 1970, os termos do comércio – sobretudo para os países produtores de petróleo, mas não só para eles – melhoraram. Além disso, a crise de lucratividade nos países do Primeiro Mundo, combinada à inflação da receita do petróleo depositada rotineiramente nos bancos ocidentais e nos mercados financeiros “extraterritoriais”, criou uma abundância excessiva de liqüidez. Já esse excesso de liqüidez foi reciclado como capital para empréstimos em termos favorabilíssimos a países do Terceiro e do Segundo Mundo, inclusive aos Estados africanos. Em conseqüência, no início da década de 1970 a posição de todas as regiões do Terceiro Mundo, com exceção da Ásia meridional, no mínimo melhorou (ver Tabela 2). Mas foi nessa época que os países do Terceiro Mundo, cada vez mais impacientes com o “projeto de desenvolvimento”, buscaram renegociar os termos de sua incorporação na economia política global por meio da criação de uma Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI). Havia pelo menos três boas razões para isso.
Em termos militares, o governo norte-americano começou a evitar o tipo de campo de batalha que o levara à derrota no Vietnã, preferindo, em vez disso, a guerra por procuração (como na Nicarágua, em Angola e no Afeganistão), os confrontos de valor meramente simbólico com inimigos insignificantes (como em Granada e no Panamá) ou bombardeios aéreos, nos quais a alta tecnologia de sua máquina de guerra lhe dava vantagem absoluta (como na Líbia). Ao mesmo tempo, os Estados Unidos iniciaram uma escalada da corrida armamentista com a União Soviética bem além do que esta podia suportar. O mais importante foi que o governo norte-americano passou a recorrer a políticas econômicas – uma contração drástica da oferta de moeda, juros mais altos, redução de impostos para os ricos e liberdade de ação praticamente irrestrita para a iniciativa capitalista – que liquidaram não só o legado do New Deal doméstico mas também, e especialmente, o Fair Deal para os países pobres ostensivamente lançado por Truman em 194923. Com essa bateria de políticas, o governo dos Estados Unidos começou a competir agressivamente pelo capital mundial para financiar o déficit comercial e de transações correntes cada vez maior de sua própria balança de pagamentos, provocando assim um aumento pronunciado dos juros reais em todo o mundo e uma grande inversão do sentido do fluxo global de capitais.
Assim, os Estados Unidos, que nas décadas de 1950 e 1960 tinham sido a principal fonte mundial de liquidez e investimento direto, tornaram-se, nos anos 1980, a maior nação devedora do mundo e, de longe, o maior receptor de capital estrangeiro. A extensão da virada pode ser medida pela mudança nas transações correntes da balança de pagamentos dos Estados Unidos24. Num período de cinco anos, de 1965 a 1969, essa conta ainda registrava um superávit de 12 bilhões de dólares, quase a metade (46%) do superávit total dos países do G7. Em 1970-74, o superávit contraiu-se para 4,1 bilhões de dólares, 21% do total dos países do G7. Em 1975-79, o superávit transformou-se num déficit de 7,4 bilhões de dólares. Depois disso, o déficit atingiu níveis antes inimagináveis: 146,5 bilhões em 1980-84; 660,6 bilhões em 1985-89; 324,4 bilhões em 1990-94; e 912,4 bilhões em 1995- 99. Em conseqüência dessa escalada de déficits norte-americanos, a exportação de capital de 46,8 bilhões de dólares dos países do G7 na década de 1970 (medida por seus superávits consolidados de transações correntes no período 1970-79) transformou-se num ingresso de capitais de 347,4 bilhões em 1980-1989 e de 318,3 bilhões em 1990-199925.
Essa foi uma inversão de proporções históricas que refletiu uma extraordinária capacidade absoluta e relativa da economia política norte-americana de atrair capitais do mundo inteiro. É provável que esse tenha sido o fator determinante de maior importância na inversão contemporânea do destino econômico da América do Norte e da bifurcação do destino econômico das regiões do Terceiro Mundo. Afinal de contas, o redirecionamento do fluxo de capital para os Estados Unidos reinflacionou a demanda efetiva e o investimento no país, enquanto os deflacionava no resto do mundo. Ao mesmo tempo, esse redirecionamento permitiu aos Estados Unidos suportar os grandes déficits em sua balança comercial, que criaram a expansão da demanda de importação de mercadorias que as empresas norte-americanas não consideravam mais lucrativo produzir. Como as pressões competitivas tinham se tornado especialmente intensas na indústria, as tais mercadorias importadas tendiam a ser produtos industrializados, e não agrícolas.
Esses efeitos contrastantes tenderam a dividir as regiões do mundo em dois grupos. De um lado estavam aquelas que, por razões históricas e geográficas, tinham mais vantagem na competição por uma parcela da crescente demanda norte-americana de produtos industrializados baratos. Essas regiões tenderam a beneficiar-se com o redirecionamento do fluxo do capital, já que a melhoria de sua balança de pagamentos reduziu a necessidade de competir com os Estados Unidos no mercado financeiro mundial. Do outro lado estavam regiões que, por razões históricas e geográficas, tinham mais desvantagem na competição por uma parcela da demanda norte-americana. Essas áreas tenderam a enfrentar dificuldades na balança de pagamentos que as deixaram na posição desoladora de competir diretamente com os Estados Unidos no mercado financeiro mundial. Em linhas gerais, parece-me ser essa a fonte primária da bifurcação do destino das regiões do Terceiro Mundo que se iniciou no final da década de 1970 e se materializou por completo nos anos 1980. Uma fonte secundária mas ainda assim significativa da bifurcação foi o surgimento do chamado Consenso de Washington, que acompanhou a mudança da política norte-americana nas esferas militar e financeira e que John Toye chamou com toda a justeza de “contra-revolução” na teoria do desenvolvimento26. O Relatório Berg e a série seguinte de relatórios do Banco Mundial sobre a África, assim como boa parte da NEP, integravam essa contra-revolução. O regime favorável ao desenvolvimento dos trinta anos anteriores estava oficialmente extinto, e os países do Terceiro Mundo foram convidados a obedecer às regras de um jogo bem diferente – ou seja, abrir sua economia nacional ao vento gelado da competição intensificada no mercado mundial e a competir entre si e com os países do Primeiro Mundo para criar, dentro de sua jurisdição, a maior liberdade possível de movimento e ação para a iniciativa capitalista. Principalmente na África, essa nova estratégia de “ajuste estrutural” foi apresentada como antídoto a um modelo estatizante cada vez mais desacreditado e que predominara nos trinta anos anteriores. Na prática, a cura foi muitas vezes pior do que a doença27. Ainda assim, embora a nova estratégia não tivesse cumprido suas promessas de desenvolvimento, conseguiu – querendo ou não – levar os países do Terceiro Mundo a adaptar suas economias às novas condições de acumulação em escala mundial criadas pelo redirecionamento do fluxo de capitais para os Estados Unidos28. Assim, o Consenso de Washington contribuiu para consolidar a bifurcação dos destinos das regiões do Terceiro Mundo.
A CRISE AFRICANA DO PONTO DE VISTA COMPARATIVO
No entanto, por que a Ásia oriental e, em menor extensão, a Ásia meridional tiveram desempenho tão melhor que o da América Latina e, especialmente, que o da África subsaariana nessas mesmas condições? Pelo menos parte da resposta é que, na década de 1970, a América Latina e a África subsaariana tornaram-se bem mais dependentes do capital estrangeiro que a Ásia oriental e meridional. Quando o redirecionamento do fluxo de capitais para os Estados Unidos ganhou ímpeto, essa dependência ficou insustentável. Depois que a crise mexicana de 1982 revelou de forma dramática como o padrão anterior se tornara inviável, a “inundação” de capital que os países do Terceiro Mundo (e, em particular, os países latino-americanos e africanos) tinham sofrido na década de 1970 transformou-se na “seca” repentina dos anos 1980. No caso da África, a seca literal do Sahel deixou as coisas muito piores. Ainda assim, precisamos ter em mente que a versão mexicana da seca atingiu a África antes da seca do Sahel, reduzindo consideravelmente sua capacidade de cuidar dos subseqüentes desastres naturais e causados pelo homem.
A maior dependência anterior ao capital externo pode explicar por que a América Latina e a África subsaariana ficaram mais vulneráveis que a Ásia meridional e oriental à mudança drástica das circunstâncias econômicas mundiais que aconteceu por volta de 1980. Ainda assim, isso mal explica por que, sob as novas condições, a Ásia meridional e oriental teve desempenho tão melhor do que antes de 1980. Também não explica a persistência da melhoria do sul e do leste da Ásia em relação à deterioração latino-americana e, sobretudo, africana. Suspeito que, para entender por que a mudança do contexto global teve um impacto tão irregular e persistente sobre as regiões do Terceiro Mundo, precisamos ver essas regiões como “indivíduos” geo-históricos com uma herança pré-colonial, colonial e pós-colonial específica que lhes conferiu capacidades diferentes de lidar com a mudança.
Isso é mais fácil de dizer que de fazer. Em retrospecto, um dos principais pontos fracos de nossos ensaios sobre a economia política da África é que praticamente não demos atenção às dotações de recursos nem à configuração político-econômica que a África subsaariana herdara das épocas colonial e pré-colonial, em comparação com aquelas herdadas por outras regiões do Terceiro Mundo. Enquanto as relações entre as regiões do Terceiro Mundo foram predominantemente não-competitivas, como no início da década de 1970, essa herança comparativa tinha sua importância, é claro, mas bem menos do que quando tais relações tornaram-se, cada vez mais, predominantemente competitivas, como aconteceu nos anos 1980 e 1990. Aqui, vou me limitar a ilustrar a questão com algumas observações sobre as duas regiões que conheço melhor, a Ásia oriental e a África subsaariana, que também são as de melhor e pior desempenho no período considerado. Vou me concentrar em três questões distintas mas inter-relacionadas: mão-de-obra, iniciativa empresarial e formação do Estado e da economia nacional.
O argumento clássico de Arthur Lewis de que as regiões subdesenvolvidas caracterizam- se por uma “oferta ilimitada de mão-de-obra” na verdade nunca se aplicou à África, onde a mão-de-obra parece ter sido sempre escassa29. A principal forma de interação da África subsaariana com o mundo ocidental na época précolonial – importação de armas e exportação de escravos – piorou, sem dúvida, qualquer escassez estrutural de mão-de-obra com relação aos recursos naturais que pudessem ter existido na região antes daquela interação. Eric Wolf observa que, antes ainda que o comércio de escravos decolasse, “a África não era [...] uma área de população crescente [...] O fator escasso [...] não era a terra, mas a mão-deobra” 30. Os subseqüentes despovoamento e desorganização das atividades produtivas, associados direta ou indiretamente à captura e à exportação de escravos, deixaram uma herança de baixa densidade populacional e pequenos mercados locais que, em várias partes da África, persistiu durante toda a época colonial31.
Sob o colonialismo, a oferta de mão-de-obra se expandiu; mas também cresceu a demanda quando aumentou a exploração dos recursos naturais africanos. Era comum haver grande excedente populacional, prontamente disponível para emprego nas condições oferecidas nos setores formais, nas áreas urbanas. Essas condições, no entanto, só existiam para aquela minoria da força de trabalho que os empregadores privados ou públicos preferiam incorporar de forma estável às suas organizações; isto é, eram as condições de um “mercado de trabalho interno”. Embora de fato houvesse ali uma mão-de-obra excedente, nas condições realmente disponíveis no mercado de trabalho “externo” a oferta tendia a ser, em geral, sempre menor que a procura32.
Durante a descolonização e depois dela, a escassez básica de mão-de-obra reproduziu- se, em parte, com a demanda de recursos naturais da África, que permaneceu elevada durante meados da década de 1970, e, em parte, com o esforço dos Estados recém-independentes para se modernizarem e industrializarem. Só depois do colapso da década de 1980 foi que o déficit estrutural de mão-de-obra da África subsaariana transformou-se em mão-de-obra excedente, visível no aumento acentuado, durante os anos 1980, da migração na maioria dos países da região, apesar do colapso do “mercado de trabalho interno” urbano e da redução da diferença de renda entre a área rural e a urbana. Basta mencionar que, no final da década de 1980, as cidades africanas cresciam 6% a 7% ao ano, contra apenas 2% nas áreas rurais33.
Num forte contraste, a Ásia oriental herdou das épocas colonial e pré-colonial uma condição de subdesenvolvimento que se aproximava mais do tipo ideal de Lewis do que qualquer outra região do Terceiro Mundo – com certeza mais do que a África subsaariana, a América Latina, o Oriente Médio ou o norte da África, e pelo menos tanto quanto a Ásia meridional. A abundância estrutural de mão-de-obra com relação aos recursos naturais da Ásia oriental teve várias origens. Em parte, deveu- se ao predomínio, na região, da cultura material da produção de arroz. Em parte, foi conseqüência da “explosão populacional” centrada na China que acompanhou e seguiu a intensificação das trocas comerciais e outros tipos de troca com o mundo ocidental nos séculos XVI e XVII. Em parte, também, deveu-se à obsolescência e ao abandono gradual das técnicas de uso intensivo de mão-de-obra das indústrias tradicionais, precipitados pela incorporação da região à estrutura do sistema mundial centrado na Europa no final do século XIX e início do XX.
Durante as décadas de 1950 e 1960, a abundância estrutural de mão-de-obra barata com relação aos recursos naturais da região foi preservada pela concentração do esforço desenvolvimentista nas técnicas de uso intensivo de capital e recursos naturais típicas da industrialização ocidental. Só na década de 1980, quando, ao mesmo tempo, esse esforço passou a fazer uso mais intensivo de mão-de-obra e ter mais sucesso, o excedente de mão-de-obra começou a ser absorvido. No entanto, em termos comparativos, esse excedente da Ásia oriental continua a ser um dos maiores dentre as regiões do Terceiro Mundo. Especialmente na China, o crescimento econômico sustentado associou-se à intensificação do fluxo migratório para os centros de expansão que, em números absolutos, ultrapassa e muito os processos semelhantes da África subsaariana.
Essa primeira diferença foi fundamental porque, sob as condições do aumento rápido da competição entre as regiões do Terceiro Mundo na década de 1980, a disponibilidade de uma oferta grande e flexível de mão-de-obra tornou-se o principal fator determinante da capacidade de um país de colher os benefícios em vez de suportar os custos da nova conjuntura. Contudo, foi igualmente importante a presença de um estrato empresarial nativo capaz de mobilizar a oferta de mão-deobra para o acúmulo de capital dentro da região, de modo a expandir sua participação no mercado mundial e na liqüidez global. Felizmente para a Ásia oriental e infelizmente para a África subsaariana, a discrepância entre os recursos empresariais locais herdados do passado colonial e pré-colonial também era muito mais favorável à Ásia oriental. Nesse aspecto, com efeito, a dotação asiática oriental era de fato excepcional. A rede empresarial mais antiga e extensa da região era aquela incorporada à diáspora marítima chinesa. Foi uma rede que dominou a região durante séculos; continuou a fazê-lo até ser superada pelos rivais ocidentais e japoneses, que cresceram sob a carapaça de seus respectivos imperialismos, na segunda metade do século XIX. Depois da Segunda Guerra Mundial, a disseminação do nacionalismo econômico limitou a expansão de todos os tipos de iniciativa multinacional no leste da Ásia. Mas com freqüência promoveu, como que em uma estufa, a formação de novas camadas empresariais em nível nacional. Além disso, ao mesmo tempo, a abundância estrutural de mão-de-obra com relação aos recursos naturais na Ásia oriental continuou a oferecer um ambiente favorável ao surgimentos desses estratos no comércio e na indústria. Mas a maior oportunidade para os novos e antigos estratos lucrarem com a mobilização – dentro e fora das fronteiras – da oferta regional de mão-de-obra veio exatamente quando a crise dos anos 1970 e a reação dos Estados Unidos a ela transformaram a oferta de mão-deobra barata e flexível numa alavanca poderosa na concorrência por um quinhão da crescente demanda norte-americana por produtos industrializados34.
Não se observa nada do gênero na África subsaariana. Ao mesmo tempo, a escassez estrutural de mão-de-obra com relação aos recursos naturais criou um ambiente pouco propício para o surgimento e a reprodução de estratos empresariais no comércio e na indústria. Na época pré-colonial, o comércio de escravos não só intensificou a escassez de mão-de-obra e de empreendedores como também redirecionou os recursos empresariais já minguados para a “indústria de produzir proteção” – tomando emprestada a expressão de Frederic Lane35. Na época colonial, as atividades produtoras de proteção foram assumidas pelo governo e pelo exército coloniais, enquanto as funções empresariais no comércio e na produção passaram a ser exercidas predominantemente por estrangeiros – na verdade, muitas vezes os africanos foram proibidos de administrar negócios36. Como observou Bates, “os povos autóctones de boa parte da África passaram rápida, vigorosa e habilmente a produzir para o mercado colonial”, com integrantes das sociedades agrárias nativas chegando a defender a causa da propriedade privada. Ironicamente, no entanto, os principais agentes do capitalismo na região – os governos das potências coloniais – opuseram-se muitas vezes a essas tendências, defendendo e impondo os direitos de propriedade “comunitária”37.
Depois da independência, o nacionalismo econômico, quer fosse capitalista ou anticapitalista, assustou um grande número de pequenos negócios não-africanos sem criar um número equivalente de novos empresários africanos. Assim, no final dos anos 1970, a África subsaariana estava em desvantagem na incipiente luta competitiva, não só em função da sua escassez estrutural de oferta de mão-de-obra barata e flexível como também da exigüidade do estrato empresarial local capaz de mobilizar de forma lucrativa a pouca oferta de mão-de-obra barata e flexível existente38 . Ainda resta saber se a maior abundância de oferta de mão-de-obra barata e flexível provocada pelo colapso da África subsaariana dos anos 1980 criará, com o tempo, um ambiente mais favorável para o crescimento de uma classe empresarial nativa. Por enquanto, ao provocar uma contração acentuada do mercado interno, o colapso reduziu – em vez de aumentar – a possibilidade dessa evolução.
Por fim, essas vantagens competitivas do leste da Ásia e desvantagens da África subsaariana foram acentuadas pelos legados muito diferentes que cada região herdou no domínio da formação do Estado e da integração econômica nacional. Ao contrário do que se costuma acreditar, durante o século XVIII o leste da Ásia estava à frente de todas as outras regiões do mundo, inclusive a Europa, em ambos os aspectos. Tal precocidade não impediu, no século seguinte, a incorporação subordinada do sistema de Estados e economias nacionais centrado na China à estrutura do sistema centrado na Europa. Mas isso não apagou a herança histórica do sistema centrado na China. Em vez disso, deu início a um processo de hibridação entre as estruturas dos dois sistemas que, depois da Segunda Guerra Mundial (e principalmente depois da crise dos anos 1970), criou condições bastante favoráveis à acumulação de capital39.
Em forte contraste com o leste da Ásia, a África subsaariana herdou das fases colonial e pré-colonial uma configuração político-econômica que dava pouco espaço para a construção de economias nacionais viáveis ou Estados nacionais fortes. A tentativa de, apesar de tudo, construí-los não foi em geral muito longe, não obstante a legitimidade considerável de que gozaram na época da independência40. Naquele período, como enfatizou Mahmood Mamdani, a pauta central dos nacionalistas africanos compreendia três tarefas básicas: “desracializar a sociedade civil, destribalizar o governo nativo e desenvolver a economia no contexto das relações internacionais desiguais”. Embora os regimes nacionalistas de todas as orientações políticas tenham dado grandes passos para desracializar a sociedade civil, pouco ou nada fizeram para destribalizar o poder rural. Na opinião de Mamdani, foi por essa razão “que a desracialização não foi sustentável e que o desenvolvimento acabou fracassando”41. O argumento aqui exposto sugere que os Estados africanos provavelmente fracassariam em termos econômicos ainda que conseguissem se destribalizar. Mesmo assim, o fato de que as elites africanas precisariam destribalizar as estruturas sociais herdadas do colonialismo, se quisessem criar Estados nacionais viáveis, constituiu mais uma desvantagem no ambiente de intensa concorrência criado pela crise global dos anos 1970 e pela reação norte-americana à crise.
Temos de acrescentar que a discrepância entre o potencial de desenvolvimento das duas regiões foi ampliado antes da crise pelo tratamento preferencial que os Estados Unidos conferiram aos seus aliados da Ásia oriental nos primeiros estágios da Guerra Fria. Como ressaltaram muitos observadores, esse tratamento preferencial teve papel importantíssimo na “decolagem” do renascimento econômico da região. A Guerra da Coréia – observa Bruce Cumings – funcionou como o “Plano Marshall do Japão”. As encomendas bélicas “impeliram o Japão em seu triunfante caminho industrial”42 . No total, no período de vinte anos entre 1950 e 1970, a ajuda norte-americana ao Japão foi, em média, de 500 milhões de dólares por ano43 . A ajuda à Coréia do Sul e a Taiwan, combinadas, foi ainda mais maciça. No período 1946-78, o auxílio militar e econômico à Coréia do Sul chegou a 13 bilhões de dólares (600 dólares per capita), e, a Taiwan, a 5,6 bilhões (425 dólares per capita). A verdadeira dimensão dessa prodigalidade revela-se na comparação dos quase 6 bilhões de dólares de ajuda econômica dos Estados Unidos à Coréia do Sul em 1946-78 com o total de 6,89 bilhões de dólares para a África inteira e de 14,8 bilhões para toda a América Latina no mesmo período44 .
Teve a mesma importância o fato de os Estados Unidos darem às exportações de seus aliados do leste asiático acesso privilegiado ao mercado interno norteamericano, tolerando ao mesmo tempo seu protecionismo, seu intervencionismo estatal e até a exclusão das multinacionais norte-americanas, num nível sem paralelos na prática dos Estados Unidos no resto do mundo. “Assim, as três economias políticas do nordeste asiático [Japão, Coréia do Sul e Taiwan] tiveram, na década de 1950, um raro espaço para respirar, um período de incubação permitido a poucos povos do mundo.”45 As economias políticas da África não tiveram essa pausa. Ao contrário, a peça central das práticas da Guerra Fria norte-americana na África foi a substituição do governo democrático de Lumumba pelo regime predatório de Mobuto, no coração do próprio continente. Quando, portanto, a crise econômica mundial da década de 1970 se estabeleceu, a Guerra Fria aumentou ainda mais a possibilidade de que a Ásia oriental tivesse sucesso e a África fracassasse na futura luta competitiva das duas décadas seguintes.
“MÁ SORTE” E “BOM GOVERNO”
Segue-se desta análise que, ao contrário dos fundamentos do Consenso de Washington (e, mutatis mutandis, da maior parte das teorias de desenvolvimento nacional), não existe política que seja, por si só, “boa” ou “má” no decorrer do tempo e do espaço. O que é bom numa região pode ser mau em outra região na mesma época ou na mesma região em outra época. É interessante que, partindo de premissas diferentes, um importante economista do Banco Mundial, William Easterly, chegou recentemente a conclusões muito parecidas. Ele já publicou em co-autoria, no início da década de 1990, um estudo chamado “Good policy or good luck? Country growth performance and temporary shocks” [Boa política ou boa sorte? Crescimento nacional e choques temporários], que mostrava que o desempenho econômico individual dos países variava consideravelmente com o tempo apesar de seus governos continuarem a seguir o mesmo tipo de política. Assim, o bom desempenho econômico parecia depender mais da “boa sorte” do que da “boa política”46. Num artigo recente, Easterly avançou mais um passo em sua posição ao mostrar que uma importante “melhora das variáveis políticas” nos países em desenvolvimento desde 1980 – ou seja, a maior obediência ao programa do Consenso de Washington – associou-se não a uma melhora, mas a uma deterioração violenta de seu desempenho econômico; a taxa média de crescimento da renda per capita caiu de 2,5% em 1960-79 para 0% em 1980-9847.
Easterly não questiona explicitamente os méritos das políticas defendidas pelo Consenso de Washington. Ainda assim, as duas explicações principais que apresenta para o fato de não terem cumprido suas promessas constituem uma crítica devastadora da própria idéia de que seriam “boas” políticas em algum sentido absoluto, como sustentavam seus divulgadores. Em primeiro lugar, sugere que estariam sujeitas a um retorno decrescente; quando impostas além de um certo ponto em algum país específico ou impostas ao mesmo tempo num número crescente de países, deixavam de gerar resultados “bons”. “Embora alguém possa crescer mais depressa do que o vizinho caso seu envolvimento secundário seja maior, seu próprio crescimento não aumenta necessariamente quando a razão do envolvimento secundário (e a de todos os outros) cresce.” A segunda explicação – e, na opinião de Easterly, a mais importante – é que “fatores mundiais, como o aumento mundial da taxa de juros, a elevação do peso da dívida dos países em desenvolvimento, a desaceleração do crescimento do mundo industrializado e a mudança técnica voltada para o talento, podem ter contribuído para a estagnação dos países em desenvolvimento”48.
Embora não formulada especificamente tendo em vista os países africanos, para os nossos propósitos o espantoso dessa dupla explicação é ser muito mais próxima do diagnóstico da crise africana que está por trás do Plano de Ação de Lagos do que daquele apresentado pelo Relatório Berg e pela NEP. Afinal, a explicação é uma admissão inconfundível, embora implícita, da falta de justificativa factual para a afirmativa do Banco Mundial e da NEP de que as “más” políticas e o “mau” governo das elites africanas seriam as principais causas da crise na África. Em vez disso, sugere que a crise deveu-se em primeiro lugar aos processos estruturais e conjunturais da economia global, como concordariam sinceramente os signatários do Plano de Ação de Lagos.
Os processos estruturais da economia global correspondem mais ou menos à primeira parte da explicação de Easterly, que aponta para o fato de que as políticas e as atividades associadas a atributos desejáveis – como riqueza nacional, bemestar e poder – podem estar, e muitas vezes estão, sujeitas a um “problema de composição”. Sua generalização é capaz de criar uma competição que prejudica o objetivo original49. Os processos conjunturais da economia global, pelo contrário, correspondem à segunda explicação de Easterly. Afinal, por mais importantes que fossem os processos estruturais na deflagração da crise global dos anos 1970, a mudança súbita das circunstâncias sistêmicas mundiais ocorrida por volta de 1980 resultou, principalmente, da reação dos Estados Unidos a ela. Foi essa reação, mais do que tudo, que provocou o aumento mundial dos juros, o aprofundamento da recessão global e o fardo crescente da dívida dos países do Terceiro Mundo. A “melhora das variáveis políticas” promovida pelas gestões do Consenso de Washington nada fez para contrabalançar as repercussões negativas dessas mudanças nos países do Terceiro Mundo e, com toda a probabilidade, fortaleceu a tendência deles de reexpandir o poder e a riqueza dos Estados Unidos.
Hoje essa possibilidade é cogitada até nas colunas do New York Times. Seu correspondente Joseph Kahn noticiou recentemente, a respeito da Conferência Internacional de Financiamento e Desenvolvimento das Nações Unidas em Monterrey, México:
New Left Review
No último quarto de século, a crise africana do final da década de 1970 transformou-se no que foi corretamente chamado de “Tragédia Africana” . Em 1975, o PNB regional per capita da África subsaariana foi de 17,6% do PNB per capita “mundial”; em 1999, caíra para 10,5%. Em relação à tendência geral do Terceiro Mundo, os níveis subsaarianos de saúde, mortalidade e alfabetização de adultos deterioraram-se num ritmo comparável. Hoje a expectativa de vida ao nascer é de 49 anos, e 34% dos habitantes da região são classificados como subnutridos. A taxa africana de mortalidade infantil era de 107 por mil nascidos vivos em 1999, contra 69 no sul da Ásia e 32 na América Latina. Quase 9% dos habitantes subsaarianos entre 15 e 49 anos vivem com HIV/Aids, número que se eleva muito acima do de outras regiões. Os casos de tuberculose são 121 a cada 100 mil habitantes; os números respectivos do sul da Ásia e da América Latina são 98 e 45.
O principal objetivo deste ensaio é recontextualizar essa transformação de uma perspectiva histórica mundial, inserindo a experiência da África subsaariana na bifurcação mais ampla dos destinos do Terceiro Mundo que vem ocorrendo desde 1975. Essa recontextualização, por sua vez, serve a dois propósitos. De um lado, visa a avaliar em que extensão a crise e a tragédia poderiam ter sido previstas usando a variedade específica de economia política que John Saul e eu apresentamos no final da década de 1960 . Por outro lado, busca remediar as deficiências que, em retrospecto, parecem-me as mais gritantes, não só da nossa (“antiga”) variedade de economia política como também e especificamente da “nova” variedade que os teóricos e praticantes da opção racional apresentaram nos anos 1980 em resposta à crise.
Eis como vou prosseguir. Primeiro descrevo as teses principais que Saul e eu apresentamos antes que a crise se instalasse e comparo-as com as determinações da “nova” economia política. Depois, analiso os fatos convencionais da crise africana para mostrar que os anos em torno de 1980 constituem um importante ponto de virada do destino subsaariano na economia política global; e apresento uma primeira explicação, concentrando-me na mudança radical do contexto geral do desenvolvimento do Terceiro Mundo que aconteceu entre 1979 e 1982. Na parte final do ensaio, passo para uma segunda explicação, que se concentra no impacto irregularíssimo dessa mudança do contexto global sobre regiões diferentes do Terceiro Mundo, dando atenção especial ao contraste marcante entre o destino da África e da Ásia oriental; e concluo com uma breve avaliação do que as elites e os governos africanos poderiam ter feito para evitar a tragédia africana ou para neutralizar seus aspectos mais destrutivos.
I. ECONOMIA POLÍTICA DA ÁFRICA, “NOVA” E “ANTIGA”
Nos últimos vinte anos, a interpretação dominante da crise africana ligava-a a uma suposta tendência das elites e dos grupos governantes da África às “más políticas” e ao “mau governo”. A definição disso, assim como as razões para esse suposto vício africano, variam. Mas a idéia de que a responsabilidade primária pela tragédia africana é das elites e dos governos africanos é comum à maioria das interpretações. Como veremos, nos últimos anos essa idéia foi questionada por algumas investigações convincentes sobre os determinantes do desempenho econômico dos países do Terceiro Mundo. Esse questionamento, entretanto, ficou implícito e teve pouco impacto sobre a opinião dominante sobre a crise.
O texto mais influente a apresentar a interpretação padrão foi um documento de 1981 do Banco Mundial conhecido como Relatório Berg. Sua avaliação das causas da crise africana foi altamente “internalista”, muito crítica das políticas dos governos africanos por terem minado o processo de desenvolvimento ao destruir os incentivos aos produtores agrícolas para aumentar a produção e a exportação. A supervalorização da moeda nacional, o descuido com a agricultura familiar, indústrias manufatureiras altamente protegidas e o excesso de intervenção do Estado foram destacados como as “más” políticas mais responsáveis pela crise africana. A desvalorização substancial da moeda, o desmantelamento da proteção industrial, os incentivos fiscais à produção e à exportação agrícolas e a substituição das empresas públicas por privadas – não só na indústria, mas também na prestação de serviços sociais – foram destacadas como “boas” políticas contrastantes que poderiam salvar a África subsaariana de suas dificuldades.
Os diagnósticos e prognósticos do Relatório Berg coincidiram com os de outro texto muito influente também publicado em 1981: Markets and States in tropical Africa [Mercados e Estados na África tropical], de Robert Bates, que logo adquiriu status de clássico como apresentação tanto da “nova” economia política quanto dos perigos da intervenção do Estado em países subdesenvolvidos . Na opinião de Bates, as autoridades estatais nos países africanos de independência recente usaram os instrumentos poderosos de controle econômico herdados do regime colonial para beneficiar a elite urbana e, em primeiríssimo lugar, a si mesmos. Ao acabar com os incentivos aos fazendeiros para que aumentassem a produção agrícola, essas políticas solaparam o processo de desenvolvimento. A resposta de Bates ao problema – desmantelar o poder do Estado e deixar o campesinato livre para aproveitar as oportunidades do mercado – era parecida com aquela defendida pelo Banco Mundial no Relatório Berg e em relatórios posteriores sobre a África.
Ainda assim, sua interpretação da crise era, ao mesmo tempo, mais pessimista e mais radicalmente antiestatista que a do Banco Mundial. Afinal, as avaliações do Banco Mundial sobre a situação baseavam-se ostensivamente em duas pressuposições. Partiam do princípio de que uma razão importante das “más” políticas era que os governos africanos tinham deixado de entender seus efeitos negativos e que os efeitos positivos das “boas” políticas, assim que implementadas, gerariam apoio generalizado à sua continuação. A única (ou principal) coisa necessária para resolver a crise, portanto, era convencer os governos africanos de que a troca das políticas más pelas boas era do seu maior interesse e do interesse do eleitorado. Ao apresentar considerações históricas e socioestruturais – os poderosos instrumentos de dominação que as elites africanas herdaram do domínio colonial; os conflitos pelo poder entre classes e grupos étnicos, regionais e econômicos –, a “nova” economia política (daqui para a frente, NEP) era muito mais cética do que o Banco Mundial quanto à probabilidade de que os governos africanos pudessem ser convencidos a passar das políticas “más” para as “boas” e que, depois da troca, mantivessem as “boas” . Portanto, pelo menos em termos implícitos, o antiestatismo da NEP não buscava apenas libertar as forças do mercado das restrições e dos regulamentos governamentais, como defendia o Banco Mundial. Visava também a minar a legitimidade das coalizões sociais que controlavam as forças do Estado, vistas como irremediavelmente comprometidas com as “más” políticas como meio eficaz de reprodução de seu próprio poder e seus próprios privilégios.
Os diagnósticos “internalistas” e de “Estado minimalista” do Banco Mundial e da NEP não deixaram de ser questionados. O maior questionamento veio dos próprios governos africanos. Num documento publicado no mesmo ano em que o Relatório Berg, mas assinado, em 1980, numa reunião no Lagos, os líderes dos Estados da OUA vincularam a crise a uma série de choques externos. Entre eles, estavam a deterioração dos termos de comércio de produtos primários, o protecionismo crescente dos países ricos, o grande aumento dos juros e o comprometimento cada vez maior com o serviço da dívida. O Plano de Ação de Lagos, como veio a ser chamado, via, assim, a solução da crise numa maior dependência não dos mecanismos do mercado mundial, mas da capacidade dos Estados africanos de mobilizar os recursos nacionais e patrocinar mais integração e cooperação econômicas mútuas . Ao dar ênfase à confiança coletiva própria por meio da criação posterior de um mercado comum continental, o Plano refletia a influência na época da teoria da dependência, assim como a sensação de fortalecimento que os Estados africanos obtiveram com o término próximo da descolonização formal do continente. No entanto, nem a influência da teoria da dependência nem a sensação de fortalecimento duraram muito.
Pouco depois da promulgação do Plano e em meio a uma situação econômica em rápida deterioração, a seca e a fome atacaram o Sahel com espantosa violência e chegaram ao ponto máximo em 1983-4. No ano seguinte, uma nova cúpula da OUA reuniu-se em Adis Abeba com o objetivo específico de preparar um plano de ação sobre os problemas sociais e econômicos da África a ser apresentado numa sessão especial da Assembléia Geral da ONU. A cúpula produziu um documento, o Programa de Prioridades para a Recuperação Econômica da África, 1986-1990 (PPREA, em inglês Africa’s Priority Programme for Economic Recovery, 1986-1990), que enfatizou mais uma vez o papel dos choques externos no aprofundamento da crise e a necessidade de maior autoconfiança para superá-la. Em marcante contraste com o Plano de Lagos, contudo, o PPREA admitia abertamente a responsabilidade dos governos africanos na crise e as limitações de quaisquer ações realizadas isoladamente pelos Estados africanos. Alinhado com essa admissão, concordava em implementar várias reformas políticas coerentes com o Relatório Berg e pedia à comunidade internacional que agisse para aliviar o fardo esmagador da dívida externa da África e para estabilizar e aumentar os preços pagos por suas exportações. O resultado foi um “pacto” de ação conjunta dos Estados africanos e da “comunidade internacional” para a solução da crise, estabelecido no Programa de ação das Nações Unidas para a Recuperação e o Desenvolvimento Econômico Africano, 1986-1990 (Panurdea, em inglês United Nations Programme of Action for African Economic Recovery and Development, 1986-1990).
Ao mostrar que os Estados africanos cumpriram seu lado no pacto enquanto as potências ocidentais não, Fantu Cheru caracteriza o Panurdea como “simples reencarnação do Relatório Berg”10. Essa caracterização é bastante exata, mas encobre as mudanças ocorridas na posição do próprio Banco Mundial. Enquanto um número crescente de Estados africanos submetia-se aos programas de ajuste estrutural do FMI e do Banco Mundial, com resultados no máximo inconclusivos, tanto a NEP quanto o Banco Mundial começaram a revisar suas receitas neo-utilitárias e de Estado minimalista e a enfatizar o papel das instituições e do “bom governo”11. Em 1997, o Banco Mundial abandonara, para todos os propósitos práticos, a visão minimalista do Estado. Em seu Relatório de Desenvolvimento Mundial daquele ano, as antigas preocupações com o tamanho do aparelho de Estado e a extensão da intervenção pública na economia foram completamente superadas pela necessidade de burocracias eficientes e Estados ativistas na implementação de programas de ajuste estrutural. Entretanto, os novos imperativos conferiam responsabilidade maior ainda às elites e aos governos africanos, tanto pelo fracasso da recuperação de suas economias quanto pelos desastres sociais que acompanharam aquele fracasso. Os surtos de otimismo baseados na maior integração da África na economia mundial, a libertação dos mercados do controle governamental e as oportunidades maiores para empresas privadas – ou seja, a obediência africana às receitas do FMI e do Banco Mundial – foram logo seguidos por avaliações ainda mais pessimistas da capacidade dos governos e das elites da África em solucionar a crise permanente12.
Ao reler nosso Essays on the political economy of Africa [Ensaios sobre a economia política da África], espanto-me tanto com as semelhanças quanto com as diferenças entre a nossa postura e a da NEP, que se tornou dominante nas décadas de 1980 e 1990. Nossa análise antecipava a maior parte das criticas às elites africanas que Bates apresentou treze anos depois. Muito antes do início da tragédia africana, estivemos entre os primeiros a ressaltar que os grupos governantes da época, fosse qual fosse sua tendência ideológica, tinham mais probabilidade de ser parte do problema do que da solução do subdesenvolvimento da África subsaariana. Num ensaio publicado pela primeira vez em 1968, argumentamos que o mais central desses problemas era um padrão de “absorção de excedentes” que patrocinava o consumo ostentatório das elites e subelites urbanas empregadas na burocracia, o consumo de massa relativamente elevado das “aristocracias operárias” e a transferência para o exterior de lucros, juros, dividendos e vários tipos de remuneração. Ao restringir o crescimento da produtividade agrícola e dos mercados domésticos, esse padrão perpetuava a dependência das economias africanas ao crescimento da demanda mundial de produtos primários. A menos que o padrão mudasse, observamos, “a aceleração do crescimento econômico na África tropical dentro do arcabouço político existente é altamente improvável, e, quando for superada a fase de substituição fácil das importações, pode-se esperar na verdade uma desaceleração”.
Ao mesmo tempo, uma mudança do padrão de absorção de excedentes capaz de estimular a produtividade agrícola exigia “um ataque aos privilégios daquelas mesmas classes que constituem a base do poder da qual, provavelmente, depende a maioria dos governos africanos”. Portanto, na década de 1960 caracterizamos o desenvolvimento econômico da África tropical como “crescimento perverso”, ou seja, “crescimento que mina em vez de aumentar a potencialidade da economia para o crescimento a longo prazo”. Numa época de otimismo generalizado com a possibilidade de desenvolvimento econômico da África e, em especial, com o papel desenvolvimentista das elites africanas, estávamos, assim, muito céticos em relação aos dois. Na verdade, chegamos a observar como “o caráter da competição interna na elite da África contemporânea e, em particular, a ascensão dos militares a uma posição de destaque especial mostram o poderio das forças que impelem a situação no sentido contra-revolucionário”13.
No entanto, apesar desses paralelos diagnósticos, nossa variante de economia política diferia radicalmente da NEP em dois aspectos: dava atenção muito maior ao contexto global em que se desenrolava o esforço desenvolvimentista africano e era muito mais neutra quanto ao papel dos Estados nos processos de desenvolvimento. O contexto global se elevava em nossa visão das coisas. Ao contrário da NEP, atribuíamos papel fundamental ao capitalismo mundial, que restringia e configurava o esforço de desenvolvimento e seus resultados em nível nacional. O padrão de absorção de excedentes que solapou o potencial de crescimento a longo prazo das economias africanas – inclusive o consumo ostentatório das elites urbanas e o nível relativamente elevado de consumo de massa de várias “aristocracias operárias” – devia-se, pelo menos, tanto à integração dessas economias nos circuitos globais do capital quanto às políticas das elites africanas voltadas para a apropriação da maior parte possível do excedente econômico. Além disso, como mostra um dos trechos já citados aqui, percebemos que a suplantação da fase de substituição fácil de importações envolveria um aperto das restrições impostas pelo capitalismo mundial ao desenvolvimento nacional da África.
Como veremos, tratava-se de uma economia política capaz de prever e explicar a crise africana da década de 1970. Ainda assim, não foi um guia para o entendimento das forças que, mais tarde, transformariam a crise em tragédia. Não demonstramos perceber o torvelinho incipiente do capitalismo mundial e menos ainda o impacto especialmente desastroso que teria sobre a economia política da África, em forte contraste com seus efeitos benéficos em outras regiões do Terceiro Mundo, mais notadamente na Ásia oriental. Para destacar e tentar corrigir essas deficiências, começarei mostrando o que previmos e o que não previmos na crise africana.
II. O DESENVOLVIMENTO IRREGULAR DA CRISE AFRICANA
Apesar da tendência generalizada de tratar a África subsaariana como um desastre desenvolvimentista uniforme, o subcontinente teve seu quinhão de histórias de sucesso. Em um estudo das experiências de crescimento econômico sustentado na África entre 1960 e 1996, Jean-Claude Berthélemy e Ludvig Soderling identificam até vinte experiências assim, quatro no norte da África e as outras dezesseis na África subsaariana14. São desempenhos excelentes que se comparam de modo bastante favorável com as economias do “milagre” da Ásia oriental. Como tal, constituem um indício conclusivo de que, com todo o respeito à Economist, os países africanos, em comparação com outros países de baixa renda, não têm nenhuma “falha de caráter” que os torne incapazes de desenvolvimento sustentado. No entanto, para nossos atuais objetivos, o principal interesse dessas experiências é sua distribuição no decorrer do tempo.
Na Tabela 1, classifiquei as dezesseis histórias de sucesso subsaarianas pelo ano em que começaram e o ano em que terminaram. Como se pode ver na tabela, a maioria das histórias de sucesso (12 das 16) se aglomera em dois grupos: um maior (8 experiências), que começou nos anos 1960 e terminou na década de 1970, e um menor (4 experiências), iniciado nos anos 1980 e ainda não acabado em 1996. Com exceção de Maurício, demograficamente insignificante, o grupo menor consiste de países que sofreram experiências de desenvolvimento desastrosas nos anos anteriores. Como o crescimento mais tardio não compensou a contração preliminar, seu “sucesso” foi, em grande parte, fictício. O grupo maior, pelo contrário, consiste de verdadeiras histórias de sucesso e fornece indícios circunstanciais bem fortes em apoio à nossa tese de 1968 de que o crescimento econômico vivido pelos países africanos na época era “perverso”, ou seja, seguia um padrão que minava em vez de aumentar seu potencial de desenvolvimento a longo prazo. Na verdade, todas as oito experiências bem-sucedidas começadas no início dos anos 1960 terminaram na década de 1970, com exceção de uma, e a que sobreviveu àquela década (Quênia) terminou no início dos anos 1980. Além disso, nenhum dos países que tiveram esse sucesso precoce volta a surgir no grupo posterior.
Ainda assim, há um aspecto da distribuição temporal da Tabela 1 que nosso diagnóstico de 1968 deixa praticamente inexplicado. É o declínio acentuado do número de histórias de sucesso iniciadas em subperíodos sucessivos: de oito em 1960-64 a três em 1965-69, uma em 1970-74 e nenhuma em 1975-79. Em parte, tal declínio pode ser atribuído à dinâmica do “crescimento perverso”. A extensão do declínio, entretanto, indica alguma mudança maior das condições do desenvolvimento africano – isto é, uma mudança que reduziu de forma drástica as oportunidades não só de continuação das experiências de crescimento forte e sustentado como também de início de novas experiências do tipo. A idéia de que havia mais alguma coisa envolvida na deterioração das condições econômicas da África subsaariana no final da década de 1970 além do “crescimento perverso” é confirmada pelo desempenho geral da região. A Tabela 2, a seguir, mostra o PNB per capita de diversas regiões e países do Terceiro e do Primeiro Mundo como percentual do PNB “mundial” per capita, enquanto a Tabela 3 indica a mudança percentual dos valores da Tabela 2 em subperíodos selecionados e no período 1960-99 como um todo15.
Tomadas em conjunto, as duas tabelas permitem uma visão geral e sintética do sucesso ou fracasso comparativos das regiões do mundo. Três características principais dos dados devem ser comentadas aqui. A primeira é que, embora a África subsaariana tenha, de longe, o pior desempenho dentre as regiões do Terceiro Mundo, esse resultado negativo é, quase inteiramente, um fenômeno pós-1975. Até então, o desempenho africano não era muito pior que o da média mundial e mostrava-se melhor que o do sul da Ásia e até do que as mais ricas regiões do Primeiro Mundo (América do Norte). É só depois de 1975 que a África sofre um verdadeiro colapso, um mergulho seguido de declínio constante nas décadas de 1980 e 1990, principal razão para o desempenho comparativamente ruim no período 1960-99 como um todo. Também nesse caso o “crescimento perverso” pode ajudar a explicar o colapso, mas dificilmente responderia por sua extensão. Em segundo lugar, o colapso africano de 1975-90 foi parte integrante de uma grande mudança da irregularidade inter-regional do desempenho econômico do Terceiro Mundo. Nesse período, desenvolveu-se uma forte bifurcação entre o desempenho em queda da África subsaariana, da América Latina e, em menor extensão, do Oriente Médio e do norte da África, de um lado, e, do outro, o desempenho em ascensão da Ásia oriental e meridional (ver a Tabela 3). O colapso africano foi uma manifestação especialmente extrema dessa divergência. Surge assim a questão de por que a divaricação aconteceu quando aconteceu e por que foi tão deletéria para a África e tão benéfica para a Ásia oriental.
Por fim, tanto o colapso africano quanto a bifurcação inter-regional foram associados a uma reversão importante das tendências dentro do próprio Primeiro Mundo. Como mostram os números aqui indicados, desde 1960 o desempenho comparativo das regiões do Primeiro Mundo caracterizou-se por três tendências principais. Uma é a melhoria muito substancial, até 1990, da posição do Japão e seu nivelamento a partir daí. Outra é a melhoria menos substancial da posição da Europa ocidental, também até 1990, com um nivelamento menos marcante na década de 1990. A terceira é a deterioração da posição norte-americana até 1975 e sua melhoria depois16 . Surge então a questão de como essas tendências se relacionam entre si e se os colapsos africano e latino-americano dos anos 1980 estão ligados de alguma forma à inversão contemporânea dos resultados da América do Norte.
Em suma, o que transformou a crise da África subsaariana em tragédia, com conseqüências desastrosas não só para o bem-estar de seu povo como também para sua posição no mundo em geral, foi o colapso econômico da região na década de 198017. Embora único em sua gravidade, o colapso foi parte integrante de uma mudança mais ampla das tendêtncias entre as regiões do Primeiro e do Terceiro Mundo. Portanto, a tragédia africana deve ser explicada tanto a partir das forças que provocaram essa transformação quanto daquelas que tornaram especialmente grave seu impacto sobre a África. Ou seja, devemos dar respostas às duas perguntas básicas seguintes. Primeira: o que explica a mudança do destino das regiões do mundo no final dos anos 1970? E segunda: por que a mudança afetou positivamente o desempenho de algumas regiões do Terceiro Mundo e negativamente outras, e o desempenho da África subsaariana de forma muito mais negativa do que todas as outras regiões do Terceiro Mundo?
CONTEXTO MUNDIAL SISTÊMICO DA CRISE AFRICANA
Boa parte da resposta à primeira pergunta está na natureza da crise que atingiu o capitalismo mundial na década de 1970 e na conseqüente reação da potência hegemônica, os Estados Unidos. A crise global dos anos 1970 foi uma crise ao mesmo tempo de lucratividade e de legitimidade18. A crise de lucratividade deveu-se em primeiro lugar à intensificação mundial das pressões competitivas sobre as empresas em geral e as indústrias em particular que se seguiu à grande expansão do comércio e da produção mundiais nas décadas de 1950 e 1960. Até certo ponto, a crise de legitimidade emanou da crise de lucratividade. As políticas e ideologias que tiveram papel essencial para provocar e manter a expansão mundial do comércio e da produção nos anos 1950 e 1960 – o chamado keynesianismo em sentido ampliado – tornaram-se contraproducentes, tanto em termos sociais quanto econômicos, depois que a expansão intensificou a competição por recursos humanos e naturais cada vez mais escassos. Mas a crise de legitimidade também se deveu ao custo social e econômico crescente do emprego da coação pelos Estados Unidos para conter o desafio comunista no Terceiro Mundo.
A resposta inicial dos Estados Unidos à crise – sua retirada do Vietnã e a abertura para a China, mas uma adesão constante ao keynesianismo em casa e no exterior – só a piorou, provocando um declínio violento do poder e prestígio norte-americano. Parte integrante desse declínio foi o desencanto generalizado (especialmente forte na África) com as realizações do que Philip McMichael chamara de “projeto de desenvolvimento” iniciado sob hegemonia norte-americana19. Isso não se deveu à deterioração das condições econômicas do Terceiro Mundo. Afinal, de início a crise global pareceu melhorar as perspectivas econômicas desses países, inclusive dos Estados africanos. No início da década de 1970, os termos do comércio – sobretudo para os países produtores de petróleo, mas não só para eles – melhoraram. Além disso, a crise de lucratividade nos países do Primeiro Mundo, combinada à inflação da receita do petróleo depositada rotineiramente nos bancos ocidentais e nos mercados financeiros “extraterritoriais”, criou uma abundância excessiva de liqüidez. Já esse excesso de liqüidez foi reciclado como capital para empréstimos em termos favorabilíssimos a países do Terceiro e do Segundo Mundo, inclusive aos Estados africanos. Em conseqüência, no início da década de 1970 a posição de todas as regiões do Terceiro Mundo, com exceção da Ásia meridional, no mínimo melhorou (ver Tabela 2). Mas foi nessa época que os países do Terceiro Mundo, cada vez mais impacientes com o “projeto de desenvolvimento”, buscaram renegociar os termos de sua incorporação na economia política global por meio da criação de uma Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI). Havia pelo menos três boas razões para isso.
A primeira foi que, mesmo nas regiões do Terceiro Mundo com melhor desempenho, o progresso econômico ficou bem abaixo das expectativas geradas pela descolonização e pela industrialização e modernização generalizadas. Como mostram as tabelas 4 e 5, em relação aos países do Primeiro Mundo, todas as regiões do Terceiro aumentaram seu grau de industrialização (medido pela parcela industrial do PIB) e de urbanização (medido pela parcela não-rural do total da população) num nível bem maior do que aumentaram seu PNB per capita. Em outras palavras, em termos comparativos os países do Terceiro Mundo agüentavam o custo social do aumento da industrialização e da urbanização sem os benefícios econômicos que tinham esperado colher com base na experiência histórica dos países do Primeiro Mundo.
Uma segunda razão para a crise do “projeto de desenvolvimento”, em parte relacionada à primeira, foi que o crescimento econômico pouco fazia para minorar a pobreza no Terceiro Mundo. Já em 1970, o presidente do Banco Mundial, Robert McNamara, reconhecera que as taxas elevadas de crescimento do PNB nos países de baixa renda deixavam a mortalidade infantil “alta”, a expectativa de vida “baixa”, o analfabetismo “generalizado”, o desemprego “endêmico e crescente”, e a distribuição de renda e riqueza “gravemente deformada”20. Embora na maior parte da década de 1970 a renda de muitas nações do Terceiro Mundo tenha aumentado em termos absolutos e relativos, o bem-estar de sua população continuou melhorando no máximo em ritmo lento21.
Finalmente, a melhoria da posição econômica das regiões do Terceiro Mundo ou de, pelo menos, algumas delas em relação ao Primeiro Mundo parecia bem aquém da mudança geral percebida no equilíbrio do poder político mundial que se seguiu ao fracasso norte-americana no Vietnã, à derrota portuguesa na África, às dificuldades israelenses na Guerra de 1973 e à entrada da República Popular da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O primeiro e o segundo choques do petróleo foram, em parte, tanto efeito quanto causa dessa mudança da percepção do equilíbrio mundial de poder. O mesmo aconteceu com o crescimento do fluxo de capital norte-sul, tanto público quanto privado. A exigência do Terceiro Mundo por uma NOEI tinha em vista aumentar e, ao mesmo tempo, institucionalizar essa redistribuição de recursos em andamento22. O Plano de Ação de Lagos, assinado pelos chefes de Estado africanos em 1980, ainda exprimia a sensação de fortalecimento que os governos do Terceiro Mundo obtiveram com a crise de hegemonia norte-americana. Mas o Plano também refletia circunstâncias em rápida transformação. Eram, em parte, efeito da desaceleração do comércio e da produção mundiais, que, depois de 1975, fizeram piorar os termos de comércio para a maioria dos países do Terceiro Mundo não-produtores de petróleo. No entanto, o mais importante foi uma resposta radicalmente nova dos Estados Unidos à queda constante de seu poder e seu prestígio. Esse declínio chegou a seu ponto mais baixo no final da década de 1970, com a Revolução Iraniana, uma outra elevação dos preços do petróleo, a invasão soviética do Afeganistão e uma nova e curiosa crise de confiança no dólar norte-americano. Foi nesse contexto que, nos últimos anos do governo Carter – e depois, com maior determinação, no governo Reagan –, ocorreu uma mudança drástica da política dos Estados Unidos.
Em termos militares, o governo norte-americano começou a evitar o tipo de campo de batalha que o levara à derrota no Vietnã, preferindo, em vez disso, a guerra por procuração (como na Nicarágua, em Angola e no Afeganistão), os confrontos de valor meramente simbólico com inimigos insignificantes (como em Granada e no Panamá) ou bombardeios aéreos, nos quais a alta tecnologia de sua máquina de guerra lhe dava vantagem absoluta (como na Líbia). Ao mesmo tempo, os Estados Unidos iniciaram uma escalada da corrida armamentista com a União Soviética bem além do que esta podia suportar. O mais importante foi que o governo norte-americano passou a recorrer a políticas econômicas – uma contração drástica da oferta de moeda, juros mais altos, redução de impostos para os ricos e liberdade de ação praticamente irrestrita para a iniciativa capitalista – que liquidaram não só o legado do New Deal doméstico mas também, e especialmente, o Fair Deal para os países pobres ostensivamente lançado por Truman em 194923. Com essa bateria de políticas, o governo dos Estados Unidos começou a competir agressivamente pelo capital mundial para financiar o déficit comercial e de transações correntes cada vez maior de sua própria balança de pagamentos, provocando assim um aumento pronunciado dos juros reais em todo o mundo e uma grande inversão do sentido do fluxo global de capitais.
Assim, os Estados Unidos, que nas décadas de 1950 e 1960 tinham sido a principal fonte mundial de liquidez e investimento direto, tornaram-se, nos anos 1980, a maior nação devedora do mundo e, de longe, o maior receptor de capital estrangeiro. A extensão da virada pode ser medida pela mudança nas transações correntes da balança de pagamentos dos Estados Unidos24. Num período de cinco anos, de 1965 a 1969, essa conta ainda registrava um superávit de 12 bilhões de dólares, quase a metade (46%) do superávit total dos países do G7. Em 1970-74, o superávit contraiu-se para 4,1 bilhões de dólares, 21% do total dos países do G7. Em 1975-79, o superávit transformou-se num déficit de 7,4 bilhões de dólares. Depois disso, o déficit atingiu níveis antes inimagináveis: 146,5 bilhões em 1980-84; 660,6 bilhões em 1985-89; 324,4 bilhões em 1990-94; e 912,4 bilhões em 1995- 99. Em conseqüência dessa escalada de déficits norte-americanos, a exportação de capital de 46,8 bilhões de dólares dos países do G7 na década de 1970 (medida por seus superávits consolidados de transações correntes no período 1970-79) transformou-se num ingresso de capitais de 347,4 bilhões em 1980-1989 e de 318,3 bilhões em 1990-199925.
Essa foi uma inversão de proporções históricas que refletiu uma extraordinária capacidade absoluta e relativa da economia política norte-americana de atrair capitais do mundo inteiro. É provável que esse tenha sido o fator determinante de maior importância na inversão contemporânea do destino econômico da América do Norte e da bifurcação do destino econômico das regiões do Terceiro Mundo. Afinal de contas, o redirecionamento do fluxo de capital para os Estados Unidos reinflacionou a demanda efetiva e o investimento no país, enquanto os deflacionava no resto do mundo. Ao mesmo tempo, esse redirecionamento permitiu aos Estados Unidos suportar os grandes déficits em sua balança comercial, que criaram a expansão da demanda de importação de mercadorias que as empresas norte-americanas não consideravam mais lucrativo produzir. Como as pressões competitivas tinham se tornado especialmente intensas na indústria, as tais mercadorias importadas tendiam a ser produtos industrializados, e não agrícolas.
Esses efeitos contrastantes tenderam a dividir as regiões do mundo em dois grupos. De um lado estavam aquelas que, por razões históricas e geográficas, tinham mais vantagem na competição por uma parcela da crescente demanda norte-americana de produtos industrializados baratos. Essas regiões tenderam a beneficiar-se com o redirecionamento do fluxo do capital, já que a melhoria de sua balança de pagamentos reduziu a necessidade de competir com os Estados Unidos no mercado financeiro mundial. Do outro lado estavam regiões que, por razões históricas e geográficas, tinham mais desvantagem na competição por uma parcela da demanda norte-americana. Essas áreas tenderam a enfrentar dificuldades na balança de pagamentos que as deixaram na posição desoladora de competir diretamente com os Estados Unidos no mercado financeiro mundial. Em linhas gerais, parece-me ser essa a fonte primária da bifurcação do destino das regiões do Terceiro Mundo que se iniciou no final da década de 1970 e se materializou por completo nos anos 1980. Uma fonte secundária mas ainda assim significativa da bifurcação foi o surgimento do chamado Consenso de Washington, que acompanhou a mudança da política norte-americana nas esferas militar e financeira e que John Toye chamou com toda a justeza de “contra-revolução” na teoria do desenvolvimento26. O Relatório Berg e a série seguinte de relatórios do Banco Mundial sobre a África, assim como boa parte da NEP, integravam essa contra-revolução. O regime favorável ao desenvolvimento dos trinta anos anteriores estava oficialmente extinto, e os países do Terceiro Mundo foram convidados a obedecer às regras de um jogo bem diferente – ou seja, abrir sua economia nacional ao vento gelado da competição intensificada no mercado mundial e a competir entre si e com os países do Primeiro Mundo para criar, dentro de sua jurisdição, a maior liberdade possível de movimento e ação para a iniciativa capitalista. Principalmente na África, essa nova estratégia de “ajuste estrutural” foi apresentada como antídoto a um modelo estatizante cada vez mais desacreditado e que predominara nos trinta anos anteriores. Na prática, a cura foi muitas vezes pior do que a doença27. Ainda assim, embora a nova estratégia não tivesse cumprido suas promessas de desenvolvimento, conseguiu – querendo ou não – levar os países do Terceiro Mundo a adaptar suas economias às novas condições de acumulação em escala mundial criadas pelo redirecionamento do fluxo de capitais para os Estados Unidos28. Assim, o Consenso de Washington contribuiu para consolidar a bifurcação dos destinos das regiões do Terceiro Mundo.
A CRISE AFRICANA DO PONTO DE VISTA COMPARATIVO
No entanto, por que a Ásia oriental e, em menor extensão, a Ásia meridional tiveram desempenho tão melhor que o da América Latina e, especialmente, que o da África subsaariana nessas mesmas condições? Pelo menos parte da resposta é que, na década de 1970, a América Latina e a África subsaariana tornaram-se bem mais dependentes do capital estrangeiro que a Ásia oriental e meridional. Quando o redirecionamento do fluxo de capitais para os Estados Unidos ganhou ímpeto, essa dependência ficou insustentável. Depois que a crise mexicana de 1982 revelou de forma dramática como o padrão anterior se tornara inviável, a “inundação” de capital que os países do Terceiro Mundo (e, em particular, os países latino-americanos e africanos) tinham sofrido na década de 1970 transformou-se na “seca” repentina dos anos 1980. No caso da África, a seca literal do Sahel deixou as coisas muito piores. Ainda assim, precisamos ter em mente que a versão mexicana da seca atingiu a África antes da seca do Sahel, reduzindo consideravelmente sua capacidade de cuidar dos subseqüentes desastres naturais e causados pelo homem.
A maior dependência anterior ao capital externo pode explicar por que a América Latina e a África subsaariana ficaram mais vulneráveis que a Ásia meridional e oriental à mudança drástica das circunstâncias econômicas mundiais que aconteceu por volta de 1980. Ainda assim, isso mal explica por que, sob as novas condições, a Ásia meridional e oriental teve desempenho tão melhor do que antes de 1980. Também não explica a persistência da melhoria do sul e do leste da Ásia em relação à deterioração latino-americana e, sobretudo, africana. Suspeito que, para entender por que a mudança do contexto global teve um impacto tão irregular e persistente sobre as regiões do Terceiro Mundo, precisamos ver essas regiões como “indivíduos” geo-históricos com uma herança pré-colonial, colonial e pós-colonial específica que lhes conferiu capacidades diferentes de lidar com a mudança.
Isso é mais fácil de dizer que de fazer. Em retrospecto, um dos principais pontos fracos de nossos ensaios sobre a economia política da África é que praticamente não demos atenção às dotações de recursos nem à configuração político-econômica que a África subsaariana herdara das épocas colonial e pré-colonial, em comparação com aquelas herdadas por outras regiões do Terceiro Mundo. Enquanto as relações entre as regiões do Terceiro Mundo foram predominantemente não-competitivas, como no início da década de 1970, essa herança comparativa tinha sua importância, é claro, mas bem menos do que quando tais relações tornaram-se, cada vez mais, predominantemente competitivas, como aconteceu nos anos 1980 e 1990. Aqui, vou me limitar a ilustrar a questão com algumas observações sobre as duas regiões que conheço melhor, a Ásia oriental e a África subsaariana, que também são as de melhor e pior desempenho no período considerado. Vou me concentrar em três questões distintas mas inter-relacionadas: mão-de-obra, iniciativa empresarial e formação do Estado e da economia nacional.
O argumento clássico de Arthur Lewis de que as regiões subdesenvolvidas caracterizam- se por uma “oferta ilimitada de mão-de-obra” na verdade nunca se aplicou à África, onde a mão-de-obra parece ter sido sempre escassa29. A principal forma de interação da África subsaariana com o mundo ocidental na época précolonial – importação de armas e exportação de escravos – piorou, sem dúvida, qualquer escassez estrutural de mão-de-obra com relação aos recursos naturais que pudessem ter existido na região antes daquela interação. Eric Wolf observa que, antes ainda que o comércio de escravos decolasse, “a África não era [...] uma área de população crescente [...] O fator escasso [...] não era a terra, mas a mão-deobra” 30. Os subseqüentes despovoamento e desorganização das atividades produtivas, associados direta ou indiretamente à captura e à exportação de escravos, deixaram uma herança de baixa densidade populacional e pequenos mercados locais que, em várias partes da África, persistiu durante toda a época colonial31.
Sob o colonialismo, a oferta de mão-de-obra se expandiu; mas também cresceu a demanda quando aumentou a exploração dos recursos naturais africanos. Era comum haver grande excedente populacional, prontamente disponível para emprego nas condições oferecidas nos setores formais, nas áreas urbanas. Essas condições, no entanto, só existiam para aquela minoria da força de trabalho que os empregadores privados ou públicos preferiam incorporar de forma estável às suas organizações; isto é, eram as condições de um “mercado de trabalho interno”. Embora de fato houvesse ali uma mão-de-obra excedente, nas condições realmente disponíveis no mercado de trabalho “externo” a oferta tendia a ser, em geral, sempre menor que a procura32.
Durante a descolonização e depois dela, a escassez básica de mão-de-obra reproduziu- se, em parte, com a demanda de recursos naturais da África, que permaneceu elevada durante meados da década de 1970, e, em parte, com o esforço dos Estados recém-independentes para se modernizarem e industrializarem. Só depois do colapso da década de 1980 foi que o déficit estrutural de mão-de-obra da África subsaariana transformou-se em mão-de-obra excedente, visível no aumento acentuado, durante os anos 1980, da migração na maioria dos países da região, apesar do colapso do “mercado de trabalho interno” urbano e da redução da diferença de renda entre a área rural e a urbana. Basta mencionar que, no final da década de 1980, as cidades africanas cresciam 6% a 7% ao ano, contra apenas 2% nas áreas rurais33.
Num forte contraste, a Ásia oriental herdou das épocas colonial e pré-colonial uma condição de subdesenvolvimento que se aproximava mais do tipo ideal de Lewis do que qualquer outra região do Terceiro Mundo – com certeza mais do que a África subsaariana, a América Latina, o Oriente Médio ou o norte da África, e pelo menos tanto quanto a Ásia meridional. A abundância estrutural de mão-de-obra com relação aos recursos naturais da Ásia oriental teve várias origens. Em parte, deveu- se ao predomínio, na região, da cultura material da produção de arroz. Em parte, foi conseqüência da “explosão populacional” centrada na China que acompanhou e seguiu a intensificação das trocas comerciais e outros tipos de troca com o mundo ocidental nos séculos XVI e XVII. Em parte, também, deveu-se à obsolescência e ao abandono gradual das técnicas de uso intensivo de mão-de-obra das indústrias tradicionais, precipitados pela incorporação da região à estrutura do sistema mundial centrado na Europa no final do século XIX e início do XX.
Durante as décadas de 1950 e 1960, a abundância estrutural de mão-de-obra barata com relação aos recursos naturais da região foi preservada pela concentração do esforço desenvolvimentista nas técnicas de uso intensivo de capital e recursos naturais típicas da industrialização ocidental. Só na década de 1980, quando, ao mesmo tempo, esse esforço passou a fazer uso mais intensivo de mão-de-obra e ter mais sucesso, o excedente de mão-de-obra começou a ser absorvido. No entanto, em termos comparativos, esse excedente da Ásia oriental continua a ser um dos maiores dentre as regiões do Terceiro Mundo. Especialmente na China, o crescimento econômico sustentado associou-se à intensificação do fluxo migratório para os centros de expansão que, em números absolutos, ultrapassa e muito os processos semelhantes da África subsaariana.
Essa primeira diferença foi fundamental porque, sob as condições do aumento rápido da competição entre as regiões do Terceiro Mundo na década de 1980, a disponibilidade de uma oferta grande e flexível de mão-de-obra tornou-se o principal fator determinante da capacidade de um país de colher os benefícios em vez de suportar os custos da nova conjuntura. Contudo, foi igualmente importante a presença de um estrato empresarial nativo capaz de mobilizar a oferta de mão-deobra para o acúmulo de capital dentro da região, de modo a expandir sua participação no mercado mundial e na liqüidez global. Felizmente para a Ásia oriental e infelizmente para a África subsaariana, a discrepância entre os recursos empresariais locais herdados do passado colonial e pré-colonial também era muito mais favorável à Ásia oriental. Nesse aspecto, com efeito, a dotação asiática oriental era de fato excepcional. A rede empresarial mais antiga e extensa da região era aquela incorporada à diáspora marítima chinesa. Foi uma rede que dominou a região durante séculos; continuou a fazê-lo até ser superada pelos rivais ocidentais e japoneses, que cresceram sob a carapaça de seus respectivos imperialismos, na segunda metade do século XIX. Depois da Segunda Guerra Mundial, a disseminação do nacionalismo econômico limitou a expansão de todos os tipos de iniciativa multinacional no leste da Ásia. Mas com freqüência promoveu, como que em uma estufa, a formação de novas camadas empresariais em nível nacional. Além disso, ao mesmo tempo, a abundância estrutural de mão-de-obra com relação aos recursos naturais na Ásia oriental continuou a oferecer um ambiente favorável ao surgimentos desses estratos no comércio e na indústria. Mas a maior oportunidade para os novos e antigos estratos lucrarem com a mobilização – dentro e fora das fronteiras – da oferta regional de mão-de-obra veio exatamente quando a crise dos anos 1970 e a reação dos Estados Unidos a ela transformaram a oferta de mão-deobra barata e flexível numa alavanca poderosa na concorrência por um quinhão da crescente demanda norte-americana por produtos industrializados34.
Não se observa nada do gênero na África subsaariana. Ao mesmo tempo, a escassez estrutural de mão-de-obra com relação aos recursos naturais criou um ambiente pouco propício para o surgimento e a reprodução de estratos empresariais no comércio e na indústria. Na época pré-colonial, o comércio de escravos não só intensificou a escassez de mão-de-obra e de empreendedores como também redirecionou os recursos empresariais já minguados para a “indústria de produzir proteção” – tomando emprestada a expressão de Frederic Lane35. Na época colonial, as atividades produtoras de proteção foram assumidas pelo governo e pelo exército coloniais, enquanto as funções empresariais no comércio e na produção passaram a ser exercidas predominantemente por estrangeiros – na verdade, muitas vezes os africanos foram proibidos de administrar negócios36. Como observou Bates, “os povos autóctones de boa parte da África passaram rápida, vigorosa e habilmente a produzir para o mercado colonial”, com integrantes das sociedades agrárias nativas chegando a defender a causa da propriedade privada. Ironicamente, no entanto, os principais agentes do capitalismo na região – os governos das potências coloniais – opuseram-se muitas vezes a essas tendências, defendendo e impondo os direitos de propriedade “comunitária”37.
Depois da independência, o nacionalismo econômico, quer fosse capitalista ou anticapitalista, assustou um grande número de pequenos negócios não-africanos sem criar um número equivalente de novos empresários africanos. Assim, no final dos anos 1970, a África subsaariana estava em desvantagem na incipiente luta competitiva, não só em função da sua escassez estrutural de oferta de mão-de-obra barata e flexível como também da exigüidade do estrato empresarial local capaz de mobilizar de forma lucrativa a pouca oferta de mão-de-obra barata e flexível existente38 . Ainda resta saber se a maior abundância de oferta de mão-de-obra barata e flexível provocada pelo colapso da África subsaariana dos anos 1980 criará, com o tempo, um ambiente mais favorável para o crescimento de uma classe empresarial nativa. Por enquanto, ao provocar uma contração acentuada do mercado interno, o colapso reduziu – em vez de aumentar – a possibilidade dessa evolução.
Por fim, essas vantagens competitivas do leste da Ásia e desvantagens da África subsaariana foram acentuadas pelos legados muito diferentes que cada região herdou no domínio da formação do Estado e da integração econômica nacional. Ao contrário do que se costuma acreditar, durante o século XVIII o leste da Ásia estava à frente de todas as outras regiões do mundo, inclusive a Europa, em ambos os aspectos. Tal precocidade não impediu, no século seguinte, a incorporação subordinada do sistema de Estados e economias nacionais centrado na China à estrutura do sistema centrado na Europa. Mas isso não apagou a herança histórica do sistema centrado na China. Em vez disso, deu início a um processo de hibridação entre as estruturas dos dois sistemas que, depois da Segunda Guerra Mundial (e principalmente depois da crise dos anos 1970), criou condições bastante favoráveis à acumulação de capital39.
Em forte contraste com o leste da Ásia, a África subsaariana herdou das fases colonial e pré-colonial uma configuração político-econômica que dava pouco espaço para a construção de economias nacionais viáveis ou Estados nacionais fortes. A tentativa de, apesar de tudo, construí-los não foi em geral muito longe, não obstante a legitimidade considerável de que gozaram na época da independência40. Naquele período, como enfatizou Mahmood Mamdani, a pauta central dos nacionalistas africanos compreendia três tarefas básicas: “desracializar a sociedade civil, destribalizar o governo nativo e desenvolver a economia no contexto das relações internacionais desiguais”. Embora os regimes nacionalistas de todas as orientações políticas tenham dado grandes passos para desracializar a sociedade civil, pouco ou nada fizeram para destribalizar o poder rural. Na opinião de Mamdani, foi por essa razão “que a desracialização não foi sustentável e que o desenvolvimento acabou fracassando”41. O argumento aqui exposto sugere que os Estados africanos provavelmente fracassariam em termos econômicos ainda que conseguissem se destribalizar. Mesmo assim, o fato de que as elites africanas precisariam destribalizar as estruturas sociais herdadas do colonialismo, se quisessem criar Estados nacionais viáveis, constituiu mais uma desvantagem no ambiente de intensa concorrência criado pela crise global dos anos 1970 e pela reação norte-americana à crise.
Temos de acrescentar que a discrepância entre o potencial de desenvolvimento das duas regiões foi ampliado antes da crise pelo tratamento preferencial que os Estados Unidos conferiram aos seus aliados da Ásia oriental nos primeiros estágios da Guerra Fria. Como ressaltaram muitos observadores, esse tratamento preferencial teve papel importantíssimo na “decolagem” do renascimento econômico da região. A Guerra da Coréia – observa Bruce Cumings – funcionou como o “Plano Marshall do Japão”. As encomendas bélicas “impeliram o Japão em seu triunfante caminho industrial”42 . No total, no período de vinte anos entre 1950 e 1970, a ajuda norte-americana ao Japão foi, em média, de 500 milhões de dólares por ano43 . A ajuda à Coréia do Sul e a Taiwan, combinadas, foi ainda mais maciça. No período 1946-78, o auxílio militar e econômico à Coréia do Sul chegou a 13 bilhões de dólares (600 dólares per capita), e, a Taiwan, a 5,6 bilhões (425 dólares per capita). A verdadeira dimensão dessa prodigalidade revela-se na comparação dos quase 6 bilhões de dólares de ajuda econômica dos Estados Unidos à Coréia do Sul em 1946-78 com o total de 6,89 bilhões de dólares para a África inteira e de 14,8 bilhões para toda a América Latina no mesmo período44 .
Teve a mesma importância o fato de os Estados Unidos darem às exportações de seus aliados do leste asiático acesso privilegiado ao mercado interno norteamericano, tolerando ao mesmo tempo seu protecionismo, seu intervencionismo estatal e até a exclusão das multinacionais norte-americanas, num nível sem paralelos na prática dos Estados Unidos no resto do mundo. “Assim, as três economias políticas do nordeste asiático [Japão, Coréia do Sul e Taiwan] tiveram, na década de 1950, um raro espaço para respirar, um período de incubação permitido a poucos povos do mundo.”45 As economias políticas da África não tiveram essa pausa. Ao contrário, a peça central das práticas da Guerra Fria norte-americana na África foi a substituição do governo democrático de Lumumba pelo regime predatório de Mobuto, no coração do próprio continente. Quando, portanto, a crise econômica mundial da década de 1970 se estabeleceu, a Guerra Fria aumentou ainda mais a possibilidade de que a Ásia oriental tivesse sucesso e a África fracassasse na futura luta competitiva das duas décadas seguintes.
“MÁ SORTE” E “BOM GOVERNO”
Segue-se desta análise que, ao contrário dos fundamentos do Consenso de Washington (e, mutatis mutandis, da maior parte das teorias de desenvolvimento nacional), não existe política que seja, por si só, “boa” ou “má” no decorrer do tempo e do espaço. O que é bom numa região pode ser mau em outra região na mesma época ou na mesma região em outra época. É interessante que, partindo de premissas diferentes, um importante economista do Banco Mundial, William Easterly, chegou recentemente a conclusões muito parecidas. Ele já publicou em co-autoria, no início da década de 1990, um estudo chamado “Good policy or good luck? Country growth performance and temporary shocks” [Boa política ou boa sorte? Crescimento nacional e choques temporários], que mostrava que o desempenho econômico individual dos países variava consideravelmente com o tempo apesar de seus governos continuarem a seguir o mesmo tipo de política. Assim, o bom desempenho econômico parecia depender mais da “boa sorte” do que da “boa política”46. Num artigo recente, Easterly avançou mais um passo em sua posição ao mostrar que uma importante “melhora das variáveis políticas” nos países em desenvolvimento desde 1980 – ou seja, a maior obediência ao programa do Consenso de Washington – associou-se não a uma melhora, mas a uma deterioração violenta de seu desempenho econômico; a taxa média de crescimento da renda per capita caiu de 2,5% em 1960-79 para 0% em 1980-9847.
Easterly não questiona explicitamente os méritos das políticas defendidas pelo Consenso de Washington. Ainda assim, as duas explicações principais que apresenta para o fato de não terem cumprido suas promessas constituem uma crítica devastadora da própria idéia de que seriam “boas” políticas em algum sentido absoluto, como sustentavam seus divulgadores. Em primeiro lugar, sugere que estariam sujeitas a um retorno decrescente; quando impostas além de um certo ponto em algum país específico ou impostas ao mesmo tempo num número crescente de países, deixavam de gerar resultados “bons”. “Embora alguém possa crescer mais depressa do que o vizinho caso seu envolvimento secundário seja maior, seu próprio crescimento não aumenta necessariamente quando a razão do envolvimento secundário (e a de todos os outros) cresce.” A segunda explicação – e, na opinião de Easterly, a mais importante – é que “fatores mundiais, como o aumento mundial da taxa de juros, a elevação do peso da dívida dos países em desenvolvimento, a desaceleração do crescimento do mundo industrializado e a mudança técnica voltada para o talento, podem ter contribuído para a estagnação dos países em desenvolvimento”48.
Embora não formulada especificamente tendo em vista os países africanos, para os nossos propósitos o espantoso dessa dupla explicação é ser muito mais próxima do diagnóstico da crise africana que está por trás do Plano de Ação de Lagos do que daquele apresentado pelo Relatório Berg e pela NEP. Afinal, a explicação é uma admissão inconfundível, embora implícita, da falta de justificativa factual para a afirmativa do Banco Mundial e da NEP de que as “más” políticas e o “mau” governo das elites africanas seriam as principais causas da crise na África. Em vez disso, sugere que a crise deveu-se em primeiro lugar aos processos estruturais e conjunturais da economia global, como concordariam sinceramente os signatários do Plano de Ação de Lagos.
Os processos estruturais da economia global correspondem mais ou menos à primeira parte da explicação de Easterly, que aponta para o fato de que as políticas e as atividades associadas a atributos desejáveis – como riqueza nacional, bemestar e poder – podem estar, e muitas vezes estão, sujeitas a um “problema de composição”. Sua generalização é capaz de criar uma competição que prejudica o objetivo original49. Os processos conjunturais da economia global, pelo contrário, correspondem à segunda explicação de Easterly. Afinal, por mais importantes que fossem os processos estruturais na deflagração da crise global dos anos 1970, a mudança súbita das circunstâncias sistêmicas mundiais ocorrida por volta de 1980 resultou, principalmente, da reação dos Estados Unidos a ela. Foi essa reação, mais do que tudo, que provocou o aumento mundial dos juros, o aprofundamento da recessão global e o fardo crescente da dívida dos países do Terceiro Mundo. A “melhora das variáveis políticas” promovida pelas gestões do Consenso de Washington nada fez para contrabalançar as repercussões negativas dessas mudanças nos países do Terceiro Mundo e, com toda a probabilidade, fortaleceu a tendência deles de reexpandir o poder e a riqueza dos Estados Unidos.
Hoje essa possibilidade é cogitada até nas colunas do New York Times. Seu correspondente Joseph Kahn noticiou recentemente, a respeito da Conferência Internacional de Financiamento e Desenvolvimento das Nações Unidas em Monterrey, México:
Além da China, talvez o único país que parece ter se beneficiado indubitavelmente da tendência mundial para o mercado aberto seja os Estados Unidos, onde o enorme ingresso de capitais ajudou os norte-americanos a gastar mais do que poupam e a importar mais do que exportam. “A tendência da globalização é que o capital excedente está vindo dos países da periferia para o centro, que são os Estados Unidos”, disse George Soros [...] [que] veio a Monterrey para convencer os líderes a apoiar sua idéia de criar uma reserva de 27 bilhões de dólares [...] para financiar o desenvolvimento, principalmente quando o fluxo de capital privado se esgota. “A opinião do governo dos Estados Unidos é que o mercado está sempre certo”, disse Soros. “A minha opinião é que o mercado está quase sempre errado e tem de ser corrigido.”50
Para as baixas da chamada globalização – em primeiro lugar os povos da África subsaariana –, o problema não é que “o mercado est[eja] quase sempre errado e te[nha] de ser corrigido”. O verdadeiro problema é que alguns países ou regiões têm o poder de fazer o mercado mundial trabalhar em seu benefício enquanto outros não têm esse poder e acabam bancando o custo. Tal poder corresponde em boa medida ao que Easterly e seus co-autores chamam de “boa sorte”. Do ponto de vista aqui exposto, o que, em qualquer momento dado, parece ser boa ou má sorte tem, na verdade, raízes profundas numa herança histórica específica que posiciona um país ou uma região de forma favorável ou desfavorável em relação aos processos estruturais e conjunturais dentro do sistema mundial. Se é isso que entendemos por esses termos, então a tragédia africana de fato se deveu a uma grande dose de má sorte – ou seja, a uma herança pré-colonial e colonial que prejudicou gravemente a região no ambiente global de intensa competição gerado pela resposta dos Estados Unidos à crise dos anos 1970. Ainda assim, nem a responsabilidade norte-americana pela mudança da conjuntura mundial nem a má sorte dos africanos de estarem mal-equipados para competir nas novas condições absolvem as elites africanas de não terem feito o que estava a seu alcance para que o colapso da década de 1980 fosse menos grave e para aliviar suas conseqüências sociais desastrosas.
Deixem-me declarar rapidamente quais são, na minha opinião, as três falhas mais visíveis. Primeiro, embora houvesse pouquíssima coisa que os grupos dominantes da África pudessem fazer para impedir a mudança das circunstâncias sistêmicas que precipitaram o colapso econômico da região na década de 1980, ainda assim poderiam tê-la mitigado se fossem mais realistas quanto à sustentabilidade do padrão anterior de crescimento econômico da região. Isso pode ter levado a restrições maiores, não só pela promoção do consumo ostentatório, como também, e principalmente, pela adoção de níveis de endividamento externo que ampliaram a vulnerabilidade da região à mudança do clima sistêmico. Nesse aspecto, a conclamação à autoconfiança coletiva do Plano de Ação de Lagos acertou bem no alvo. Infelizmente, veio tarde demais e, pior ainda, não levou a nenhuma ação.
Em segundo lugar, depois que a mudança aconteceu, seria provavelmente menos danoso suspender os pagamentos da dívida externa do que renegociá-la sob as condições ditadas pelo Banco Mundial. A curto prazo, o colapso teria sido mais grave; mas os efeitos negativos a longo prazo das “boas políticas” impostas pelos órgãos do Consenso de Washington teriam sido evitados. Nesse caso, o Panurdea foi, desde o princípio, um mau negócio para a África, ainda mais porque os Estados africanos cumpriram sua parte no acordo, enquanto os países ricos e seus órgãos não.
Em terceiro lugar, e mais importante, mesmo supondo que não houvesse nada que os grupos governantes da África pudessem fazer para prevenir ou mesmo mitigar o colapso econômico dos anos 1980, havia muito que poderiam fazer para aliviar seu impacto sobre o bem-estar dos cidadãos. Isso nos leva à questão da relação entre riqueza nacional e bem-estar nacional. No último meio século, vem ficando cada vez mais evidente que a hierarquia global da riqueza, medida pelo PNB relativo per capita, é muito estável. Com poucas exceções, os países de baixa renda tendem a permanecer pobres, os de alta renda tendem a permanecer ricos, e os países de renda mediana tendem a ficar no meio51. Ao mesmo tempo, também tornou-se evidente que, dentro de cada estrato, há uma variação considerável do grau de bem-estar (medido por vários indicadores sociais) usufruído pelos cidadãos de Estados diferentes.
Segue-se que, embora talvez haja pouca coisa que a maioria dos Estados possa fazer para que sua economia nacional suba na hierarquia global da riqueza, sempre há algo que cada um deles pode fazer para aumentar (ou reduzir) o bem-estar de seus cidadãos em qualquer nível dado de pobreza ou riqueza52. No contexto africano, o tipo de destribalização que Mamdani defende traria provavelmente mais resultado do que qualquer outra estratégia. Desse ponto de vista, a maioria dos grupos governantes africanos fez, possivelmente, muito menos do que poderia. Mas não está nada claro se, em geral, foram mais deficientes, e até que ponto o foram, que os grupos governantes de outros países e regiões, inclusive dos Estados Unidos. Na verdade, se levarmos em conta as diferenças de riqueza e poder, parece provável que, na comparação, foram é bem melhores.
Deixem-me declarar rapidamente quais são, na minha opinião, as três falhas mais visíveis. Primeiro, embora houvesse pouquíssima coisa que os grupos dominantes da África pudessem fazer para impedir a mudança das circunstâncias sistêmicas que precipitaram o colapso econômico da região na década de 1980, ainda assim poderiam tê-la mitigado se fossem mais realistas quanto à sustentabilidade do padrão anterior de crescimento econômico da região. Isso pode ter levado a restrições maiores, não só pela promoção do consumo ostentatório, como também, e principalmente, pela adoção de níveis de endividamento externo que ampliaram a vulnerabilidade da região à mudança do clima sistêmico. Nesse aspecto, a conclamação à autoconfiança coletiva do Plano de Ação de Lagos acertou bem no alvo. Infelizmente, veio tarde demais e, pior ainda, não levou a nenhuma ação.
Em segundo lugar, depois que a mudança aconteceu, seria provavelmente menos danoso suspender os pagamentos da dívida externa do que renegociá-la sob as condições ditadas pelo Banco Mundial. A curto prazo, o colapso teria sido mais grave; mas os efeitos negativos a longo prazo das “boas políticas” impostas pelos órgãos do Consenso de Washington teriam sido evitados. Nesse caso, o Panurdea foi, desde o princípio, um mau negócio para a África, ainda mais porque os Estados africanos cumpriram sua parte no acordo, enquanto os países ricos e seus órgãos não.
Em terceiro lugar, e mais importante, mesmo supondo que não houvesse nada que os grupos governantes da África pudessem fazer para prevenir ou mesmo mitigar o colapso econômico dos anos 1980, havia muito que poderiam fazer para aliviar seu impacto sobre o bem-estar dos cidadãos. Isso nos leva à questão da relação entre riqueza nacional e bem-estar nacional. No último meio século, vem ficando cada vez mais evidente que a hierarquia global da riqueza, medida pelo PNB relativo per capita, é muito estável. Com poucas exceções, os países de baixa renda tendem a permanecer pobres, os de alta renda tendem a permanecer ricos, e os países de renda mediana tendem a ficar no meio51. Ao mesmo tempo, também tornou-se evidente que, dentro de cada estrato, há uma variação considerável do grau de bem-estar (medido por vários indicadores sociais) usufruído pelos cidadãos de Estados diferentes.
Segue-se que, embora talvez haja pouca coisa que a maioria dos Estados possa fazer para que sua economia nacional suba na hierarquia global da riqueza, sempre há algo que cada um deles pode fazer para aumentar (ou reduzir) o bem-estar de seus cidadãos em qualquer nível dado de pobreza ou riqueza52. No contexto africano, o tipo de destribalização que Mamdani defende traria provavelmente mais resultado do que qualquer outra estratégia. Desse ponto de vista, a maioria dos grupos governantes africanos fez, possivelmente, muito menos do que poderia. Mas não está nada claro se, em geral, foram mais deficientes, e até que ponto o foram, que os grupos governantes de outros países e regiões, inclusive dos Estados Unidos. Na verdade, se levarmos em conta as diferenças de riqueza e poder, parece provável que, na comparação, foram é bem melhores.
___
1 Este artigo, apresentado pela primeira vez na conferência “The Political Economy of Africa Revisited” [Reexame da Economia Política da África], no Institute for Global Studies, na Johns Hopkins University, em abril de 2002, nasceu de um projeto conjunto com John Saul que tinha como objetivo avaliar nossos textos sobre a economia política da África trinta anos depois de sua publicação. Para preparar esta versão do artigo, contei bastante com a ajuda de Ben Brewer, Jake Lowinger, Darlene Miller e Cagla Ozgur e com os comentários de John Saul, Beverly Silver e José Itzigsohn sobre as versões anteriores. A expressão “tragédia africana” é de Colin Leys: “Confronting the African tragedy”, New Left Review, I/204, março-abril de 1994, p. 33-47.
2 Ver o relatório do Programa de Desenvolvimento da ONU, Human Development Report 2001, p. 144, 165, 169. Os números desse relatório vêm da ONU, da OMS e da FAO.
3 Isso se fez numa série de artigos mais tarde reunidos em Essays on the political economy of Africa (Nova York, 1973). Naquela coletânea, assim como neste artigo, “África” refere-se à África subsaariana.
4 Banco Mundial, Accelerated development in Subsaarian Africa: an agenda for action (Washington, DC, 1981).
5 Robert Bates, Markets and States in tropical Africa: the political basis of agricultural policy (Berkeley, 1981). Sobre o surgimento da “nova” economia política da África nos anos 1980, ver, entre outros, Carol Lancaster, “Political economy and policy reform in Sub-Saharan Africa”, em Stephen Commins (org.), Africa’s development challenges and the World Bank (Boulder, 1988).
6 Ver especialmente, do Banco Mundial, Toward sustained development in Sub-Saharan Africa: a joint programme of action (Washington, DC, 1984); e Financing adjustment with growth in Subsaarian Africa: 1986-1990 (Washington, DC, 1986).
7 Ver Lancaster, “Political economy and policy reform”, cit., p. 171-3.
8 OUA, The Lagos Plan of Action for the economic development of Africa 1980-2000 (Genebra, 1981).
9 Akilagpa Sawyerr, “The politics of adjustment policy”, em Adedeji, Rasheed e Morrison (eds.), The human dimension of Africa’s persistent economic crisis (Londres, 1990), p. 218-23.
10 Fantu Cheru, The silent revolution in Africa: debt, development and democracy (Londres, 1999), p. 15-6.
11 Robert Bates, Beyond the miracle of the market: the political economy of agrarian development in Kenya (Cambridge, 1989); ver também Banco Mundial, Sub-Saharan Africa: from crisis to sustainable growth: a long-term perspective study (Washington, DC, 1989), e idem, Governance and development (Washington, DC, 1992).
12 Ver Ray Bush e Morris Szeftel, “Commentary: bringing imperialismo back in”, Review of African Political Economy, n. 80, 1999, p. 168. Duas matérias de capa da revista Economist também dão uma boa medida desse tipo de mudança. Apenas três anos depois de afirmar, em matéria de capa, que “a África subsaariana está em melhor forma do que há uma geração”, na capa de seu número de 13 a 19 de maio de 2000 a Economist declarou que a África era “O continente sem esperanças”. Depois de repreender a “péssima produção de líderes” da África, que, por “personalizar o poder”, tinham “minado em vez de promover as instituições nacionais” e transformaram seus países em “Estados-fantoches”, vestidos de modernidade mas ocos por dentro, a revista perguntava: “A África tem alguma falha inerente de caráter que a mantém atrasada e incapaz de se desenvolver?”. Observando o contraste entre as duas matérias de capa, a revista empresarial Financial Mail, de Johannesburgo, retorquiu: “Os editores da Economist têm alguma falha de caráter que os torna incapazes de opiniões coerentes?”; ver “The hopeless continent”, World Press Review, outubro de 2000, p. 24-5.
13 Arrighi e Saul, Essays on the political economy of Africa, cit., p. 16-23, 33, 34; destaques acrescentados.
14 Define-se uma experiência de crescimento forte e sustentado como “um período ininterrupto de dez anos ou mais no qual a média móvel do crescimento anual do PIB em cinco anos exceda 3,5%”. As dezesseis experiências subsaarianas que correspondem a esse padrão tiveram duração média de 15,4 anos e taxa de crescimento médio anual de 7,1%. Ver Jean-Claude Berthélemy e Ludvig Soderling, “The role of capital accumulation, adjustment and structural change for economic take-off. Empirical evidence from African growth episodes”, World Development, n. 2, 2001; as médias acima foram calculadas com base na Tabela 1 do citado trabalho.
2 Ver o relatório do Programa de Desenvolvimento da ONU, Human Development Report 2001, p. 144, 165, 169. Os números desse relatório vêm da ONU, da OMS e da FAO.
3 Isso se fez numa série de artigos mais tarde reunidos em Essays on the political economy of Africa (Nova York, 1973). Naquela coletânea, assim como neste artigo, “África” refere-se à África subsaariana.
4 Banco Mundial, Accelerated development in Subsaarian Africa: an agenda for action (Washington, DC, 1981).
5 Robert Bates, Markets and States in tropical Africa: the political basis of agricultural policy (Berkeley, 1981). Sobre o surgimento da “nova” economia política da África nos anos 1980, ver, entre outros, Carol Lancaster, “Political economy and policy reform in Sub-Saharan Africa”, em Stephen Commins (org.), Africa’s development challenges and the World Bank (Boulder, 1988).
6 Ver especialmente, do Banco Mundial, Toward sustained development in Sub-Saharan Africa: a joint programme of action (Washington, DC, 1984); e Financing adjustment with growth in Subsaarian Africa: 1986-1990 (Washington, DC, 1986).
7 Ver Lancaster, “Political economy and policy reform”, cit., p. 171-3.
8 OUA, The Lagos Plan of Action for the economic development of Africa 1980-2000 (Genebra, 1981).
9 Akilagpa Sawyerr, “The politics of adjustment policy”, em Adedeji, Rasheed e Morrison (eds.), The human dimension of Africa’s persistent economic crisis (Londres, 1990), p. 218-23.
10 Fantu Cheru, The silent revolution in Africa: debt, development and democracy (Londres, 1999), p. 15-6.
11 Robert Bates, Beyond the miracle of the market: the political economy of agrarian development in Kenya (Cambridge, 1989); ver também Banco Mundial, Sub-Saharan Africa: from crisis to sustainable growth: a long-term perspective study (Washington, DC, 1989), e idem, Governance and development (Washington, DC, 1992).
12 Ver Ray Bush e Morris Szeftel, “Commentary: bringing imperialismo back in”, Review of African Political Economy, n. 80, 1999, p. 168. Duas matérias de capa da revista Economist também dão uma boa medida desse tipo de mudança. Apenas três anos depois de afirmar, em matéria de capa, que “a África subsaariana está em melhor forma do que há uma geração”, na capa de seu número de 13 a 19 de maio de 2000 a Economist declarou que a África era “O continente sem esperanças”. Depois de repreender a “péssima produção de líderes” da África, que, por “personalizar o poder”, tinham “minado em vez de promover as instituições nacionais” e transformaram seus países em “Estados-fantoches”, vestidos de modernidade mas ocos por dentro, a revista perguntava: “A África tem alguma falha inerente de caráter que a mantém atrasada e incapaz de se desenvolver?”. Observando o contraste entre as duas matérias de capa, a revista empresarial Financial Mail, de Johannesburgo, retorquiu: “Os editores da Economist têm alguma falha de caráter que os torna incapazes de opiniões coerentes?”; ver “The hopeless continent”, World Press Review, outubro de 2000, p. 24-5.
13 Arrighi e Saul, Essays on the political economy of Africa, cit., p. 16-23, 33, 34; destaques acrescentados.
14 Define-se uma experiência de crescimento forte e sustentado como “um período ininterrupto de dez anos ou mais no qual a média móvel do crescimento anual do PIB em cinco anos exceda 3,5%”. As dezesseis experiências subsaarianas que correspondem a esse padrão tiveram duração média de 15,4 anos e taxa de crescimento médio anual de 7,1%. Ver Jean-Claude Berthélemy e Ludvig Soderling, “The role of capital accumulation, adjustment and structural change for economic take-off. Empirical evidence from African growth episodes”, World Development, n. 2, 2001; as médias acima foram calculadas com base na Tabela 1 do citado trabalho.
15 Os valores do PNB relativo per capita mostrados na Tabela 2 são especialmente adequados para aferir as diferenças nacionais de renda e riqueza, assim como o avanço ou a queda na classificação mundial das nações e regiões pela renda e pela riqueza. Como observaremos mais adiante, são medidas muito imperfeitas das diferenças de bem-estar social.
16 Uma quarta característica notável são as oscilações cíclicas e mutuamente contrárias dos valores norte-americanos e europeus ocidentais que podem ser verificadas na Tabela 2. A discussão dessa tendência ultrapassa o escopo deste artigo. Ainda assim, as oscilações são levadas em conta na identificação de tendências que vem a seguir.
17 Quanto às conseqüências sociais mais amplas do colapso africano, ver Mary Chinery-Hesse, “Divergence and convergence in the New World Order”, em Adebayo Adedeji (org.), Africa within the world: beyond dispossession and dependence (Londres, 1993), p. 144-7.
18 Ver meu The long twentieth century: money, power and the origins of our times (Londres, 1994), p. 300-56 [ed. bras.: O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo, 4. ed., Rio de Janeiro, Contraponto, 2003]; e Arrighi, Beverly Silver et al., Chaos and governance in the modern world system (Minneapolis, 1999) [ed. bras.: Caos e governabilidade no moderno sistema mundial, Rio de Janeiro, Contraponto, 2001].
19 Philip McMichael, Development and social change: a global perspective (Thousand Oaks, Califórnia, 1996).
20 Robert McNamara, “The true dimension of the task”, International Development Review, v. 1, 1970, p. 5-6.
21 Dudley Seers, “The birth, life and death of development economics”, Development and Change, outubro de 1979.
22 Stephen Krasner, Structural conflict: the Third World against global liberalism (Berkeley, 1985).
23 Ver McMichael, Development and social change, cit.
24 Deixando de lado “erros e omissões”, o superávit das transações correntes indica a exportação líquida de capital, e os déficits, o ingresso líquido de capital.
25 Todos os valores foram calculados com base em dados do FMI.
26 John Toye, Dilemmas of development: reflections on the counter-revolution in development economics (Oxford, 1993).
27 Ver, entre outros, Yusuf Bangura e Bjorn Beckman, “African workers and structural adjustment: the Nigerian case” e Richard Sandbrook, “Economic crisis, structural adjustment, and the State in Subsaarian Africa”, ambos em Dharam Ghai (org.), The FMI and the South: the social impact of crisis and adjustment (Londres, 1991); Sawyerr, “The politics of adjustment policy”; Paul Mosley e John Weeks, “Has recovery begun? Africa’s adjustment in the 1980s revisited”, World Development, n. 10, 1993; Susan George, “Uses and abuses of African debt”, em Adebayo Adedeji (org.), Africa within the world, cit.; Ademola Ariyo e Afeikhena Jerome, “Privatization in Africa: an appraisal”, World Development, n. 1, 1998; Sarah Bracking, “Structural adjustment: why it wasn’t necessary and why it did work”, Review of African Political Economy, n. 80, 1999; e Jake Lowinger, “Structural adjustment and the neoclassical legacy in Tanzania and Uganda”, artigo não-publicado.
28 Ver meu “World income inequalities and the future of socialism”, New Left Review I/189, setembro-outubro de 1991; McMichael, Development and social change, cit.; Bracking, “Adjustment”, cit.; Manfred Bienefeld, “Structural adjustment: debt collection device or development policy?”, Review (Fernand Braudel Centre), n. 4, 2000.
29 Arthur Lewis, “Economic development with unlimited supplies of labour”, Manchester School, n. 2, 1954. Ver meu “Labour supplies in historic perspective”, republicado como capítulo 5 de Arrighi e Saul, Essays on the political economy of Africa, cit. O artigo era uma crítica não tanto a Lewis (que tinha consciência da limitada aplicabilidade de sua teoria à África), mas à aplicação de sua teoria ao sul da Rodésia por W. L. Barber em The economy of British Central Africa (Londres, 1961).
30 Eric Wolf, Europe and the people without history (Berkeley, 1982), p. 204-5.
31 Ver, entre outros, Bade Onimode, A political economy of the African crisis (Londres, 1988), p. 14-5; e Walter Rodney, How Europe underdeveloped Africa (Washington, DC, 1974), p. 95-113.
32 Ver Arrighi e Saul, Essays on the political economy of Africa, cit., p. 116-29.
33 Vali Jamal, “Adjustment programmes and adjustment: confronting the new parameters of African economies”, em Vali Jamal (org.), Structural adjustment and rural labour markets in Africa (Nova York, 1995), p. 22-3.
34 Sobre a mobilização da oferta regional de mão-de-obra através das fronteiras na Ásia oriental, ver Arrighi, Satoshi Ikeda e Alex Irwan, “The rise of East Asia: one miracle or many?”, em Ravi Palat (org.), Pacific-Asia and the future of the world-system (Westport, 1993); e o meu “The rise of East Asia: world-systemic and regional aspects”, International Journal of Sociology and Social Policy, n. 7, 1996. Sobre a vitalidade dos chineses ultramarinos como estrato empresarial transnacional nas épocas pré-colonial, colonial e pós-colonial, ver Arrighi, Po-keung Hui, Ho-Fung Hung e Mark Selden, “Historical capitalism, East and West”, versão revista de um artigo apresentado no Institute for Global Studies da Johns Hopkins University, em dezembro de 1999.
35 Ver Frederic Lane, Profits from power readings in protection rent and violence-controlling enterprises (Albany, 1979).
36 John Iliffe, The emergence of African capitalism (Minneapolis, 1983).
37 Robert Bates, “Some conventional orthodoxies in the study of agrarian change”, World Politics, n. 2, 1984, p. 240-4.
38 Lancaster, “Political economy and policy reform”, cit., p. 174-5.
39 Ver Arrighi, Hui, Hung e Selden, “Historical capitalism, East and West”, cit.
40 Discordo aqui da tese de Pierre Englebert de que “os Estados de baixa legitimidade não são exclusivos da África, mas sua concentração no continente é única dentre todas as regiões do globo e responde, em parte, pelo diferencial de desempenho econômico entre a África e o resto do mundo” (State legitimacy and development in Africa, Boulder, 2000, p. 6). Suspeito que qualquer indicador válido e confiável da legitimidade do Estado – indicador que, até onde sei, ainda não foi inventado – mostraria que, na época da independência, não se podia observar tal concentração e que toda redução posterior da legitimidade relativa dos Estados africanos foi mais resultado do que causa do desempenho econômico comparativamente ruim da África na década de 1980.
41 Mahmood Mamdani, Citizen and subject: contemporary Africa and the legacy of late colonialism (Princeton, 1996), p. 287-8.
42 Bruce Cumings, “The political economy of the Pacific rim”, em Ravi Palat (org.), Pacific-Asia and the future of the world-system, cit., p. 31.
43 William Borden, The Pacific alliance: United States foreign economic policy and Japanese trade recovery 1947-1955 (Madison, WI, 1984), p. 220.
44 Bruce Cumings, “The origins and development of the Northeast Asian political economy: industrial sectors, product cycles, and political consequences”, em F. C. Deyo (org.), The political economy of New Asian industrialism (Ithaca, 1987), p. 67.
45 Cumings, “The origins and development of the Northeast Asian political economy”, cit., p. 68.
46 William Easterly, Michael Kremer, Lant Pritchett e Lawrence Summers, “Good policy or good luck? Country growth performance and temporary shocks”, Journal of Monetary Economics, v. 32, 1993.
47 William Easterly, “The lost decades: developing countries’ stagnation in spite of policy reform 1980-1998”, Journal of Economic Growth, v. 6, 2001.
48 Easterly, “The lost decades”, cit., p. 135, 137, 151-5.
49 Para uma análise inicial desse tipo de processo, ver Arrighi e Jessica Drangel, “The stratification of the world economy: an exploration of the semiperipheral zone”, Review (Fernand Braudel Centre), verão de 1986; e o meu “Developmentalist illusion: a reconceptualization of the semiperiphery”, em W. G. Martin (org.), Semiperipheral states in the world-economy (Westport, 1990). Há uma análise mais recente em Arrighi, Beverly Silver e Benjamin Brewer, “Industrial convergence and the persistence of the North-South divide”, versão revista de um artigo apresentado na International Studies Association em fevereiro de 2001.
50 “Globalization proves disappointing”, New York Times, 21/3/2002.
51 Ver Arrighi e Drangel, “Stratification of the world economy”, cit.; e Roberto Patricio Korzeniewicz e Timothy Patrick Moran, “World-economic trends in the distribution of income, 1965-1992”, American Journal of Sociology, n. 4, 1997, p. 1000-39, principalmente a Tabela 5.
52 Peter Evans ressaltou recentemente essa possibilidade com referência específica às experiências de Kerala, na Índia, e Porto Alegre, no Brasil, em “Beyond ‘institutional monocropping’: institutions, capabilities, and deliberative development”, artigo não-publicado. Ver também Santosh Mehrotra e Richard Jolly, Development with a human face: experience in social achievements and economic growth (Oxford, 1997).
17 Quanto às conseqüências sociais mais amplas do colapso africano, ver Mary Chinery-Hesse, “Divergence and convergence in the New World Order”, em Adebayo Adedeji (org.), Africa within the world: beyond dispossession and dependence (Londres, 1993), p. 144-7.
18 Ver meu The long twentieth century: money, power and the origins of our times (Londres, 1994), p. 300-56 [ed. bras.: O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo, 4. ed., Rio de Janeiro, Contraponto, 2003]; e Arrighi, Beverly Silver et al., Chaos and governance in the modern world system (Minneapolis, 1999) [ed. bras.: Caos e governabilidade no moderno sistema mundial, Rio de Janeiro, Contraponto, 2001].
19 Philip McMichael, Development and social change: a global perspective (Thousand Oaks, Califórnia, 1996).
20 Robert McNamara, “The true dimension of the task”, International Development Review, v. 1, 1970, p. 5-6.
21 Dudley Seers, “The birth, life and death of development economics”, Development and Change, outubro de 1979.
22 Stephen Krasner, Structural conflict: the Third World against global liberalism (Berkeley, 1985).
23 Ver McMichael, Development and social change, cit.
24 Deixando de lado “erros e omissões”, o superávit das transações correntes indica a exportação líquida de capital, e os déficits, o ingresso líquido de capital.
25 Todos os valores foram calculados com base em dados do FMI.
26 John Toye, Dilemmas of development: reflections on the counter-revolution in development economics (Oxford, 1993).
27 Ver, entre outros, Yusuf Bangura e Bjorn Beckman, “African workers and structural adjustment: the Nigerian case” e Richard Sandbrook, “Economic crisis, structural adjustment, and the State in Subsaarian Africa”, ambos em Dharam Ghai (org.), The FMI and the South: the social impact of crisis and adjustment (Londres, 1991); Sawyerr, “The politics of adjustment policy”; Paul Mosley e John Weeks, “Has recovery begun? Africa’s adjustment in the 1980s revisited”, World Development, n. 10, 1993; Susan George, “Uses and abuses of African debt”, em Adebayo Adedeji (org.), Africa within the world, cit.; Ademola Ariyo e Afeikhena Jerome, “Privatization in Africa: an appraisal”, World Development, n. 1, 1998; Sarah Bracking, “Structural adjustment: why it wasn’t necessary and why it did work”, Review of African Political Economy, n. 80, 1999; e Jake Lowinger, “Structural adjustment and the neoclassical legacy in Tanzania and Uganda”, artigo não-publicado.
28 Ver meu “World income inequalities and the future of socialism”, New Left Review I/189, setembro-outubro de 1991; McMichael, Development and social change, cit.; Bracking, “Adjustment”, cit.; Manfred Bienefeld, “Structural adjustment: debt collection device or development policy?”, Review (Fernand Braudel Centre), n. 4, 2000.
29 Arthur Lewis, “Economic development with unlimited supplies of labour”, Manchester School, n. 2, 1954. Ver meu “Labour supplies in historic perspective”, republicado como capítulo 5 de Arrighi e Saul, Essays on the political economy of Africa, cit. O artigo era uma crítica não tanto a Lewis (que tinha consciência da limitada aplicabilidade de sua teoria à África), mas à aplicação de sua teoria ao sul da Rodésia por W. L. Barber em The economy of British Central Africa (Londres, 1961).
30 Eric Wolf, Europe and the people without history (Berkeley, 1982), p. 204-5.
31 Ver, entre outros, Bade Onimode, A political economy of the African crisis (Londres, 1988), p. 14-5; e Walter Rodney, How Europe underdeveloped Africa (Washington, DC, 1974), p. 95-113.
32 Ver Arrighi e Saul, Essays on the political economy of Africa, cit., p. 116-29.
33 Vali Jamal, “Adjustment programmes and adjustment: confronting the new parameters of African economies”, em Vali Jamal (org.), Structural adjustment and rural labour markets in Africa (Nova York, 1995), p. 22-3.
34 Sobre a mobilização da oferta regional de mão-de-obra através das fronteiras na Ásia oriental, ver Arrighi, Satoshi Ikeda e Alex Irwan, “The rise of East Asia: one miracle or many?”, em Ravi Palat (org.), Pacific-Asia and the future of the world-system (Westport, 1993); e o meu “The rise of East Asia: world-systemic and regional aspects”, International Journal of Sociology and Social Policy, n. 7, 1996. Sobre a vitalidade dos chineses ultramarinos como estrato empresarial transnacional nas épocas pré-colonial, colonial e pós-colonial, ver Arrighi, Po-keung Hui, Ho-Fung Hung e Mark Selden, “Historical capitalism, East and West”, versão revista de um artigo apresentado no Institute for Global Studies da Johns Hopkins University, em dezembro de 1999.
35 Ver Frederic Lane, Profits from power readings in protection rent and violence-controlling enterprises (Albany, 1979).
36 John Iliffe, The emergence of African capitalism (Minneapolis, 1983).
37 Robert Bates, “Some conventional orthodoxies in the study of agrarian change”, World Politics, n. 2, 1984, p. 240-4.
38 Lancaster, “Political economy and policy reform”, cit., p. 174-5.
39 Ver Arrighi, Hui, Hung e Selden, “Historical capitalism, East and West”, cit.
40 Discordo aqui da tese de Pierre Englebert de que “os Estados de baixa legitimidade não são exclusivos da África, mas sua concentração no continente é única dentre todas as regiões do globo e responde, em parte, pelo diferencial de desempenho econômico entre a África e o resto do mundo” (State legitimacy and development in Africa, Boulder, 2000, p. 6). Suspeito que qualquer indicador válido e confiável da legitimidade do Estado – indicador que, até onde sei, ainda não foi inventado – mostraria que, na época da independência, não se podia observar tal concentração e que toda redução posterior da legitimidade relativa dos Estados africanos foi mais resultado do que causa do desempenho econômico comparativamente ruim da África na década de 1980.
41 Mahmood Mamdani, Citizen and subject: contemporary Africa and the legacy of late colonialism (Princeton, 1996), p. 287-8.
42 Bruce Cumings, “The political economy of the Pacific rim”, em Ravi Palat (org.), Pacific-Asia and the future of the world-system, cit., p. 31.
43 William Borden, The Pacific alliance: United States foreign economic policy and Japanese trade recovery 1947-1955 (Madison, WI, 1984), p. 220.
44 Bruce Cumings, “The origins and development of the Northeast Asian political economy: industrial sectors, product cycles, and political consequences”, em F. C. Deyo (org.), The political economy of New Asian industrialism (Ithaca, 1987), p. 67.
45 Cumings, “The origins and development of the Northeast Asian political economy”, cit., p. 68.
46 William Easterly, Michael Kremer, Lant Pritchett e Lawrence Summers, “Good policy or good luck? Country growth performance and temporary shocks”, Journal of Monetary Economics, v. 32, 1993.
47 William Easterly, “The lost decades: developing countries’ stagnation in spite of policy reform 1980-1998”, Journal of Economic Growth, v. 6, 2001.
48 Easterly, “The lost decades”, cit., p. 135, 137, 151-5.
49 Para uma análise inicial desse tipo de processo, ver Arrighi e Jessica Drangel, “The stratification of the world economy: an exploration of the semiperipheral zone”, Review (Fernand Braudel Centre), verão de 1986; e o meu “Developmentalist illusion: a reconceptualization of the semiperiphery”, em W. G. Martin (org.), Semiperipheral states in the world-economy (Westport, 1990). Há uma análise mais recente em Arrighi, Beverly Silver e Benjamin Brewer, “Industrial convergence and the persistence of the North-South divide”, versão revista de um artigo apresentado na International Studies Association em fevereiro de 2001.
50 “Globalization proves disappointing”, New York Times, 21/3/2002.
51 Ver Arrighi e Drangel, “Stratification of the world economy”, cit.; e Roberto Patricio Korzeniewicz e Timothy Patrick Moran, “World-economic trends in the distribution of income, 1965-1992”, American Journal of Sociology, n. 4, 1997, p. 1000-39, principalmente a Tabela 5.
52 Peter Evans ressaltou recentemente essa possibilidade com referência específica às experiências de Kerala, na Índia, e Porto Alegre, no Brasil, em “Beyond ‘institutional monocropping’: institutions, capabilities, and deliberative development”, artigo não-publicado. Ver também Santosh Mehrotra e Richard Jolly, Development with a human face: experience in social achievements and economic growth (Oxford, 1997).

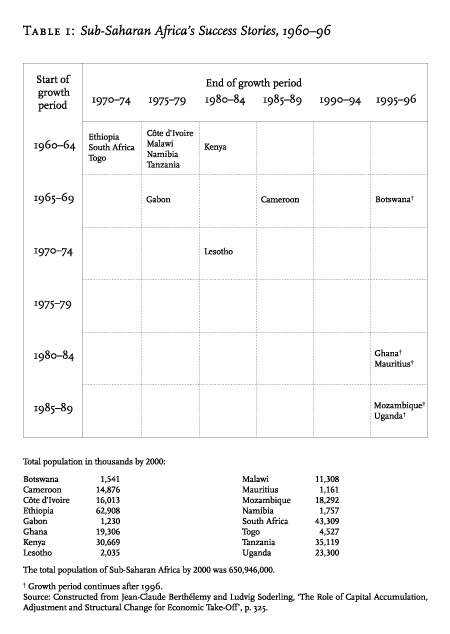
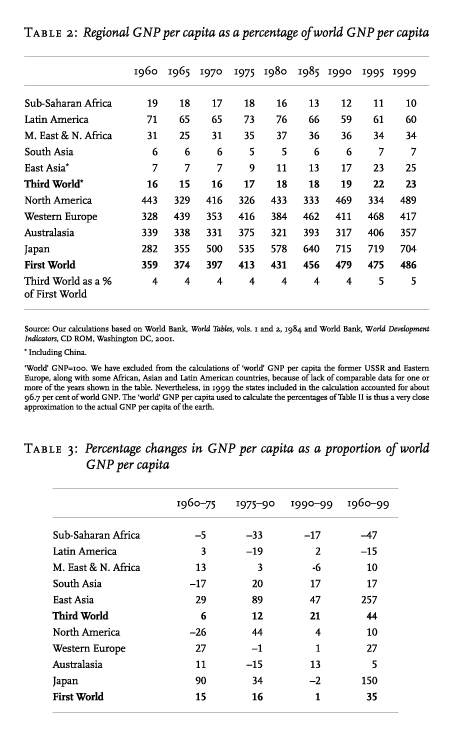
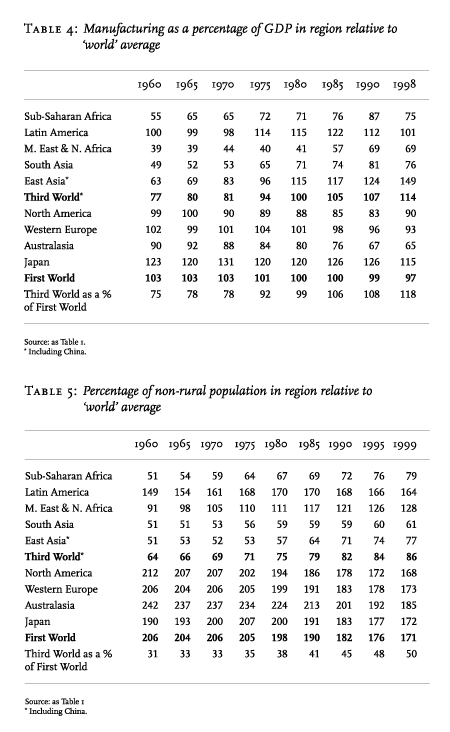




Nenhum comentário:
Postar um comentário