Jeremy Harding
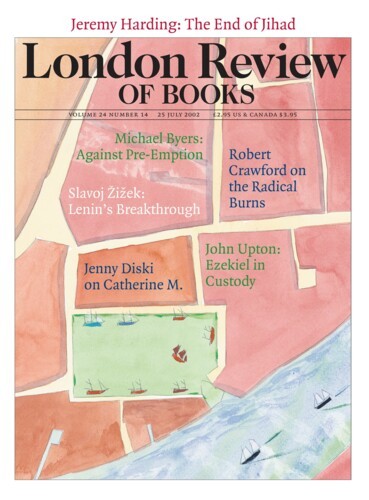 |
| Vol. 24 No. 14 · 25 July 2002 |
Jihad: The Trail of Political Islam
por Gilles Kepel, traduzido por Anthony F. Roberts.
Tauris, 454 pp., £25, Junho 2002, 1 86064 685 9
Tradução / Em 1989, um terremoto em Tipasa, a oeste, bem próximo de Argel, deixou milhares de pessoas desabrigadas. Três anos depois, outro terremoto atingiu subúrbios densamente povoados no Cairo. Nos dois casos, a resposta do Estado não foi melhor do que seria em qualquer país em desenvolvimento, com altas concentrações de população urbana e praticamente nenhum serviço público. Estava aberto o caminho para a intervenção de organizações privadas ricas e eficientes. Na Argélia, quem tomou a iniciativa foi a Frente de Salvação Islâmica, FSI [ing. Islamic Salvation Front, ISF]; no Egito, a Fraternidade Muçulmana.
Quando o terremoto atingiu Tipasa, a FSI havia sido fundada havia apenas seis meses. Mandou para as áreas atingidas suas equipes de resgate, enfermeiras e médicos, em ambulâncias identificadas com o logotipo do grupo. Foi amplamente elogiada por seus esforços. No Egito, a Fraternidade Muçulmana também foi muito elogiada. Depois de anos de incerteza e perseguições desde os anos 1950s, os Irmãos, afinal, entravam em ascensão. Haviam obtido muitos sucessos nas associações profissionais: controlavam a Ordem de Advogados, os hospitais e a Associação de Engenheiros. Quando aconteceu o terremoto, já haviam erguido uma “cidade de tendas” para alojar muçulmanos na Bósnia. Apenas deslocaram parte daquelas tendas para o Egito. A dedicação e a eficiência dos Irmãos depois do terremoto do Cairo valeu-lhe quantidade imensa de doações (dinheiro que o governo Mubarak imediatamente congelou nos bancos).
Nesse estudo extraordinário sobre o Islã militante ao longo do século 20, Gilles Kepel contrasta a forte imagem da FSI em Tipasa e da Fraternidade Muçulmana no Cairo, com a marcada ausência de organizações muçulmanas de auxílio e caridade durante os terríveis terremotos na Turquia em 1999. São dados de campo para apoiar sua tese, empenhada e trabalhosamente testada ao longo do livro, de que os islamistas perderam impulso: que seus grandes avanços foram obtidos nos anos 1970s e 1980s, e que, no início dos anos 1990s, o projeto já estava em declínio.
Kepel, professor do Institut d’Etudes Politiques e figura destacada no CNRS, foi criticado pela ideia, básica em seu pensamento, de que o Islã está destinado a um confronto aberto com a modernidade. Na França, onde é hoje o mais afamado de vários especialistas em “mundos árabe e muçulmano”, a suposição foi considerada prematura, à luz do 11/9. E o mesmo se ouviu nos EUA. Mas desde o lançamento desse livro, há mais de dois anos, Kepel simplesmente incorporou os ataques da al-Qaeda no corpo de sua ambiciosa tese: apresenta a al-Qaeda como um último terrível estertor que confirma sua hipótese. Por si sós, aqueles ataques não podem deter a difusão de uma cultura pós-islamicista – de fato, provavelmente a estimularam – e, seja como for, mantêm conexão muito tênue com o ideal de um Estado islâmico que havia congregado milhões de muçulmanos radicais e conservadores, antes de perder o rumo.
O estudo de Kepel sobre a Argélia mostra como esse ideal pode implantar-se entre grande número de muçulmanos; como o projeto pode desdobrar-se e em que ponto deve-se prever que se desencaminhe. O longo e estéril comando da Frente de Liberação Nacional, que expulsou os franceses da Argélia e assumiu o poder quando da independência em 1962, é importante parte da história. Nos anos 1980s, a FLN foi objeto de ampla hostilidade. O papel dela numa luta anticolonial que mudou (com a mudança demográfica, cada vez menos argelianos lembravam-se dela) deixou de ser fonte de legitimidade. No final da década, acompanhando o firme crescimento da taxa de natalidade, 40% dos 24 milhões de habitantes do país tinham menos de 15 anos. Mais da metade da população vivia em cidades, e o desemprego alcançava os 20%. Em 1989, cerca de 2/3 dos argelianos jovens frequentavam a escola secundária, preparando-se para empregos inexistentes.
Taxas de natalidade crescentes na segunda metade do século; movimentos descontrolados de deslocamento do campo para a cidade; um modelo nacionalista pós-independência que fracassara mais ou menos gravemente; pobres nas cidades com altas expectativas alimentadas pela educação: esses fatores, que explicam o crescimento do ideal islamista na Argélia durante os anos 1980s, operam em praticamente todos os países que Kepel analisa, no Maghreb, no Egito, no Sudão, no Líbano e na Palestina, no Irã, Afeganistão, Paquistão e Malásia.
Cerca de dez anos depois da independência da Argélia, quando visitei o país pela primeira vez, viam-se grupos de homens jovens circulando soturnamente pela capital, reclamando de não terem o que fazer. Não se viam moças e, naqueles dias – antes do sucesso comercial da rai music [1] – não se via nenhuma alternativa à moda ocidental, de bebedeiras generalizadas, vandalismo e indústria de pornografia soft. A FLN arava a areia (na Argélia, areia não falta): consumia os lucros do petróleo, então usados para pagar importações da Europa, do Bloco Oriental e dos EUA. De substituir importações não se cogitava. Apesar de haver uma classe média moderadamente próspera, havia a elite política, altos burocratas e um variado estrato gerencial das empresas estatais, os que mais se beneficiavam da situação. O controle pela FLN do processo de importação-exportação, e os modos pelos quais se beneficiava dele, ficou conhecido como a falcatrua “import-export”. Em meados dos anos 1980s, os grupos de jovens a vagar pelas cidades eram ainda maiores, um pouco mais intimidativos – e à altura de 1986, com o colapso dos preços do petróleo, havia ainda menos, para eles, que na década anterior.
Sob o socialismo, reza a piada, não há desemprego. A Argélia era estado socialista. Logo, aqueles jovens aparentemente sem rumo tinham, é claro, de estar trabalhando. Dizia-se que estavam erguendo paredes. A palavra em árabe para “parede” é hit, e o homem jovem urbanizado e miseravelmente pobre na Argélia ficou conhecido como “hitista” [fr. ing. hittiste]. Em outubro de 1988, os hitistas pararam de contar moscas e promoveram um tumulto: destruíram o shopping center onde os tchi-tchi – a juventude rica do país – reuniam-se e consumiam. Para expor a própria situação de desespero, rasgaram a bandeira nacional e hastearam um saco vazio de cuscuz. Antes do final do mês, houve grandes confrontos com a polícia, nos quais morreram centenas de hitistas. Nas palavras de Kepel, os tumultos de 1988 “marcaram a emergência do jovem urbanizado pobre como uma força a ser levada em conta.” Mas, sozinhos, não poderiam montar qualquer desafio coerente contra a FLN.
Essa foi a tarefa do Islã militante, e havia muitos militantes islamistas disponíveis, muitos dos quais professores e alunos já ativos na pregação e nas escolas religiosas que proliferavam nas periferias de operários – e de hitistas. A fé, nesse caso, havia sido nutrida, como de fato aconteceu, por um influxo de Irmãos da Fraternidade Muçulmana que fugiam de Nasser. Os Irmãos foram recrutados pela FLN para ajudar a implementar sua política de arabização (ou de “des-francesamento” [ing. “de-Frenchification”) nas escolas. “O contingente egípcio”, diz-nos Kepel, “treinou uma geração inteira de professores estritamente arabófonos, que concordavam com as ideias deles e, mais tarde, formaram a base da ampla intelligentsia islamista que formou a FSI”.
A via da confrontação violenta que os islamistas argelianos estavam começando a tomar não era nova, mas, até então, permanecera confinada ao interior do país. Quando começaram os tumultos, já havia um maquis islamista que operava há seis anos. Originalmente, um grupo de fiéis fanáticos altamente belicosos, liderados por um herói da luta anticolonial e empurrados para a clandestinidade pela FLN, apareceu afinal em 1982, como o Movimento Armado Islâmico [ing. Armed Islamic Movement, MIA]. O MIA lançou operações esporádicas nas áreas do país controladas pela FLN durante a guerra contra a França. Assim fazendo, reivindicaram para eles uma continuidade moral entre a luta de libertação nacional e sua própria jihad contra regime “ímpio”. (A hipótese de Kepel é que houve também um paralelo político com o Afeganistão na cabeça dos ideólogos do MIA, dado que, depois da invasão soviética, os mujahidin afegãos eram os “heróis do mundo islâmico”; e Moscou era boa amiga da FLN. “Para os islamistas radicais argelinos” – escreveu ele – “a luta contra os primeiros foi prelúdio para a luta contra os segundos.”) Enquanto Mubarak pôde convocar o clericato conservador contra a sedição dos jovens guerreiros santos, a FLN não encontrou establishment religioso que a ajudasse. Ao contrário: muitos dos “barbudos”, o Barbèfèlène [fr.], que havia cooptado para o Partido, logo depois já estariam aliados à FSI.
A FSI varreu as eleições municipais e regionais de 1990 e começou a instalar seus quadros jovens e ardentes nas prefeituras e conselhos, ao lado de simpatizantes arrancados da devota classe média de pequenos comerciantes e homens de negócios. Tudo isso foi amplamente popular entre os pobres e os crentes fiéis. Diferentes da maioria dos que os antecederam, os funcionários da FSI eram, em geral, bastante justos. Não eram tentados nem seduzidos pela corrupção; levantavam dinheiro para trabalho caritativo e o canalizavam corretamente, sem desperdícios nem “porcentagens”; organizaram uma versão de “sopa pública” para os cidadãos mais pobres. Estava selada a aliança entre intelectuais islamistas, os hitistas e a burguesia religiosa.
Assim sendo... o que deu errado? Para Kepel, a medida do “sucesso” dos islamistas radicais é a Revolução Iraniana. Segundo esse metro, os líderes da FSI estavam à disposição, em vários aspectos. Para expulsar o Xá em 1979, o aiatolá Khomeini teve amplo apoio popular dos pobres das cidades, do clericato e da burguesia – não só das classes médias religiosas, mas também de ateus e até de materialistas dialéticos. Khomeini tomou o cuidado de manter coesa a aliança até estar firmemente instalado no poder; então agiu contra a oposição, real ou potencial, e encontrou meio para eliminar dezenas de milhares de militantes leais das classes baixas urbanas, aos quais o Supremo Líder afinal de contas, nada deu, despachando-os para as terras minadas de Saddam. O erro da FSI, pela hipótese de Kepel, foi recair, nos dias de sucesso, na direção de sua base “natural” de apoio, e ter alienado a classe média secular francófona:
No Irã, a burguesia secularizada apoiara Khomeini porque prometia abertura e a inclusão de todos os elementos da sociedade em seu projeto revolucionário. (...) Na Argélia, ao contrário, logo que a FSI assumiu o controle do poder local (...) os pregadores que falavam aos jovens pobres nas cidades entraram em confrontação, não só com o regime, mas com todo um setor da sociedade que acusavam de “afrancesamento”. Essa noção imprecisa, mediante a qual a FSI expôs todo um substancial setor da classe média urbana à ira dos hitistas, foi – não irracionalmente – construída como ameaça.
As sempre deploráveis práticas ocidentais foram postas sob a mira de atento escrutínio. A FSI introduziu banhos separados nos resorts que controlavam e pressionou quiosques que vendiam vídeos e bebidas alcoólicas a fechar as portas. Foi o desagradável preço a pagar por melhor justiça e melhores serviços providos pelas prefeituras. Nas palavras de Kepel, profundamente realistas, a barreira de proibições antilibertárias e antiliberais “deu aos jovens empobrecidos, humilhados, forçados à abstinência ou à miséria sexual pelas condições em que viviam sufocados em famílias supernumerosas, a chance de se tornarem heróis da castidade que passaram a condenar firmemente os prazeres dos quais haviam sido tão desgraçadamente privados”.
A FSI também caíra na armadilha de atacar simultaneamente dois alvos: o governo e os setores não chauvinistas, não religiosos da sociedade argelina. Khomeini evitou tais tolices. Para aumentar os próprios problemas, os líderes da FSI sequer conseguiam pensar em romper claramente com o regime – única opção para os iranianos nos últimos dias do Xá –, porque seus seguidores estavam ocupados em perseguir a FLN. De fato, os líderes do movimento algumas vezes optaram por ceder ao partido governante, apresentando a luta anticolonial da FLN como uma espécie de jihad – contaminada, infelizmente, por “comunistas francófonos”.
Quando a Guerra do Golfo começou em 1991, houve grandes manifestações de apoio a Saddam. Ali Benhadj, o mais carismático dos dois líderes da FSI – jovem entusiasta, que viajava de motocicleta de uma congregação de hitistas a outra – convocou brigadas de voluntários argelianos para lutar ao lado dos iraquianos. Foi problema para Abassi Madani, o outro líder da FSI, mais conservador. A convocação feita por Benhadj pôs a FSI contra os sauditas, já então o eixo de transmissão da coalizão anti- Saddam: Madani e seus recrutados da FSI, membros cuidadosamente cortejados pela classe média, dependiam do dinheiro e do apoio ideológico dos sauditas. No final, Benhadj, mais radical, levou a palma. Foi momento assustador para todos que, na Argélia, sentiam que os hitistas mal podiam esperar para unir-se a eles.
Os comandantes do Exército, o qual enquanto isso havia sido tão incensado por Benhadj, que falou em frente ao Ministério da Defesa, resolveram dar um basta nas manifestações e, sem dúvida, também na própria FSI. Para Kepel, esse movimento, muito mais que o cancelamento de eleições parlamentares, nas quais a FSI teria obtido interessante maioria, marcou o ponto de virada.
Foi implantado um estado de emergência; Benhadj e Madani foram presos; os hitistas foram varridos das ruas e o logotipo da FSI foi arrancado das prefeituras virtuosas. Sete meses depois, sob liderança substituta, a FSI disputou eleições para o Parlamento da Argélia. No primeiro turno, obteve um milhão de votos a menos do que alcançara nas eleições locais, mas mesmo assim continuava na disputa, com 118 deputados com votos; a FLN mal chegou a 20. Outra vez, o Exército fez o serviço. O segundo turno das eleições foi cancelado, a FSI foi dissolvida e, poucos meses depois, os dirigentes e milhares de seguidores dos movimentos de base foram enviados para campos de prisioneiros no Sahara.
Para Kepel, a FSI mostrara-se “incapaz de tomar o poder”, quer dizer: não controlou o putsch, não cultivou a classe média secular e não controlou os hitistas. É tese discutível: é possível que a via democrática para estabelecer governo teocrático jamais tenha sido possibilidade real; que o segundo turno das eleições parlamentares tivesse sido cancelado, fossem quais fossem os sentimentos da burguesia secular argeliana; que, em outras palavras, a FSI sempre seria incapaz de quebrar o monopólio estatal da violência (e essa parece ser a versão mais acertada, se se analisam as coisas, em retrospectiva).
Kepel prefere a visão esquemática mais ampla. Daí a referência constante, país a país, aos jovens pobres das cidades e à classe média desiludida, parceiros esquisitos que teriam de dançar em torno do mesmo fogo, se se tratasse de implantar governo conforme aos desejos de Deus. É também mestre da narrativa, exímio cão farejador político que sabe seguir uma trilha até a origem, dando a devida atenção aos veementes pequenos detalhes que confirmam sua hipótese central ou, vez ou outra a negam, ajudando a comprová-la. Ao mesmo tempo, seu trabalho é extremamente útil para encadear as grandes derivas que se movem pelo mundo muçulmano, superando desapontamentos e frustrações e demarcando a incansável caminhada em busca de supremacia, que encorajou o surgimento dos guerreiros de Deus.
Os motivos recorrentes nessa narrativa são o fracasso do projeto nacionalista e a fortuna mutável da Arábia Saudita, regime com pretensões missionárias no mundo muçulmano, que sempre se viu desafiado, dos anos 1950s em diante, por desenvolvimentos no Egito e em outros pontos do Oriente Médio. Muitas das robustas ideias seculares que uma vez circularam nos estados árabes pós-coloniais já estavam exauridas à altura da metade da Guerra Fria. Depois da derrota árabe em 1967 e do Setembro Negro – a derrota dos palestinos na Jordânia em 1970 (ano, também, em que Nasser morreu) – o nacionalismo tornou-se escudo oco. Havia agitação nas universidades, mas a Esquerda no Egito, e seus imitadores em outros estados de maioria muçulmana, já não conseguia alcançar o mesmo poder de disseminação que ainda se via na Esquerda europeia. Na avaliação de Kepel, suas posições já eram, então, radicais demais para a classe média, e ‘teórico-rarefeitas’ demais para as massas.
À altura dos anos 1970s, a maré já estava virando a favor das ideias teocráticas. Quando Sadat mandou libertar das prisões os Irmãos da Fraternidade Muçulmana, eles imediatamente se encaminharam para as universidades e iniciaram o trabalho de conquistar terreno à Esquerda. Sadat, enquanto isso, atacava a oposição secular e apertava o cerco contra a imprensa. Em pouco tempo, as mesquitas já eram o único espaço de real debate político no país.
Os sauditas sentiram-se aliviados de ver Nasser pelas costas. Haviam tentado promover sua visão conservadora de mundo contra a visão nasserista carismática de um Islã firmemente associado ao socialismo, ao panarabismo, ao Terceiro-Mundismo e a outros credos congêneres. O Reino saudita lançara incontáveis contraofensivas nos anos 1960s, inclusive a criação da Liga Mundial Muçulmana [orig. Muslim World League], da qual choviam fundos e proselitismo, promovendo assim a causa saudita contra qualquer nacionalismo progressista. Com a guerra de outubro de 1973 e o embargo do petróleo, o equilíbrio do poder tendeu naturalmente a favor de Riad. A decisão de sequestrar e tornar refém o ocidente inflou imensamente o prestígio dos sauditas e, no vácuo deixado pelo panarabismo, garantiu maior audiência para a tradição do Islã wahhabista professada no Reino Saudita, com sua preferência ultraconservadora, doutrinária, monolítica; seu desprezo por variantes e sincretismo locais; e seu ódio a imagens santas e santuários.
O prestígio internacional veio acompanhado por aumento nos lucros do petróleo. Os bons serviços caritativos dos wahhabistas redobraram em casa e noutros países: mesquitas, casas de caridade, manuais de bom comportamento, produção infindável e incansável distribuição de Corãos gratuitos e disseminação do mais sombrio wahhabismo em todo o mundo muçulmano sunita.
Simultaneamente, começou a deportação, de volta aos países de origem, de trabalhadores migrantes que haviam acorrido ao Reino Saudita. Durante o resto da década, quando os próprios trabalhadores expatriados voltavam para casa, no Cairo, em Amã, em Rabat, em Khartoum ou Karachi, chegavam já equipados não só com uma visão wahhabista de mundo, mas também com o dinheiro correspondente às primeiras recompensas a que haviam feito jus no plano terreno.
A Revolução Iraniana de 1979 foi duro golpe contra a tão custosa hegemonia que os sauditas haviam construído – o mais duro golpe, de fato, desde Nasser. (Houve até manifestações de peregrinos iranianos radicais em Meca.) A derrubada do Xá aterrorizou muitos governos em países muçulmanos, porque deu status extraordinariamente importante a Khomeini, não só nas terras do Islã, mas em todo o planeta. Despachara para longe os EUA e, então, incitava os muçulmanos de todo o mundo a levantarem-se contra seus governos ímpios. Os sauditas haviam consumido os anos recentes e bilhões de dólares, tentando espantar, precisamente, esse tipo de inimigo. Os sunitas concentraram-se então na evidência de que os muçulmanos iranianos eram xiitas e, em termos rigorosos, aos olhos da maioria sunita internacional, infiéis. E, na contramão do gigantesco sucesso político que foi a Revolução Iraniana, que parecia, pelo menos naquele momento, eclipsar a questão da ortodoxia, introduziram a ideia de que o novo governo em Teerã seria veículo do “nacionalismo persa”.
Mas o contra-ataque dos wahhabistas, primeiro contra Nasser e seus seguidores, e então contra Khomeini, não surtiu o efeito com o qual Riad contara. Kepel lembra que os jovens, em todo o mundo, foram expostos à ideologia wahhabista, “e absorveram devidamente a mensagem moral e conservadora. (...) O problema era que também prestavam extrema atenção ao seu subtexto desestabilizador.” Esse subtexto tinha longas raízes ancestrais.
Os escritos de Ibn Taymiyya, o puritano anti-intelectual do século 14 cultuado pelos wahhabistas, foram amplamente divulgados durante os anos 1970s e 1980s. O problema era que Ibn Taymiyya podia muito facilmente ser absorvido no pensamento do campo radical do final do século 20, tanto quanto havia sido incorporado 600 anos antes: não bastava professar o Islã; exigia-se observância total dos preceitos. Se se pudesse demonstrar – mesmo que só argumentalmente – que algum inimigo fosse não islâmico, sempre seria justo guerrear contra ele. Quantos reis, príncipes, presidentes vitalícios, comandantes-em-chefe, políticos e homens de Estado nos países pós-coloniais de maioria muçulmana escapariam desse juízo sem concessões? Quais teriam, durante todo o governo e toda a vida, seguido, sem deslize, o Islã ‘do livro’? – E, fosse como fosse, qual era esse livro? De que Islã se tratava?
Os escritos de um intelectual medieval, altamente letrado, altamente político, estavam-se convertendo rapidamente em fundamento e ponto de referência para qualquer justificativa que qualquer um alinhavasse a favor de derrubar, pela violência, governos “ímpios” em pleno século 20. A tal ponto que Abdessalam Faraj, engenheiro-eletricista egípcio, cujos escritos inspiraram o assassinato de Sadat em 1981, pôde chamar o presidente de “faraó” e de “apóstata do Islã, alimentado nas mesas do imperialismo e do sionismo”, em escrito recheado de citações de Ibn Taymiyya – fonte à qual teve acesso, provavelmente, nos manuais de divulgação distribuídos fartamente sob patrocínio dos sauditas.
Conforme a palavra de Ibn Taymiyya circulava pelo mundo muçulmano não se pode dizer que muito moderno, e abria caminho até Riad, ela foi ganhando toques agressivamente antissauditas, resultado da penetração crescente dos escritos de outra figura canônica (muito posterior), Sayyid Qutb, Irmão da Fraternidade Muçulmana enforcado por ordem de Nasser em 1966. Qutb, também, invocou a palavra de Ibn Taymiyya, e clamava pela derrubada dos governantes e governos sem deus que via à sua volta, fossem seculares ou – como na Arábia – fingissem ser crentes. Era pensamento antiocidente, pesado, nada imaginativo; e, nos últimos escritos, já era declaradamente anticristão e antijudeu – embora, como acontece muito entre islamistas radicais, seus mais odiados inimigos fossem outros muçulmanos. Para a Arábia Saudita, é má notícia que os escritos de Qutb estejam cada dia mais em voga em Riad. Os escritos de Ibn Taymiyya e Sayyid Qutb frutificam e refrutificam em textos jihadistas radicais, inclusive no tratado “Expulsem os politeístas dos lugares sagrados”, de 1996. Autor: Osama bin Laden.
A invasão soviética do Afeganistão em 1979 foi propícia para o regime saudita. Permitiu ao reino identificar-se moralmente e financeiramente com a resistência afegã e, assim, operar contra a ameaça que vinha do aiatolá. Os sauditas coordenaram a organização de uma espécie de brigada de voluntários dos estados do Golfo, do norte da África e de outros pontos; comandaram a constituição de facções afegãs às quais faltava dinheiro, e passaram a manter as madrassas no Paquistão (onde nasceram os Talibã). Quanto terminou a guerra no Afeganistão, contudo, outra vez a fé fanatizante tão cara aos wahhabistas e seus príncipes voltou-se contra eles, com os árabes veteranos da campanha do Afeganistão zanzando por Peshawar sem ocupação. E, para piorar, a CIA decidiu fechar a torneira.
Nesse ponto, escreve Kepel, nasceu o “salafismo-jihadista” – uma nova “ideologia islamista híbrida, cujo primeiro princípio doutrinal é racionalizar a existência e o comportamento dos militantes”. Salaf significa “parente ancestral”; “salafismo” denota adesão estrita e sem concessões ao pensamento de pensador muito antigo, medieval – caso de Ibn Taymiyya.
Pela definição de Kepel, os jihadistas-salafistas são grupo de guerreiros sem raiz, que não contam nem com o apoio dos pobres nas cidades nem de qualquer segmento de classes médias; são “elétrons livres da jihad”, como se autodenominam, deixados soltos por uma série de eventos no mundo muçulmano, entre os quais a explosão populacional nos estados pós-coloniais; a pobreza relativa entre a maioria dos muçulmanos (apesar do “milagre asiático” dos anos 1990s); inúmeras guerras contra Israel; uma guerra no Líbano; uma revolução no Irã; a invasão do Afeganistão; a Guerra do Golfo e a ininterrupta cadeia de microeventos de violência nos territórios palestinos ocupados por Israel. [2]
Kepel explica que os veteranos em Peshawar distinguiam atentamente entre uma espécie “certa” de salafismo – o deles – e uma espécie errada: uma modalidade “xeiquista”, orientada por intelectuais islamistas cujo pensamento foi modelado para atender às vaidades da Casa de Saud. A ira desses veteranos, que Washington abandonou completamente no final da guerra, manifestou-se no apoio que deram a Saddam antes e durante a Operação Tempestade de Deserto [1991], que eles e muitos outros antes clientes agradecidos dos sauditas, interpretaram como golpe movido por EUA e Israel para dominar todo o Oriente Médio. A arrogância de Nasser e Khomeini foi nada, se comparada àquele novo show de hostilidade. Enquanto isso, no interior do país, a presença das tropas da coalizão polarizara a opinião pública. Quando sauditas liberais – as “prostitutas comunistas”, por exemplo, que fizeram manifestação motorizada em Riad, contra leis que proíbem as mulheres de dirigir carros – tentaram extrair alguma vantagem da situação, foram vaiadas e demitidas dos empregos. (As divisões na sociedade saudita persistem, praticamente invisíveis aos olhos ocidentais.) Dado que os jihadistas-salafistas supervisionam o mundo com foco fechado a partir de Peshawar – ambiente, nas palavras de Kepel, “separado da realidade social” – só viram jaliyya: o estado de barbárie que havia antes de as verdades de Deus serem reveladas. Não é diferente na Arábia Saudita, onde os Locais Sagrados vivem hoje repletos de infiéis.
Interessante, portanto, que no momento da grande dispersão, quando os jihadistas-salafistas começaram a espalhar-se, para o Paquistão, a Argélia, o Sudão, o Egito, o Reino Unido e a Bósnia, e no ponto em que a Guerra do Golfo já desacreditara a opção islamista conservadora aos olhos de tantos crentes, Kepel conclua, com algum alívio, que todo o negócio da jihad jaza em ruínas. O que ele quer dizer é que a aposta de tomar o poder pela força e governar segundo as leis de Deus fracassara em todos os locais, exceto no Irã; e não terá sucesso em nenhum outro ponto no futuro previsível: em lugar algum se veem evidências da aliança de classe que só Khomeini conseguiu forjar.
Para Kepel, o ponto mais alto da maré montante do islamismo foi atingido em 1989, com a retirada soviética do Afeganistão, com a chegada ao poder no Sudão de um regime islamista, com a fatwa contra Rushdie, com a FSI em posição de governar e com a emergência da Fraternidade Muçulmana palestina (o Hamás) depois da 1ª Intifada para desafiar a agenda nacionalista da OLP. Sacudiu até o “secularismo francês tão profundamente enraizado”: “o ano em que todos os partidos deveriam celebrar os 200 anos da Revolução Francesa em espírito de consenso, foi ano de duríssimas críticas contra o uso do véu nas escolas”.
Depois, sobreveio uma década de derrotas. A FSI chegou a ponto de quase ser desmantelada. Mubarak usaria o Exército e o clericato do establishment para marginalizar os engenheiros barbudos, os cientistas de computação barbudos, os médicos barbudos que haviam sido tão ativos no Egito em vários movimentos islamistas, enquanto os atentados com assassinato de turistas de 1993 a 1997 custaram os empregos a egípcios demais, para que deles surgisse algum apoio. O Hamás e outros nos Territórios Ocupados seriam deslocados pela OLP (a OLP, para Kepel, seria o único projeto “nacionalista progressista” sobrevivente), e Arafat recuperaria alguma coisa semelhante a algum controle. Na Bósnia, os destacamentos árabes em torno de Zenica mal deixaram vestígio quase invisível de sua presença depois do Acordo de Dayton. Na Turquia, o Partido Refah, que venceu as eleições parlamentares de 1995, seguiu a via secular forçado pelo governo de coalizão no ano seguinte: Necmettin Erbakan, líder partidário, sobreviveu menos de 12 meses como Primeiro-Ministro. O partido que sucedeu o Refah, sobreviveu recebeu menos de 15% dos votos nas eleições gerais de 1999. Na Malásia, os islamistas que haviam forjado a aliança estudantes/operários nos anos 1970s, consolidados nos anos 1980s, seriam cortejados pelo Primeiro-Ministro, Mahathir Mohamad e em seguida neutralizados em 1998, quando Mohamad esmagou sua principal figura no governo, Anwar Ibrahim. Em 1999, Hasan al-Turabi, principal força do governo islamista no Sudão, despachado para o interior do país. Mais recentemente, os Talibãs, uma espécie de não governo instalado pelo Paquistão, seriam explodidos para fora dos negócios no Afeganistão.
Mas, se a história estava mesmo para acabar no final de 1989, como aconteceu de a fúria dos veteranos árabes no Afeganistão – fúria inflada com dinheiro da CIA e pela Guerra do Golfo – converter-se em exaltação megalomaníaca? Em parte, foi triunfalismo. A vitória contra o comunismo anti-Deus deu lugar ao sentimento de que tudo era possível: emoção que muitos viajantes daquela viagem não sentiam desde a derrubada do Xá (e, por extensão, a derrota dos EUA). Teve também algo a ver com farejar um traidor entre os crentes: quase sempre, os effete, hipócritas sauditas, que conduziram o Satã norte-americano e seu aliado judeu, até os locais sagrados. À época em que alguns desses cavaleiros errantes começavam a unir-se ao que restava dos islamistas – por exemplo, na Argélia –, o potencial para algum movimento de massas em qualquer dos países envolvidos já deixara de existir. Para jihadistas, que jamais estão sós, nada disso foi problema.
Em vários sentidos, o resto da história tem a ver com como aqueles jihadistas e seus camaradas que permaneceram no Afeganistão optaram por fazer valer em casa as próprias desvantagens. E por levar com eles tantos inimigos quanto possível – também seus inimigos imaginários.
Veio então o 11/9, que Kepel vê como “tentativa para reverter um processo de declínio, por um paroxismo de violência destrutiva.” Assim também os tumultos que se seguiram ao cancelamento das eleições na Argélia em 1992 e a abolição da FSI – muitíssimo mais destrutivos, muitíssimo mais patológicos que os ataques da al-Qaeda aos EUA.
Kepel trata detalhadamente desse período. Para ele o surgimento do Grupo Islamista Armado [em fr. Groupe Islamique Armée], GIA, é desenvolvimento da tendência hitista da FSI, bem como, pouco depois, a criação de outro grupo armado que reunia elementos menos “duros” do movimento, para desafiar o GIA e pôr em prática alguma espécie de balcão de negócios, para o caso de o governo algum dia querer negociar algum acordo. O GIA rejeitou todos os tipos de concessões. Um de seus vários líderes, ou amirs – eram assassinados em rápida sucessão – declarou, pouco depois de constituído o grupo, que o objetivo do GIA não era implantar “regime islâmico moderado apoiado pelo ocidente, mas limpar a terra de todos os ímpios”. Era objetivo que implicava torrencial derramamento de sangue. O Exército engajou-se com furor na perseguição dos dois grupos e sobreveio um conflito de três pontas; no centro, os cidadãos comuns. Em pouco tempo, qualquer tipo de rixa pessoal e de rivalidade doutrinária ou de facção era posta (e decidida) em nome de ou jihad ou antiobscurantismo. Morreram, de 1993 a 1997, mais de 100 mil, contados por alto, no pior período da guerra.
Kepel subestima o papel do Exército naquelas mortes, quando soldados travestiam-se de jihadistas e promoviam vastos surtos de assassinatos, para aumentar a confusão e minar o apoio de que usufruíam os jihadistas. Mas destaca, com precisão, que um Amir do GIA era tão sectário em seu fanatismo, que era considerado, praticamente por todos, como agente dos Serviços Especiais.
Esse é terreno sinistro, em que predominou a violência mais cega, mas Kepel anda por ele com passos frios e atentíssimos. Sente que a agenda de reformas jamais chegou a decolar na Argélia, e que as condições que encorajaram o islamismo desde o primeiro instante ainda permanecem ativas. Mas duvida que os islamistas consigam recobrar-se de uma guerra na qual suas ambições acabaram “literalmente afogadas em sangue”. Apesar do fato de terem obtido apenas 15% dos votos de eleitores alistados, a FLN conquistou mais da metade dos assentos com votos na Assembleia Nacional. Mas, como Kepel seria o primeiro a reconhecer, a violência, embora menos frenética que nos cinco anos passados, ainda está viva. Talvez argumente, com a eloquência de sempre, que não existe o tal “fim limpo”.
Seja como for, o livro é tão persuasivo, tão impecavelmente bem construído, que é difícil resistir a algumas perguntas. Se o islamismo está de fato acabado, o que, digamos, conseguirá minar os pilares básicos da Casa de Saud? Um movimento democrático secular? Seria um alívio. Quanto a isso, será que o Hamás, cujos líderes deixaram-se ficar, lixando a unha do dedo mindinho e perdendo tempo até que os israelenses esmagaram a Jihad Islâmica no início de 1988, será condenado ao fracasso eterno, se Arafat for encurralado, como Bush e Sharon gostariam que seja [3] – e, com ele, todos os palestinos seculares que, por regra, apoiam o Fatah?
E se todas as lutas dos últimos 30 anos são fracassos apenas no sentido de que nenhum governo de homens de Deus é possibilidade real hoje, temos mesmo de considerar a espetacular violência dos jihadistas como o segmento final de uma longa cauda, uma coda, como diz Kepel? Ou deve-se vê-la como antecipação de alguma nova campanha de atrito e de mau governo religioso? O que impedirá que prossigam as matanças sancionadas pelos “ancestrais”, e ameaças esporádicas de destruição em larga escala, que continuarão a disparar as rodadas usuais de contramedidas “de vigilância” e de “segurança preventiva” – não só no ocidente, mas também nos países de maioria muçulmana?
A certeza na qual Kepel opera, de que prossegue a busca, por ex-islamistas e seus parceiros de jornada, por alguma via democrática para avançar, não fecha o caminho das outras possibilidades.
Ou a existência ininterrupta de comunidades sectárias que se afundam na própria retidão, como al-Takfir wa-l Hijra, movimento marginal no Egito que decidiu excomungar todo mundo – é o significado da palavra takfir – e passou a viver em cavernas; ou bandos de proselitistas de longo alcance, como os al-Muhajiroun no Reino Unido, tão ferozes observadores da Xaria. (Os dois tipos, infelizmente, tendem a seguir um grande plano: os quadros dos al-Muhajiroun explicarão detalhadamente por que o Secretário do Interior deve punir com pena de morte a homossexualidade. E quando Shukri Mustafa assumiu o comando do grupo al-Takfir no final dos anos 1970s, preparou sua pequena seita para conquistar o Egito). E há também indivíduos dotados, cheios de energia, que são, eles sós, mini-estados islâmicos ambulantes, nos quais a intolerância e a atenção aos direitos humanos parecem ter atingido a perfeita conciliação. É o caso de Muhammad al-Masari, que a Anistia Internacional considera “prisioneiro de consciência”, defensor incansável de lá uma ou outra “plena liberdade”, mas que excomungou todos os muçulmanos que obedeçam às leis de Riad, e cujas revoadas fantásticas de comunicados enviados do exílio em Londres só se comparam, segundo Kepel, à quantidade ainda mais fantástica de dinheiro que ele deve à British Telecom. Por mais que se deve repensar o mundo muçulmano, alguns desses grupos de um homem só persistirão – na Grã-Bretanha e em outros pontos do mundo.
Kepel é suficientemente sério e cuidadoso para não dizer que o terrorismo jihadista desaparecerá para sempre. Enquanto isso, é difícil saber se fazer guerra a regimes cúmplices, como o dos Talibã – ou, no geral, fazer guerra a regimes ao qual outro regime se oponha, por exemplo, à ditadura no Iraque – conseguirá conter a maré residual da violência islamista. Ou se, dado o extraordinário trabalho que Kepel cumpriu para mostrar o vínculo que há entre miséria moral e miséria material, por um lado, e o desejo por estado de Deus, por outro lado, haveria algo mais imaginativo que o mundo não islâmico possa fazer para minorar aquela miséria e assegurar que, dia a dia, menor e menor e menor número de “elétrons livres” entrem em circulação. São raros, praticamente não há, dentre os jihadistas surgidos nos últimos 30 anos, homem tão rico ou tão influente quanto Osama bin Laden.
Pois uma das lições desse livro é que o islamismo conservador milionário do tipo que põe seus lucros do petróleo a serviço da causa, ao lado da própria teologia, pode gerar desgraça equivalente à que o Xá gerou, ou à que gera um partido independente, a provocar seu contraparte igualmente radical. Enquanto examinamos o horizonte, tentando adivinhar onde a al-Qaeda atacará novamente, pode-se bem concluir que o inimigo do nosso inimigo no Golfo é, também, uma das nossas maiores dívidas jamais saldadas.
Jeremy Harding é editor colaborador do LRB. Seus livros incluem Border Vigils: Keeping Migrants Out of the Rich World e Mother Country, um livro de memórias.



