A insurgência antigovernamental na Síria recebeu uma visão inebriante de triunfo pelas palavras que Obama disse em agosto de 2011: "Assad precisa sair".
David Bromwich
Tradução / A insurgência contra o governo na Síria foi induzida a uma inebriante visão de triunfo, ao ouvir o que o presidente Obama disse em agosto de 2011, que foi traduzido, acertadamente, na manchete “Assad tem de sair”. Antes, Obama já emitira mensagens semelhantes: “Mubarak tem de sair” e “Gaddafi tem de sair”. Obama pode talvez se ter metido na cabeça a ideia de que desempenhava papel benigno na Primavera Árabe – mostrando-se “do lado certo da história” (como ele gosta de dizer). “Assad tem de sair” soou também como se o presidente tivesse incorporado o espírito de George W. Bush; mas talvez não. Obama tem uma queda pelo pouco caso, ou por tolices ditas como se fossem frases solenes para a história, com as quais bem faria se começasse a se preocupar. Em fevereiro de 2010, no auge da pressão para que seu governo agisse contra os "banksters" responsáveis pelo colapso financeiro de 2008, Obama respondeu uma pergunta sobre os CEOs Lloyd Blankfein (do Banco Goldman Sachs) e Jamie Dimon (de J.P. Morgan Chase): "Conheço esses dois caras: são homens de negócios muito bem informados." Era Obama tentando provar a si mesmo que estava “por dentro”, confortável naquele ambiente, suficientemente próximo de Wall Street, para impressionar um dos lados; mas suficientemente distanciado, para merecer a confiança dos eleitores. Não funcionou. O comentário valeu-lhe um grau a menos de confiança dos eleitores e livrou os culpados de boa dose de um saudável medo. Este verão, depois de encontro insatisfatório com Vladimir Putin, Obama disse: "Eu sei que a imprensa gosta de se concentrar na linguagem corporal, e ele tem esse tipo de desleixo, parecendo o garoto entediado no fundo da sala." É frase que até se pode arquivar para as Memórias, supondo que alguém a ache esperta e digna de nota – mas imprópria, vinda de um estadista que descreva outro líder mundial.
Já transcorridos 56 meses de governo Obama, não cabem dúvidas de que Barack Obama gosta de falar. Pensa que os americanos e outros anseiam por ouvir o que ele tenha para dizer, e sobre vários assuntos; conforme essa sua percepção, ele disse, em agosto de 2012, sobre a guerra civil na Síria: "Uma linha vermelha para nós é se começarmos a ver quantidades de armas químicas movidas de cá para lá ou sendo usadas. Isso mudaria meu cálculo." Em março, a versão era outra, para a mesma declaração: o uso de armas químicas por Assad “muda o jogo”. Dois comentários nada diplomáticos. Quem estivesse interessado em empurrar os EUA para mais guerras não diria melhor, nem mais claramente, dos próprios interesses. Quando surgiram algumas evidências de que se usaram armas químicas na Síria, esse ano, primeiro em março, perto de Aleppo, depois em agosto, perto de Damasco, as forças que pressionam a favor do envolvimento dos EUA exigiram, imediatamente, mudança de política. Quem são essas forças? Uma das maiores e das quais menos se fala nos EUA sempre foi a Arábia Saudita. Se é preciso fornecer armas e dinheiro a jihadistas para enfraquecer a Síria e, por essa via, enfraquecer também o Irã, os sauditas sempre se mostram dispostos a fazer tudo isso. Turquia e Qatar também apoiam os jihadistas, contando com auferir vantagem política; e a Israel interessa prolongar a guerra, mas sem deixar que a vitória penda para os jihadistas. Assim Israel brilha com renovado fulgor como único parceiro com que os EUA contam, numa região que vai sendo cada vez mais devastada. Uma matéria publicada pelo New York Times no dia 5 de setembro noticiava manifestação de um ex-diplomata israelense, sobre os jihadistas e o exército sírio: "Que sangrem os dois, hemorragia até a morte: por aqui, esse é o nosso pensamento estratégico. Enquanto continuarem assim, não haverá real ameaça síria."
Depois que emergiram notícias do uso de armas de gás em março, Obama concordou, pela primeira vez em público, com mandar armas norte-americanas para apoiar grupos “do bem” dentro da insurgência na Síria. Depois do incidente de agosto, no qual se registraram mais mortes, Obama anunciou sua conclusão de que Assad ordenara os ataques e que mísseis norte-americanos não tardariam a “punir” a infração atacando alvos significativos do Estado. Ao mesmo tempo, Obama insistia que não queria alterar o rumo da guerra, com a intromissão da força bélica dos EUA. Seu plano não iria além de um bem merecido castigo. Esta formulação parecia trair sua contínua relutância; também mostrava que Obama pode ser levado a agir contra suas inclinações e, mesmo assim, consegue acomodar a coisa aos seus próprios padrões morais.
Não há dúvidas de que houve um ataque. Ninguém sabe ainda, com razoável certeza, quem o ordenou. Assad poderia ter ordenado, mas, dado que estava em vantagem na guerra e o movimento seria suicídio, não se entende como Obama concluiu o que concluiu. Diz-se que os rebeldes não teriam competência técnica para usar o gás, mas há notícias de que estavam de posse de armas químicas; a ideia de uma operação forjada, de provocação, e bem-sucedida, exigiria alto grau de perversão e talento dissimulatório que também são difíceis de aceitar. O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, obscureceu a discussão no final de agosto, quando, primeiro, pediu inspeção do local por inspetores da ONU; e logo depois os alertou para que saíssem de lá, porque os EUA bombardeariam tudo imediatamente. A coisa trouxe de volta ecos de Bush no Iraque em 2003, e Kerry tratou de cancelar a própria ordem; mas, surpreendentemente, declarou que nada do que os inspetores da ONU descobrissem faria, para ele, qualquer diferença.
As quatro páginas de um resumo do “relatório de inteligência”, não sigiloso, que Kerry distribuiu para divulgação pública – e, segundo avaliação do congressista Alan Grayson, o relatório completo, 12 páginas, sigiloso, nada dizia de diferente disso – falam do ponto de vista de “Nós [o governo dos EUA]”. A razão desse uso pouco usual das fórmulas gramaticais é clara: o tal documento não foi produzido pela inteligência dos EUA. Gareth Porter, jornalista de Inter Press Service, examinou as pontas soltas, os “informes” vagos e genéricos, as omissões, as distorções gramaticais reproduzidas na fala de Kerry e concluiu que a ausência de assinatura de James Clapper naquele “relatório” é detalhe muito significativo. Clapper evidentemente se recusou a assinar, porque os dados haviam sido apenas alinhavados uns nos outros, sem qualquer investigação ou trabalho de inteligência (como os dados que Colin Powell apresentou na ONU, em fevereiro de 2003). Kerry falou de precisas 1.429 mortes no ataque de agosto; mas não há dado algum que confirme esse número, que varia muito nos relatos de primeira mão: a inteligência francesa estimou 281 mortos; os Médicos Sem Fronteiras, 355. Em menos de uma semana o “relatório” de Kerry foi desqualificado e desacreditado, mas nem a imprensa, nem o establishment político foram informados disso. Apoiado só em inferências forçadas e pressupostos, dos quais a melhor “pista” era uma comunicação interceptada – gravação de uma fala de um muito perturbado suposto comandante de forças sírias, entregue aos EUA pela inteligência israelense – Obama declarou sua intenção de ordenar um ataque. Em seguida, pediu autorização ao Congresso, para usar força militar e queria poderes para agir como entendesse necessário, para “responder a”, “deter” e “degradar” as capacidades militares e defensivas do governo sírio. Todas essas são palavras sem significado preciso, e foram escolhidas por essa razão. Em grau muito curioso, o pedido de Obama ao Congresso em setembro de 2013 é parecido com o pedido de Bush, para o mesmo fim, em outubro de 2002.
A conversa sobre “punir” Assad é toda ela marcada por uma posição de disciplina parental; não traz qualquer traço semântico da linguagem especializada do Direito Internacional. Não aconteceu por acaso. País que ataque estado soberano, sem agressão prévia, viola leis do Direito Internacional. Quanto a “punições”, até pode acontecer de um governo punir legalmente os próprios cidadãos, mas não é relação possível entre dois países. Um exemplo simples: um pai pode dizer ao filho “Vá para o seu quarto”. Mas ninguém pode dizer a um vizinho indesejável “Você tem de sair”. Obama confunde-se e atrapalha-se, de modo que parece bem genuíno, sempre que se trataria de não ultrapassar a importantes linhas vermelhas dos discursos e das palavras. Anda de um lado para o outro, com excessivo à vontade. No início da crise, tentou armar um estratagema retórico em torno da lei: os EUA e seus aliados, ao punir um ataque a gás contra sírios, que sem dúvida possível fora ordenado pelo presidente da Síria, estaria “fazendo valer normas internacionais”.“Normas internacionais” é expressão que, ultimamente, se ouve por toda parte. Um mundo sem normas (parece ser a implicação inevitável) é mundo em caos. Uma vez que a Rússia não levantaria o veto na ONU e confiado no que lhe diziam franceses e britânicos e o seu próprio governo... quem faria valer as normas internacionais? Quem, se não os EUA?
Muitas forças dentro da política norte-americana operaram para pressionar Obama em direção da guerra. Uma dupla de senadores Republicanos, Lindsey Graham e John McCain, ganharam extraordinário destaque nos veículos da imprensa-empresa, como especialistas em política externa. Comandaram a ala militarizada do Partido Republicano, apesar até da defecção de renegados do Tea Party e libertaristas free lance. E muitos Democratas guardaram para si as próprias dúvidas, para não parecer que se opunham ao presidente. Só quando a Câmara dos Comuns britânica votou contra, afinal a política de guerra dos EUA balançou. O presidente e equipe foram profundamente perturbados pelo resultado daquela votação. O povo e seus representantes respiraram fundo; e a política de guerra dos EUA começou a ser mais amplamente questionada. Que sentido teria o tal ataque “limitado e adequado” [orig. “limited and tailored”] (frase típica de Obama) que simultaneamente aplicaria golpe inesquecível ao “ditador” alvo?
Essa apresentação autocontraditória foi devida em parte a outra das forças que exigiam “castigo” americano ao sírio, a saber, os pregadores de guerra humanitária, e à líder deles, a assessora para segurança nacional de Obama, Susan Rice. A posição dela em pouco difere da antecessora, Condoleezza Rice (não são parentes), mas as duas desenvolveram suas credenciais internas por vias distintas: Condoleezza Rice, como acadêmica especializada em estratégia soviética; Susan Rice, num processo de ascensão dentro da elite política, com uma muito proclamada vocação de consciência para impedir “outra Rwanda”. A campanha doméstica a favor de ataque norte-americano aos sírios foi marcada por uma notável novidade vinda dos agentes promotores de guerra humanitária: mensagens de Twitter, enviadas por Rice e pela embaixadora dos EUA à ONU, Samantha Power, para promover também pelo lado de fora os objetivos pelos quais trabalhavam dentro do governo.
Todas elas são nomes que Obama nomeou recentemente e pelas quais expressou admiração. Mas, ao obedecer a elas e a um novo discípulo delas, recém conquistado, John Kerry, Obama passava a ignorar outra vozes dentro do governo, que teriam enorme peso. Todos os comandantes militares do Estado-Maior das Forças Armadas opunham-se à intervenção na Síria. O chefe dos chefes do Estado-Maior, general Martin Dempsey, já vinha dizendo há meses por que considerava perigoso o ataque. Que para nada serviria, exceto para prolongar a guerra civil; e que exporia bens norte-americanos na região à retaliação, no Afeganistão, na Líbia, por toda a parte. (Susan Rice comandou a campanha para que os EUA, com a OTAN, derrubassem o governo na Líbia. É possível que Obama ainda suponha que a guerra da Líbia tenha sido um sucesso, mas é ilusão só sua, da qual não partilham nem as forças armadas nem o serviço diplomático norte-americano). O depoimento de Dempsey ao Senado e à Câmara de Representantes foi feito com talento, mas, se visava a tranquilizar alguém, teve resultado oposto: a certa altura, o general recusou-se a prever efeitos futuros de algum ataque limitado; e o secretário de Defesa, Chuck Hagel, não conseguiu disfarçar as próprias emoções e respondeu a tudo como se não acreditasse em nenhuma palavra do que dizia. Juntos, esses dois faziam impressionante contraste com o secretário de Estado sentado ali ao lado. Kerry parecia tomado de renovada certeza, absoluta certeza, que ia aumentando a cada resposta, a cada pergunta que lhe era feita.
Verdade é que Kerry funcionava como o mais espetacular boneco de ventríloquo encarregado de vender uma política incoerente. “Não consigo parar de pensar em John Kerry, ontem, todo vaidoso” – disse o demagogo conservador e radialista Rush Limbaugh – “revelando que alguns países do Oriente Médio ofereceram-se para pagar pelo nosso ataque à Síria”. Quero dizer... Já não é ruim que chegue sermos chamados de policiais do mundo? Quem quer ser um policial subornado?! O que haveria de bom nisso? Quem somos nós, agora? Viramos mendigo, pedinte?!”. O provável maior problema de qualquer governo em total desalinho é que ele induz as pessoas a pensar duas vezes sobre tudo que o governo faça ou diga e sobre todas as suas políticas.
No final de agosto, com britânicos ou sem, os EUA estavam posicionados para ir à guerra. Mas a opinião pública já migrara para um ceticismo desconfortável – a proporção, que era de 3:1 a favor dos que não queriam a guerra, subiu, na segunda semana de setembro para mais de 2:1 contra. E foi no meio dessa deriva que o presidente resolveu enviar a questão ao Congresso e pedir que dividissem com ele a responsabilidade. Mas o Congresso, então, já estava refletindo a opinião pública. A consulta sugeriu que Obama queria mais tempo para pensar, e que não queria perder para a Grã-Bretanha, que seguira os procedimentos de um governo constitucional. Mas incongruente e muito estranhamente, Obama logo acrescentou que não seria pautado pela votação no Congresso. O que aí se vê é ambivalência pessoal privada, exposta para contemplação universal. Mas naqueles primeiros dias de setembro já se respirava outro ar, o ar de uma democracia que olhava a própria cara. John McCain foi acusado de leviandade, numa reunião popular no Arizona, por uma mulher que tem um primo sírio. O senador Rand Paul, o branco libertarista do Kentucky, e o Deputado Elijah Cummings, o negro liberal de Baltimore, relataram, ambos, que seus respectivos eleitores opunham-se a qualquer ataque, na proporção de quase 100:1. O presidente e sua secretaria de Estado, e com esses também uma vasta porção da elite política, haviam aprovado a ação militar para derrubar um quarto governo no Oriente Médio, depois de Afeganistão, Iraque e Líbia. Mas o povo dos EUA, dessa vez, disse “não”.
Mesmo assim, na primeira semana de setembro, Obama e Kerry ainda defendiam tanto a ambição delirante quanto a versão minimalista de seu ataque tão premeditado. Ataque decisivo e para incapacitar, que duraria poucos dias: essa parece ter sido a versão que o presidente apresentou a Graham e McCain. Mas o ataque que Kerry antevia, como disse à imprensa britânica dia 9 de setembro, seria: "(...) muito limitado, muito focado, esforço de curto prazo... Estamos falando é disso – esforço incrivelmente pequeno e limitado." E a confusão não fica aí. Recentemente em sua fala à nação, dia 10 de setembro, Obama contradisse Kerry e afirmou que o ataque não seria um beliscão, acrescentando em tom grave: "Os militares dos EUA não dão beliscões."
Dia 9 de setembro, Kerry deixou escapar um comentário, que seria carregado de consequências. O único meio pelo qual Assad conseguiria evitar ataque norte-americano seria ele entregar suas armas químicas a supervisão internacional e eventual destruição. “Claro” – Kerry acrescentou – “que não acontecerá”. Putin ouviu e entrou em cena. Mas, sim, disse Putin, é claro que acontecerá, porque a Síria entregaria suas armas químicas à inspeção internacional e até ao confisco, nos termos de um acordo que a Rússia intermediaria; em segundos, seu ministro de Relações Exteriores, Sergey Lavrov, apareceu com um plano diplomático no qual já vinha trabalhando há meses. A Casa Branca e o Departamento de Estado fizeram de tudo para ficar com os créditos por esse desenvolvimento, mas é quase impossível acreditar que tenha sido resultado de plano conjunto, do qual Kerry tivesse participado. Implicaria que o presidente ter-se-ia posto, ele próprio, numa situação que causaria embaraços ao governo, que o humilharia pessoalmente e que poria o mundo à beira de uma guerra, “porque” sabia da surpresa que surgiria no momento certo. A boia não requisitada que Putin empurrou para Obama levou o presidente a retirar a consulta que encaminhara ao Congresso – mas, isso, só depois de ter absoluta certeza de que a votação aconteceria dia 11/9. Estava a caminho de ser derrotado na Câmara de Representantes e, possivelmente, até no Senado.
Dia 10 de setembro, o presidente falou à nação. Precisou de mais tempo para justificar o ataque que estava devolvendo à prateleira, do que para explicar a nova rota na qual já estava comprometido, mas foi discurso “de abafa” também em outros sentidos: às vezes pedia, às vezes denunciava; dava lições de que o amor à paz tem às vezes de nos envolver em guerras, reiterando o imperativo de construir os EUA em casa, mas tomando o atento cuidado de falar do holocausto de judeus. E fechou com um apelo convencional ao onanismo nacional norte-americano: "(...) estamos sós no mundo, disse o presidente. Somos a nação “excepcional”. Por quase sete décadas os EUA têm sido a âncora da segurança global." Dia seguinte, o New York Times publicou coluna editorial assinada por Putin, que expressou sua esperança de que os norte-americanos escolheriam evitar guerra mais ampla. Falou com consideração, de Obama. Examinei atentamente a fala do presidente à nação, na terça-feira. E tenho de discordar da defesa do excepcionalismo norte-americano. O presidente disse que a política dos EUA é o que “faz diferentes os EUA, o que nos faz excepcionais”. É extremamente perigoso estimular as pessoas a que se vejam, elas mesmas, como diferentes, seja qual for a motivação. Verdade seca, de fonte questionável, mas impossível de negar. Nação que se suponha uma exceção aos padrões observados pelas demais nações é tão boa bisca quanto alguém que se veja, a si mesmo, como exceção.
É pouco provável que Obama mude outra vez, por hora. Mas deixar-se na posição passiva, de quem só ouve o que os russos digam, que responde às vezes sim, às vezes não, às vezes “Vamos analisar”, exporá todo seu governo à acusação de estar “liderando pela retaguarda” demais (foi Obama quem inventou essa, ao jactar-se do que fazia na Líbia). A diplomacia é coisa relativamente nova para Obama. Mas, dessa vez, não teve escolha. Nem Obama pode entregar essa carpintaria delicada às que mais alto gritavam a favor da guerra. Obama terá de trabalhar duro para resistir à pressão para bombardear o Irã que nunca para de vir de Israel e do lobby israelense nos EUA. Delegar grandes responsabilidades de governo pode ser compatível com um sinal de humildade – e até funcionou assim, para Reagan – mas há cenários nos quais essa atitude aproxima-se perigosamente da temeridade ou da irresponsabilidade. Em dezembro de 2011 pediram a Obama que ele confessasse um defeito pessoal; respondeu que o defeito que criticaria em si próprio era a preguiça. Mais uma vez (como o que disse sobre Putin e os banqueiros), melhor que não tivesse dito. Mas, seja como for, aí está a chance para se autorreformar: um tempo para comprometer-se pessoal e profundamente na construção de suas políticas, menos discursos palavrosos, menos comentários descuidados nas entrevistas; ocasião para trabalhar ativamente com novos parceiros, além de França, Grã-Bretanha e IsraelSe quer igualar-se a Putin nas artes da diplomacia e superá-lo no difícil exercício da autocontenção, Obama tem de aproveitar esse momento, também, para reconsiderar o extraordinário aparelho de sigilo em que seu governo está confinado, para tudo que tenha a ver com a segurança e com suas políticas externas.
David Bromwich ensina inglês em Yale. How Words Make Things Happen já está disponível.
Já transcorridos 56 meses de governo Obama, não cabem dúvidas de que Barack Obama gosta de falar. Pensa que os americanos e outros anseiam por ouvir o que ele tenha para dizer, e sobre vários assuntos; conforme essa sua percepção, ele disse, em agosto de 2012, sobre a guerra civil na Síria: "Uma linha vermelha para nós é se começarmos a ver quantidades de armas químicas movidas de cá para lá ou sendo usadas. Isso mudaria meu cálculo." Em março, a versão era outra, para a mesma declaração: o uso de armas químicas por Assad “muda o jogo”. Dois comentários nada diplomáticos. Quem estivesse interessado em empurrar os EUA para mais guerras não diria melhor, nem mais claramente, dos próprios interesses. Quando surgiram algumas evidências de que se usaram armas químicas na Síria, esse ano, primeiro em março, perto de Aleppo, depois em agosto, perto de Damasco, as forças que pressionam a favor do envolvimento dos EUA exigiram, imediatamente, mudança de política. Quem são essas forças? Uma das maiores e das quais menos se fala nos EUA sempre foi a Arábia Saudita. Se é preciso fornecer armas e dinheiro a jihadistas para enfraquecer a Síria e, por essa via, enfraquecer também o Irã, os sauditas sempre se mostram dispostos a fazer tudo isso. Turquia e Qatar também apoiam os jihadistas, contando com auferir vantagem política; e a Israel interessa prolongar a guerra, mas sem deixar que a vitória penda para os jihadistas. Assim Israel brilha com renovado fulgor como único parceiro com que os EUA contam, numa região que vai sendo cada vez mais devastada. Uma matéria publicada pelo New York Times no dia 5 de setembro noticiava manifestação de um ex-diplomata israelense, sobre os jihadistas e o exército sírio: "Que sangrem os dois, hemorragia até a morte: por aqui, esse é o nosso pensamento estratégico. Enquanto continuarem assim, não haverá real ameaça síria."
Depois que emergiram notícias do uso de armas de gás em março, Obama concordou, pela primeira vez em público, com mandar armas norte-americanas para apoiar grupos “do bem” dentro da insurgência na Síria. Depois do incidente de agosto, no qual se registraram mais mortes, Obama anunciou sua conclusão de que Assad ordenara os ataques e que mísseis norte-americanos não tardariam a “punir” a infração atacando alvos significativos do Estado. Ao mesmo tempo, Obama insistia que não queria alterar o rumo da guerra, com a intromissão da força bélica dos EUA. Seu plano não iria além de um bem merecido castigo. Esta formulação parecia trair sua contínua relutância; também mostrava que Obama pode ser levado a agir contra suas inclinações e, mesmo assim, consegue acomodar a coisa aos seus próprios padrões morais.
Não há dúvidas de que houve um ataque. Ninguém sabe ainda, com razoável certeza, quem o ordenou. Assad poderia ter ordenado, mas, dado que estava em vantagem na guerra e o movimento seria suicídio, não se entende como Obama concluiu o que concluiu. Diz-se que os rebeldes não teriam competência técnica para usar o gás, mas há notícias de que estavam de posse de armas químicas; a ideia de uma operação forjada, de provocação, e bem-sucedida, exigiria alto grau de perversão e talento dissimulatório que também são difíceis de aceitar. O secretário de Estado dos EUA, John Kerry, obscureceu a discussão no final de agosto, quando, primeiro, pediu inspeção do local por inspetores da ONU; e logo depois os alertou para que saíssem de lá, porque os EUA bombardeariam tudo imediatamente. A coisa trouxe de volta ecos de Bush no Iraque em 2003, e Kerry tratou de cancelar a própria ordem; mas, surpreendentemente, declarou que nada do que os inspetores da ONU descobrissem faria, para ele, qualquer diferença.
As quatro páginas de um resumo do “relatório de inteligência”, não sigiloso, que Kerry distribuiu para divulgação pública – e, segundo avaliação do congressista Alan Grayson, o relatório completo, 12 páginas, sigiloso, nada dizia de diferente disso – falam do ponto de vista de “Nós [o governo dos EUA]”. A razão desse uso pouco usual das fórmulas gramaticais é clara: o tal documento não foi produzido pela inteligência dos EUA. Gareth Porter, jornalista de Inter Press Service, examinou as pontas soltas, os “informes” vagos e genéricos, as omissões, as distorções gramaticais reproduzidas na fala de Kerry e concluiu que a ausência de assinatura de James Clapper naquele “relatório” é detalhe muito significativo. Clapper evidentemente se recusou a assinar, porque os dados haviam sido apenas alinhavados uns nos outros, sem qualquer investigação ou trabalho de inteligência (como os dados que Colin Powell apresentou na ONU, em fevereiro de 2003). Kerry falou de precisas 1.429 mortes no ataque de agosto; mas não há dado algum que confirme esse número, que varia muito nos relatos de primeira mão: a inteligência francesa estimou 281 mortos; os Médicos Sem Fronteiras, 355. Em menos de uma semana o “relatório” de Kerry foi desqualificado e desacreditado, mas nem a imprensa, nem o establishment político foram informados disso. Apoiado só em inferências forçadas e pressupostos, dos quais a melhor “pista” era uma comunicação interceptada – gravação de uma fala de um muito perturbado suposto comandante de forças sírias, entregue aos EUA pela inteligência israelense – Obama declarou sua intenção de ordenar um ataque. Em seguida, pediu autorização ao Congresso, para usar força militar e queria poderes para agir como entendesse necessário, para “responder a”, “deter” e “degradar” as capacidades militares e defensivas do governo sírio. Todas essas são palavras sem significado preciso, e foram escolhidas por essa razão. Em grau muito curioso, o pedido de Obama ao Congresso em setembro de 2013 é parecido com o pedido de Bush, para o mesmo fim, em outubro de 2002.
A conversa sobre “punir” Assad é toda ela marcada por uma posição de disciplina parental; não traz qualquer traço semântico da linguagem especializada do Direito Internacional. Não aconteceu por acaso. País que ataque estado soberano, sem agressão prévia, viola leis do Direito Internacional. Quanto a “punições”, até pode acontecer de um governo punir legalmente os próprios cidadãos, mas não é relação possível entre dois países. Um exemplo simples: um pai pode dizer ao filho “Vá para o seu quarto”. Mas ninguém pode dizer a um vizinho indesejável “Você tem de sair”. Obama confunde-se e atrapalha-se, de modo que parece bem genuíno, sempre que se trataria de não ultrapassar a importantes linhas vermelhas dos discursos e das palavras. Anda de um lado para o outro, com excessivo à vontade. No início da crise, tentou armar um estratagema retórico em torno da lei: os EUA e seus aliados, ao punir um ataque a gás contra sírios, que sem dúvida possível fora ordenado pelo presidente da Síria, estaria “fazendo valer normas internacionais”.“Normas internacionais” é expressão que, ultimamente, se ouve por toda parte. Um mundo sem normas (parece ser a implicação inevitável) é mundo em caos. Uma vez que a Rússia não levantaria o veto na ONU e confiado no que lhe diziam franceses e britânicos e o seu próprio governo... quem faria valer as normas internacionais? Quem, se não os EUA?
Muitas forças dentro da política norte-americana operaram para pressionar Obama em direção da guerra. Uma dupla de senadores Republicanos, Lindsey Graham e John McCain, ganharam extraordinário destaque nos veículos da imprensa-empresa, como especialistas em política externa. Comandaram a ala militarizada do Partido Republicano, apesar até da defecção de renegados do Tea Party e libertaristas free lance. E muitos Democratas guardaram para si as próprias dúvidas, para não parecer que se opunham ao presidente. Só quando a Câmara dos Comuns britânica votou contra, afinal a política de guerra dos EUA balançou. O presidente e equipe foram profundamente perturbados pelo resultado daquela votação. O povo e seus representantes respiraram fundo; e a política de guerra dos EUA começou a ser mais amplamente questionada. Que sentido teria o tal ataque “limitado e adequado” [orig. “limited and tailored”] (frase típica de Obama) que simultaneamente aplicaria golpe inesquecível ao “ditador” alvo?
Essa apresentação autocontraditória foi devida em parte a outra das forças que exigiam “castigo” americano ao sírio, a saber, os pregadores de guerra humanitária, e à líder deles, a assessora para segurança nacional de Obama, Susan Rice. A posição dela em pouco difere da antecessora, Condoleezza Rice (não são parentes), mas as duas desenvolveram suas credenciais internas por vias distintas: Condoleezza Rice, como acadêmica especializada em estratégia soviética; Susan Rice, num processo de ascensão dentro da elite política, com uma muito proclamada vocação de consciência para impedir “outra Rwanda”. A campanha doméstica a favor de ataque norte-americano aos sírios foi marcada por uma notável novidade vinda dos agentes promotores de guerra humanitária: mensagens de Twitter, enviadas por Rice e pela embaixadora dos EUA à ONU, Samantha Power, para promover também pelo lado de fora os objetivos pelos quais trabalhavam dentro do governo.
Todas elas são nomes que Obama nomeou recentemente e pelas quais expressou admiração. Mas, ao obedecer a elas e a um novo discípulo delas, recém conquistado, John Kerry, Obama passava a ignorar outra vozes dentro do governo, que teriam enorme peso. Todos os comandantes militares do Estado-Maior das Forças Armadas opunham-se à intervenção na Síria. O chefe dos chefes do Estado-Maior, general Martin Dempsey, já vinha dizendo há meses por que considerava perigoso o ataque. Que para nada serviria, exceto para prolongar a guerra civil; e que exporia bens norte-americanos na região à retaliação, no Afeganistão, na Líbia, por toda a parte. (Susan Rice comandou a campanha para que os EUA, com a OTAN, derrubassem o governo na Líbia. É possível que Obama ainda suponha que a guerra da Líbia tenha sido um sucesso, mas é ilusão só sua, da qual não partilham nem as forças armadas nem o serviço diplomático norte-americano). O depoimento de Dempsey ao Senado e à Câmara de Representantes foi feito com talento, mas, se visava a tranquilizar alguém, teve resultado oposto: a certa altura, o general recusou-se a prever efeitos futuros de algum ataque limitado; e o secretário de Defesa, Chuck Hagel, não conseguiu disfarçar as próprias emoções e respondeu a tudo como se não acreditasse em nenhuma palavra do que dizia. Juntos, esses dois faziam impressionante contraste com o secretário de Estado sentado ali ao lado. Kerry parecia tomado de renovada certeza, absoluta certeza, que ia aumentando a cada resposta, a cada pergunta que lhe era feita.
Verdade é que Kerry funcionava como o mais espetacular boneco de ventríloquo encarregado de vender uma política incoerente. “Não consigo parar de pensar em John Kerry, ontem, todo vaidoso” – disse o demagogo conservador e radialista Rush Limbaugh – “revelando que alguns países do Oriente Médio ofereceram-se para pagar pelo nosso ataque à Síria”. Quero dizer... Já não é ruim que chegue sermos chamados de policiais do mundo? Quem quer ser um policial subornado?! O que haveria de bom nisso? Quem somos nós, agora? Viramos mendigo, pedinte?!”. O provável maior problema de qualquer governo em total desalinho é que ele induz as pessoas a pensar duas vezes sobre tudo que o governo faça ou diga e sobre todas as suas políticas.
No final de agosto, com britânicos ou sem, os EUA estavam posicionados para ir à guerra. Mas a opinião pública já migrara para um ceticismo desconfortável – a proporção, que era de 3:1 a favor dos que não queriam a guerra, subiu, na segunda semana de setembro para mais de 2:1 contra. E foi no meio dessa deriva que o presidente resolveu enviar a questão ao Congresso e pedir que dividissem com ele a responsabilidade. Mas o Congresso, então, já estava refletindo a opinião pública. A consulta sugeriu que Obama queria mais tempo para pensar, e que não queria perder para a Grã-Bretanha, que seguira os procedimentos de um governo constitucional. Mas incongruente e muito estranhamente, Obama logo acrescentou que não seria pautado pela votação no Congresso. O que aí se vê é ambivalência pessoal privada, exposta para contemplação universal. Mas naqueles primeiros dias de setembro já se respirava outro ar, o ar de uma democracia que olhava a própria cara. John McCain foi acusado de leviandade, numa reunião popular no Arizona, por uma mulher que tem um primo sírio. O senador Rand Paul, o branco libertarista do Kentucky, e o Deputado Elijah Cummings, o negro liberal de Baltimore, relataram, ambos, que seus respectivos eleitores opunham-se a qualquer ataque, na proporção de quase 100:1. O presidente e sua secretaria de Estado, e com esses também uma vasta porção da elite política, haviam aprovado a ação militar para derrubar um quarto governo no Oriente Médio, depois de Afeganistão, Iraque e Líbia. Mas o povo dos EUA, dessa vez, disse “não”.
Mesmo assim, na primeira semana de setembro, Obama e Kerry ainda defendiam tanto a ambição delirante quanto a versão minimalista de seu ataque tão premeditado. Ataque decisivo e para incapacitar, que duraria poucos dias: essa parece ter sido a versão que o presidente apresentou a Graham e McCain. Mas o ataque que Kerry antevia, como disse à imprensa britânica dia 9 de setembro, seria: "(...) muito limitado, muito focado, esforço de curto prazo... Estamos falando é disso – esforço incrivelmente pequeno e limitado." E a confusão não fica aí. Recentemente em sua fala à nação, dia 10 de setembro, Obama contradisse Kerry e afirmou que o ataque não seria um beliscão, acrescentando em tom grave: "Os militares dos EUA não dão beliscões."
Dia 9 de setembro, Kerry deixou escapar um comentário, que seria carregado de consequências. O único meio pelo qual Assad conseguiria evitar ataque norte-americano seria ele entregar suas armas químicas a supervisão internacional e eventual destruição. “Claro” – Kerry acrescentou – “que não acontecerá”. Putin ouviu e entrou em cena. Mas, sim, disse Putin, é claro que acontecerá, porque a Síria entregaria suas armas químicas à inspeção internacional e até ao confisco, nos termos de um acordo que a Rússia intermediaria; em segundos, seu ministro de Relações Exteriores, Sergey Lavrov, apareceu com um plano diplomático no qual já vinha trabalhando há meses. A Casa Branca e o Departamento de Estado fizeram de tudo para ficar com os créditos por esse desenvolvimento, mas é quase impossível acreditar que tenha sido resultado de plano conjunto, do qual Kerry tivesse participado. Implicaria que o presidente ter-se-ia posto, ele próprio, numa situação que causaria embaraços ao governo, que o humilharia pessoalmente e que poria o mundo à beira de uma guerra, “porque” sabia da surpresa que surgiria no momento certo. A boia não requisitada que Putin empurrou para Obama levou o presidente a retirar a consulta que encaminhara ao Congresso – mas, isso, só depois de ter absoluta certeza de que a votação aconteceria dia 11/9. Estava a caminho de ser derrotado na Câmara de Representantes e, possivelmente, até no Senado.
Dia 10 de setembro, o presidente falou à nação. Precisou de mais tempo para justificar o ataque que estava devolvendo à prateleira, do que para explicar a nova rota na qual já estava comprometido, mas foi discurso “de abafa” também em outros sentidos: às vezes pedia, às vezes denunciava; dava lições de que o amor à paz tem às vezes de nos envolver em guerras, reiterando o imperativo de construir os EUA em casa, mas tomando o atento cuidado de falar do holocausto de judeus. E fechou com um apelo convencional ao onanismo nacional norte-americano: "(...) estamos sós no mundo, disse o presidente. Somos a nação “excepcional”. Por quase sete décadas os EUA têm sido a âncora da segurança global." Dia seguinte, o New York Times publicou coluna editorial assinada por Putin, que expressou sua esperança de que os norte-americanos escolheriam evitar guerra mais ampla. Falou com consideração, de Obama. Examinei atentamente a fala do presidente à nação, na terça-feira. E tenho de discordar da defesa do excepcionalismo norte-americano. O presidente disse que a política dos EUA é o que “faz diferentes os EUA, o que nos faz excepcionais”. É extremamente perigoso estimular as pessoas a que se vejam, elas mesmas, como diferentes, seja qual for a motivação. Verdade seca, de fonte questionável, mas impossível de negar. Nação que se suponha uma exceção aos padrões observados pelas demais nações é tão boa bisca quanto alguém que se veja, a si mesmo, como exceção.
É pouco provável que Obama mude outra vez, por hora. Mas deixar-se na posição passiva, de quem só ouve o que os russos digam, que responde às vezes sim, às vezes não, às vezes “Vamos analisar”, exporá todo seu governo à acusação de estar “liderando pela retaguarda” demais (foi Obama quem inventou essa, ao jactar-se do que fazia na Líbia). A diplomacia é coisa relativamente nova para Obama. Mas, dessa vez, não teve escolha. Nem Obama pode entregar essa carpintaria delicada às que mais alto gritavam a favor da guerra. Obama terá de trabalhar duro para resistir à pressão para bombardear o Irã que nunca para de vir de Israel e do lobby israelense nos EUA. Delegar grandes responsabilidades de governo pode ser compatível com um sinal de humildade – e até funcionou assim, para Reagan – mas há cenários nos quais essa atitude aproxima-se perigosamente da temeridade ou da irresponsabilidade. Em dezembro de 2011 pediram a Obama que ele confessasse um defeito pessoal; respondeu que o defeito que criticaria em si próprio era a preguiça. Mais uma vez (como o que disse sobre Putin e os banqueiros), melhor que não tivesse dito. Mas, seja como for, aí está a chance para se autorreformar: um tempo para comprometer-se pessoal e profundamente na construção de suas políticas, menos discursos palavrosos, menos comentários descuidados nas entrevistas; ocasião para trabalhar ativamente com novos parceiros, além de França, Grã-Bretanha e IsraelSe quer igualar-se a Putin nas artes da diplomacia e superá-lo no difícil exercício da autocontenção, Obama tem de aproveitar esse momento, também, para reconsiderar o extraordinário aparelho de sigilo em que seu governo está confinado, para tudo que tenha a ver com a segurança e com suas políticas externas.
David Bromwich ensina inglês em Yale. How Words Make Things Happen já está disponível.
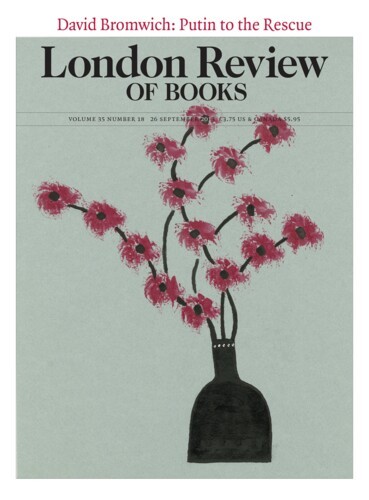




Nenhum comentário:
Postar um comentário