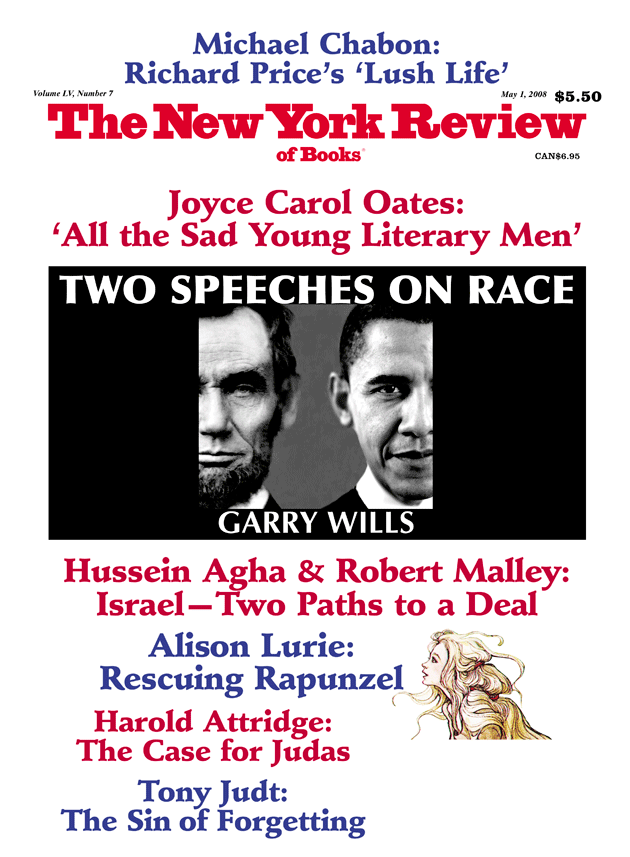A forma mais antiga de anonimato literário é a inspiração divina. Há apenas um autor, e qual porta-voz mundano ele seleciona para revelar sua glória não vem ao caso.
Terry Eagleton
 |
| Vol. 30 No. 10 · 22 May 2008 |
Anonymity: A Secret History of English Literature
by John Mullan.
Faber, 374 pp., £17.99, janeiro de 2008, 978 0 571 19514 5
Faber, 374 pp., £17.99, janeiro de 2008, 978 0 571 19514 5
Tradução / Todas as obras literárias são anônimas, mas algumas são mais anônimas que outras. Faz parte da natureza de um texto escrito o fato de conseguir se manter sozinho, livre de seu progenitor, podendo dispensar a presença física deste (ou desta). Nesse sentido, o texto escrito se assemelha mais a um adolescente que a um bebê. Diferentemente da fala, a escrita é significado que se libertou de sua fonte. Alguns tipos de escrita -por exemplo, ingressos para o teatro ou bilhetes deixados para o leiteiro- estão mais intimamente vinculados a seus contextos originais do que "O Paraíso Perdido" [de John Milton] ou "Guerra e Paz" [de Leon Tolstói]. Pelo fato de ser imaginária, a ficção não possui nenhum contexto original na vida real e, hermeneuticamente falando, pode, portanto, circular muito mais livremente que uma lista de compras ou uma passagem de ônibus. Não podemos simplesmente tirar Auschwitz de nossas cabeças quando assistimos a "O Mercador de Veneza" [de Shakespeare]. O significado pretendido pelo autor nem sempre passa por cima do significado atribuído pelo leitor.
Walter Benjamin acreditava que as obras literárias secretam certos significados que podem ser liberados apenas em sua pós-vida, quando elas passam a ser lidas em situações até então imprevisíveis. Ele pensava algo semelhante em relação à história em geral. As possibilidades futuras de "Hamlet" são parte do significado da peça, embora seja possível que nunca cheguem a se realizar. Um dos maiores romances ingleses, a obra-prima do século 18 "Clarissa", de Samuel Richardson, voltou a ser legível à luz do movimento feminista do século 20.
O anonimato literário assume diferentes formas. Uma obra pode vir sem assinatura porque quem a escreveu não é considerado tão importante. Algumas artes medievais são um exemplo. O que importa quem está louvando a Deus, contanto que ele seja louvado? A forma mais antiga de anonimato literário é a inspiração divina. Há apenas um autor, e qual porta-voz mundano ele seleciona para revelar sua glória não vem ao caso. John Mullan está, portanto, errado ao sugerir que toda obra anônima nos envia em busca de um autor. Descobrir quem escreveu Sir Gawain e o Cavaleiro Verde pode aprofundar nossa compreensão do poema, mas pode não ser mais esclarecedor do que descobrir quem prendeu o rebite final na Ponte Forth. Há obras literárias nas quais o que fala é menos uma voz pessoal do que um conjunto de convenções, e que não são piores por isso.
Outros atos de violência eram menos oficiais. John Dryden foi espancado após deixar uma taberna devido a um poema anônimo atribuído a sua pena. William Blackwood, proprietário da "Blackwood's Magazine", foi açoitado em pelo menos duas ocasiões pelas vítimas de resenhas belicosas, e não assinadas, de seus colaboradores. Por quase a mesma razão, um autor irado espancou o proprietário da Fraser's Magazine com um chicote de montaria antes de prosseguir para um duelo com o editor dipsomaníaco do periódico, William Maginn. Foi uma crítica anônima e mordaz de Keats por J.W. Croker que Shelley considerou ter causado o rompimento do vaso sanguíneo que eventualmente matou o poeta. O anonimato proporcionava não só perigo, mas também benefícios. Tobias Smollett foi quase certamente o autor de uma resenha elogiosa, não assinada, de seu próprio "Complete History of England" [História Completa da Inglaterra]. Um aviso não atribuído no London Chronicle que elogiou uma obra de James Boswell como "um livro de verdadeiro gênio" foi escrito pelo próprio Boswell. John Wilson escreveu uma carta anônima ao "Blackwood's Magazine" defendendo Wordsworth de críticas não assinadas publicadas numa edição anterior do periódico e escritas por ele próprio. O estudioso elizabetano M.C. Bradbrook reclamou em uma carta ao TLS que uma resenha anônima de Blake havia menosprezado a crítica Kathleen Raine, que era a autora sem dúvida divertida da peça. Uma resenha extasiada e não atribuída em Blackwood de um romance de William Godwin foi escrita por sua filha, Mary Shelley. Mesmo George Eliot, conhecida por pautar-se por seus altos princípios, escreveu resenhas anônimas da biografia de Goethe escrita por seu companheiro G.H. Lewes -a quem ela ajudara a escrever a obra. Nem todos desaprovavam tais práticas. Nem todos desaprovavam tais práticas. Stanley Morrison, que editou o "Times Litterary Supplement" nos anos 1940, declarava que a auto-resenha era o exemplo ideal do gênero. Vindo de quem comandava um periódico inteiramente dedicado a colaborações anônimas, o comentário era perigoso.
Mullan encontrou um tema fascinante que ele trata com erudição e lucidez. Mas falta ao livro o brilho instigante de suas melhores resenhas, e topamos com ocasionais trechos repetitivos ou cansativos. Dizem-nos que "a raiva é frequentemente a resposta a uma farsa"; que o dramaturgo do século XIX James Sheridan Knowles era escocês (ele era de Cork); e que "um livro sobre anonimato é um livro sobre a importância dos autores e sobre como e por que os leitores precisam deles". Há um epílogo absurdamente breve sobre os autores anônimos na era moderna, quando eles ou elas foram demasiado eclipsados pelos departamentos de publicidade de suas editoras. Mesmo assim, há muito a ser apreciado. O livro parece ser voltado a um público amplo e com certeza representa uma tentativa louvável de fazer uma ponte entre a erudição literária e o leitor comum; mas como seu assunto exige uma análise muito detalhada de questões literárias obscuras, é de se perguntar se os apostadores sentirão que suas £ 17,99 foram totalmente bem gastas.
Walter Benjamin acreditava que as obras literárias secretam certos significados que podem ser liberados apenas em sua pós-vida, quando elas passam a ser lidas em situações até então imprevisíveis. Ele pensava algo semelhante em relação à história em geral. As possibilidades futuras de "Hamlet" são parte do significado da peça, embora seja possível que nunca cheguem a se realizar. Um dos maiores romances ingleses, a obra-prima do século 18 "Clarissa", de Samuel Richardson, voltou a ser legível à luz do movimento feminista do século 20.
As obras literárias, então, são, até certo ponto, desligadas daqueles que as engendram, vagando pelo mundo para acumular significados diferentes em situações diferentes. Expulsa de sua "casa" de origem, sem-teto e órfã, a escrita literária é obrigada a sobreviver de um dia para outro e, desse modo, possui uma semelhança curiosa com o pícaro ou o vagabundo errante que protagonizam tantos romances. Aqueles que são alérgicos a fórmulas parisienses como a Morte do Autor podem preferir o ditado mais tradicional de D.H. Lawrence: nunca confie no narrador, confie no conto. As obras literárias têm intenções próprias, das quais seus produtores podem saber pouco ou nada. Seria impossível deduzir do antipolítico The Plough and the Stars, de Sean O'Casey, que seu autor era um republicano comunista. A lógica da peça contraria a ideologia do dramaturgo. Um texto pode carregar a assinatura de um escritor específico sem realmente fazer parte da obra dele.
Por exemplo, nem todo texto que ostenta a assinatura de Karl Marx é necessariamente "marxista". Há uma diferença entre o que Middlemarch está tentando fazer em qualquer momento específico e o que George Eliot tinha em mente na época, se é que ela tinha algo específico em mente. As intenções literárias que importam são embutidas na própria obra, um pouco como a estrutura de uma cadeira "pretende" que nos sentemos nela. Se eu disser, "Prometo te emprestar cinco libras", mas quando as palavras cruzam meus lábios não tenho intenção de fazê-lo, ainda assim prometi. A promessa está embutida na situação. Não é um impulso fantasmagórico em meu crânio.
Autores podem dizer as coisas mais tolas sobre suas próprias coisas, o que é uma maneira pela qual eles se assemelham aos críticos. The Waste Land não é apenas uma peça de reclamação rítmica, embora T.S. Eliot tenha dito que era. Há um sentido em que os escritores são os primeiros leitores de suas próprias obras. Pushkin expressou espanto que um personagem em Eugene Onegin estava se casando. No caso de outras mídias artísticas, a questão da autoria pode ser ainda mais problemática: quem é o autor de Westminster Abbey ou There Will Be Blood? Mesmo assim, o autor não está completamente morto. É verdade, como Paul Valéry apontou, que muitas coisas estão envolvidas na criação de uma obra de arte além de um autor; mas isso é para rebaixar autores em vez de aniquilá-los. "O que importa quem está falando?" Michel Foucault zombou famosamente. Na vida real, pode importar bastante. Em assuntos literários, também, saber quem escreveu uma peça pode ser importante. Ajuda saber que o Foucault que publicou A Arqueologia do Saber também foi o autor de A História da Sexualidade, uma vez que permite ver como o culto ao corpo no último livro representa a drástica elisão do sujeito humano no primeiro. O fato de Jane Austen poder criar Emma Woodhouse, assim como Fanny Price, nos diz algo sobre a visão de Mansfield Park sobre sua própria heroína. Se não soubéssemos que as imagens industriais na obra de William Blake geralmente carregam uma carga negativa, seria mais difícil argumentar que o falante do poema "Tyger" não é o próprio Blake, um ponto altamente relevante para o significado da obra. Por outro lado, se descobríssemos que William Blake era na verdade um pseudônimo para o Duque de Wellington, não necessariamente pararíamos de lê-lo como radical. Simplesmente, como os filósofos gostam de dizer, não saberíamos o que dizer.
Por exemplo, nem todo texto que ostenta a assinatura de Karl Marx é necessariamente "marxista". Há uma diferença entre o que Middlemarch está tentando fazer em qualquer momento específico e o que George Eliot tinha em mente na época, se é que ela tinha algo específico em mente. As intenções literárias que importam são embutidas na própria obra, um pouco como a estrutura de uma cadeira "pretende" que nos sentemos nela. Se eu disser, "Prometo te emprestar cinco libras", mas quando as palavras cruzam meus lábios não tenho intenção de fazê-lo, ainda assim prometi. A promessa está embutida na situação. Não é um impulso fantasmagórico em meu crânio.
Autores podem dizer as coisas mais tolas sobre suas próprias coisas, o que é uma maneira pela qual eles se assemelham aos críticos. The Waste Land não é apenas uma peça de reclamação rítmica, embora T.S. Eliot tenha dito que era. Há um sentido em que os escritores são os primeiros leitores de suas próprias obras. Pushkin expressou espanto que um personagem em Eugene Onegin estava se casando. No caso de outras mídias artísticas, a questão da autoria pode ser ainda mais problemática: quem é o autor de Westminster Abbey ou There Will Be Blood? Mesmo assim, o autor não está completamente morto. É verdade, como Paul Valéry apontou, que muitas coisas estão envolvidas na criação de uma obra de arte além de um autor; mas isso é para rebaixar autores em vez de aniquilá-los. "O que importa quem está falando?" Michel Foucault zombou famosamente. Na vida real, pode importar bastante. Em assuntos literários, também, saber quem escreveu uma peça pode ser importante. Ajuda saber que o Foucault que publicou A Arqueologia do Saber também foi o autor de A História da Sexualidade, uma vez que permite ver como o culto ao corpo no último livro representa a drástica elisão do sujeito humano no primeiro. O fato de Jane Austen poder criar Emma Woodhouse, assim como Fanny Price, nos diz algo sobre a visão de Mansfield Park sobre sua própria heroína. Se não soubéssemos que as imagens industriais na obra de William Blake geralmente carregam uma carga negativa, seria mais difícil argumentar que o falante do poema "Tyger" não é o próprio Blake, um ponto altamente relevante para o significado da obra. Por outro lado, se descobríssemos que William Blake era na verdade um pseudônimo para o Duque de Wellington, não necessariamente pararíamos de lê-lo como radical. Simplesmente, como os filósofos gostam de dizer, não saberíamos o que dizer.
Foucault está certo em suspeitar que a categoria do autor tem tradicionalmente operado como um tipo de policiamento intelectual, embora seu ponto seria mais persuasivo se ele não encontrasse tal policiamento em todos os lugares que procurasse. Perguntar quem escreveu uma obra é, entre outras coisas, uma injunção implícita para colocá-la ao lado de outros textos do mesmo escritor, o que não é necessariamente o movimento mais esclarecedor. North and South, da Sra. Gaskell, pode ser melhor lido no contexto dos relatórios de saneamento vitorianos do que no contexto de Cranford. No entanto, o fato de Gaskell ter escrito Cranford também lança luz sobre o motivo pelo qual os conflitos industriais do Norte e do Sul não são resolvidos pela revolução socialista.
O anonimato literário assume diferentes formas. Uma obra pode vir sem assinatura porque quem a escreveu não é considerado tão importante. Algumas artes medievais são um exemplo. O que importa quem está louvando a Deus, contanto que ele seja louvado? A forma mais antiga de anonimato literário é a inspiração divina. Há apenas um autor, e qual porta-voz mundano ele seleciona para revelar sua glória não vem ao caso. John Mullan está, portanto, errado ao sugerir que toda obra anônima nos envia em busca de um autor. Descobrir quem escreveu Sir Gawain e o Cavaleiro Verde pode aprofundar nossa compreensão do poema, mas pode não ser mais esclarecedor do que descobrir quem prendeu o rebite final na Ponte Forth. Há obras literárias nas quais o que fala é menos uma voz pessoal do que um conjunto de convenções, e que não são piores por isso.
A literatura romântica, com seu culto à personalidade poética, pode parecer exatamente o oposto disso. No entanto, a voz ricamente particularizada do poeta romântico é, em grande parte, uma maneira de dar língua ao transcendente. De Wordsworth a D.H. Lawrence, alguém fala mais persuasivamente quando articula o que não é ele mesmo, quer chame isso de Natureza ou imaginação criativa, os processos primários ou os deuses obscuros. O eu remete a raízes insondavelmente anônimas. Homens e mulheres emergem como seres únicos por meio de um meio (quer o chamemos "geist", história, linguagem, cultura ou o inconsciente) que é implacavelmente impessoal. What makes us what we are has no regard for us at all. No próprio núcleo da personalidade, nos diz a era moderna, estão em ação processos anônimos. Apenas por meio de uma salutar repressão ou do ignorar dessas forças é que podemos conquistar a ilusão da autonomia. O anonimato é a condição da identidade.
É essa doutrina intransigente que o modernismo vai herdar, à medida que a impessoalidade assume o lugar do ego romântico, que já vai tarde. Para o Romantismo, o eu e o infinito se fundem no ato da criação imaginativa. Entregar-se a poderes obscuros e desconhecidos é tornar-se ainda mais unicamente você mesmo. É preciso perder a vida para encontrá-la. Para uma vertente do modernismo, o eu é deslocado pelas próprias forças que o constituem - ele é desalojado, retirado de sua casca, descentrado e despossuído. Não somos nada mais que os portadores anônimos do mito, da tradição, da linguagem ou da história literária. O único modo por meio do qual o eu pode deixar sua impressão digital distintiva, desde Flaubert até Joyce, é no estilo meticulosamente distanciador no qual ele se mascara. A linguagem, propriamente dita, pode ser destituída de autor, mas o estilo, como afirma Roland Barthes em "O Grau Zero da Escrita", mergulha diretamente nas profundezas viscerais do eu.
Outra vertente do modernismo retorna à própria subjetividade, como se a título de refúgio. O eu pode ser inconstante e fragmentário, mas existe algo em que podemos confiar: no imediatismo de suas sensações. E, embora a essência do eu como condição hoje seja impalpável, existem certos momentos raros em que ela pode ser momentaneamente recapturada. Já o pós-modernismo, em contraste, ensaia o conto modernista do eu desalojado e descentrado, mas sem as consolações de um eu essencial. Nunca houve tal coisa, para Barthes mais do que para David Hume, e sem dúvida estamos muito melhores por isso. O que parece uma perda é, na verdade, uma libertação. Unidade é uma ilusão, e consistência é mais um vício do que uma virtude. O pós-modernismo está cheio de cultos de personalidade, mas eles sabem que são infundados. Como mercadorias, os eus individuais são basicamente intercambiáveis. Uma vez que você viu um, você viu todos eles.
Anonimato: A Secret History of English Literature, de John Mullan, está longe de tecer tais reflexões grandiosas. Trata-se de uma história do anonimato literário do século 16 até o presente e, sabiamente, se recusa a fazer uma grande narrativa de seu tema, com o argumento de que os motivos de tal anonimato são demasiado diversos. Alguns autores são tímidos demais para enfrentar a publicidade, alguns são demasiado chulos, alguns exploram seu status de anonimato pela simples brincadeira, enquanto outros usam o anonimato como maneira perversa de provocar curiosidade. Anthony Trollope recorria ao anonimato porque escrevia demasiado rápido e era sensível a acusações de produção excessiva. Anthony Burgess publicou anonimamente pela mesma razão, ou quase. Ele também foi o resenhista não declarado de um de seus próprios romances, no "Yorkshire Post". "Elegy" [Elegia], de Thomas Gray, o poema mais freqüentemente reimpresso da Inglaterra do século 18, foi publicado anonimamente. Com modéstia decorosa, "Razão e Sensibilidade" foi assinado "por uma dama", uma descrição bastante comum na época. Durante a vida da autora, nenhum dos outros romances de Austen foi publicado com seu nome. Walter Scott publicou seus romances "Waverley" (os mais populares já vistos na Grã-Bretanha) sem, durante muitos anos, admitir sua autoria, e mentiu descaradamente quando desafiado sobre a questão pelo próprio Príncipe Regente. No entanto, em um jogo de gato e rato com seus colegas e leitores, Scott nunca tentou realmente permanecer desconhecido. Os editores dos séculos 17 e 18 amiúde publicavam livros cuja autoria real era desconhecida até mesmo deles. Manuscritos freqüentemente eram deixados nas editoras no meio da noite, por intermediários disfarçados. In Memoriam, leitura de cabeceira para a Rainha Vitória, fez o nome de Tennyson, mas foi publicado anonimamente e permaneceu oficialmente sem atribuição durante toda a sua vida.
É essa doutrina intransigente que o modernismo vai herdar, à medida que a impessoalidade assume o lugar do ego romântico, que já vai tarde. Para o Romantismo, o eu e o infinito se fundem no ato da criação imaginativa. Entregar-se a poderes obscuros e desconhecidos é tornar-se ainda mais unicamente você mesmo. É preciso perder a vida para encontrá-la. Para uma vertente do modernismo, o eu é deslocado pelas próprias forças que o constituem - ele é desalojado, retirado de sua casca, descentrado e despossuído. Não somos nada mais que os portadores anônimos do mito, da tradição, da linguagem ou da história literária. O único modo por meio do qual o eu pode deixar sua impressão digital distintiva, desde Flaubert até Joyce, é no estilo meticulosamente distanciador no qual ele se mascara. A linguagem, propriamente dita, pode ser destituída de autor, mas o estilo, como afirma Roland Barthes em "O Grau Zero da Escrita", mergulha diretamente nas profundezas viscerais do eu.
Outra vertente do modernismo retorna à própria subjetividade, como se a título de refúgio. O eu pode ser inconstante e fragmentário, mas existe algo em que podemos confiar: no imediatismo de suas sensações. E, embora a essência do eu como condição hoje seja impalpável, existem certos momentos raros em que ela pode ser momentaneamente recapturada. Já o pós-modernismo, em contraste, ensaia o conto modernista do eu desalojado e descentrado, mas sem as consolações de um eu essencial. Nunca houve tal coisa, para Barthes mais do que para David Hume, e sem dúvida estamos muito melhores por isso. O que parece uma perda é, na verdade, uma libertação. Unidade é uma ilusão, e consistência é mais um vício do que uma virtude. O pós-modernismo está cheio de cultos de personalidade, mas eles sabem que são infundados. Como mercadorias, os eus individuais são basicamente intercambiáveis. Uma vez que você viu um, você viu todos eles.
Anonimato: A Secret History of English Literature, de John Mullan, está longe de tecer tais reflexões grandiosas. Trata-se de uma história do anonimato literário do século 16 até o presente e, sabiamente, se recusa a fazer uma grande narrativa de seu tema, com o argumento de que os motivos de tal anonimato são demasiado diversos. Alguns autores são tímidos demais para enfrentar a publicidade, alguns são demasiado chulos, alguns exploram seu status de anonimato pela simples brincadeira, enquanto outros usam o anonimato como maneira perversa de provocar curiosidade. Anthony Trollope recorria ao anonimato porque escrevia demasiado rápido e era sensível a acusações de produção excessiva. Anthony Burgess publicou anonimamente pela mesma razão, ou quase. Ele também foi o resenhista não declarado de um de seus próprios romances, no "Yorkshire Post". "Elegy" [Elegia], de Thomas Gray, o poema mais freqüentemente reimpresso da Inglaterra do século 18, foi publicado anonimamente. Com modéstia decorosa, "Razão e Sensibilidade" foi assinado "por uma dama", uma descrição bastante comum na época. Durante a vida da autora, nenhum dos outros romances de Austen foi publicado com seu nome. Walter Scott publicou seus romances "Waverley" (os mais populares já vistos na Grã-Bretanha) sem, durante muitos anos, admitir sua autoria, e mentiu descaradamente quando desafiado sobre a questão pelo próprio Príncipe Regente. No entanto, em um jogo de gato e rato com seus colegas e leitores, Scott nunca tentou realmente permanecer desconhecido. Os editores dos séculos 17 e 18 amiúde publicavam livros cuja autoria real era desconhecida até mesmo deles. Manuscritos freqüentemente eram deixados nas editoras no meio da noite, por intermediários disfarçados. In Memoriam, leitura de cabeceira para a Rainha Vitória, fez o nome de Tennyson, mas foi publicado anonimamente e permaneceu oficialmente sem atribuição durante toda a sua vida.
Havia também o "cross-dressing" autoral, mais normalmente de mulheres para homens que vice-versa. "Exemplos de mulheres que escolheram pseudônimos masculinos são múltiplos", observa Mullan, "mas é muito mais raro encontrar homens se assinando com nomes de mulheres". Duas exceções notáveis foram Daniel Defoe e Samuel Richardson, que se refugiaram por trás de suas protagonistas mulheres. As irmãs Brontë são um exemplo evidente de escritoras fazendo-se passar por escritores ou, pelo menos, ocultando-se atrás dos pseudônimos cuidadosamente andróginos de Currer, Ellis e Acton Bell; embora em um longo relato das tentativas das irmãs de enfrentar o establishment editorial dominado por homens, Mullan perca a oportunidade de relacionar isso com a intrincada troca de gênero nos próprios romances. A identificação de gênero era uma busca comum entre os críticos de obras anônimas ou pseudônimas. O romance anônimo de R.D. Blackmore, Clara Vaughan, foi denunciado como sendo de uma pena feminina, sob a alegação de que demonstrava ignorância das leis da física e das leis da terra. O escritor escocês do final do século XIX William Sharp provou ser um grande sucesso como "Fiona MacLeod", escrevendo romances cheios de crepúsculos celtas que atraíram a admiração do igualmente celticizante W.B. Yeats. Sharp até recebeu uma oferta de casamento de um leitor masculino entusiasmado.
Havia também razões legais e políticas para a onipresença do Anon. Houve épocas em que o Estado precisava saber quem era o autor ou o impressor de uma obra para saber a quem processar por heresia ou sedição. Em 1579, John Stubbs teve a mão direita decepada por escrever um texto opondo-se ao casamento de Elizabeth I com um aristocrata francês. A própria Elizabeth recomendou que os impressores dos libelos anti-anglicanos "Marprelate" fossem submetidos à tortura. Em 1663, um gráfico de Londres que publicou um folheto argumentando que o monarca deveria ter que responder a seus súditos e justificando o direito da população à rebelião foi sentenciado à forca e ao esquartejamento. Mesmo assim, recusou-se a revelar o nome do autor do panfleto, embora a revelação pudesse ter salvo sua vida. Entre os séculos 16 e 18, gráficos foram multados, encarcerados e colocados no pelourinho por publicar obras supostamente traiçoeiras cujos autores permaneciam ocultos. Ser o impressor de Jonathan Swift não era trabalho para covardes. Destemido, John Locke inscreveu seu nome na página-título de seu "Ensaio Sobre o Entendimento Humano", mas se esforçou ao máximo para preservar o anonimato de suas obras mais políticas.
Havia também razões legais e políticas para a onipresença do Anon. Houve épocas em que o Estado precisava saber quem era o autor ou o impressor de uma obra para saber a quem processar por heresia ou sedição. Em 1579, John Stubbs teve a mão direita decepada por escrever um texto opondo-se ao casamento de Elizabeth I com um aristocrata francês. A própria Elizabeth recomendou que os impressores dos libelos anti-anglicanos "Marprelate" fossem submetidos à tortura. Em 1663, um gráfico de Londres que publicou um folheto argumentando que o monarca deveria ter que responder a seus súditos e justificando o direito da população à rebelião foi sentenciado à forca e ao esquartejamento. Mesmo assim, recusou-se a revelar o nome do autor do panfleto, embora a revelação pudesse ter salvo sua vida. Entre os séculos 16 e 18, gráficos foram multados, encarcerados e colocados no pelourinho por publicar obras supostamente traiçoeiras cujos autores permaneciam ocultos. Ser o impressor de Jonathan Swift não era trabalho para covardes. Destemido, John Locke inscreveu seu nome na página-título de seu "Ensaio Sobre o Entendimento Humano", mas se esforçou ao máximo para preservar o anonimato de suas obras mais políticas.
Outros atos de violência eram menos oficiais. John Dryden foi espancado após deixar uma taberna devido a um poema anônimo atribuído a sua pena. William Blackwood, proprietário da "Blackwood's Magazine", foi açoitado em pelo menos duas ocasiões pelas vítimas de resenhas belicosas, e não assinadas, de seus colaboradores. Por quase a mesma razão, um autor irado espancou o proprietário da Fraser's Magazine com um chicote de montaria antes de prosseguir para um duelo com o editor dipsomaníaco do periódico, William Maginn. Foi uma crítica anônima e mordaz de Keats por J.W. Croker que Shelley considerou ter causado o rompimento do vaso sanguíneo que eventualmente matou o poeta. O anonimato proporcionava não só perigo, mas também benefícios. Tobias Smollett foi quase certamente o autor de uma resenha elogiosa, não assinada, de seu próprio "Complete History of England" [História Completa da Inglaterra]. Um aviso não atribuído no London Chronicle que elogiou uma obra de James Boswell como "um livro de verdadeiro gênio" foi escrito pelo próprio Boswell. John Wilson escreveu uma carta anônima ao "Blackwood's Magazine" defendendo Wordsworth de críticas não assinadas publicadas numa edição anterior do periódico e escritas por ele próprio. O estudioso elizabetano M.C. Bradbrook reclamou em uma carta ao TLS que uma resenha anônima de Blake havia menosprezado a crítica Kathleen Raine, que era a autora sem dúvida divertida da peça. Uma resenha extasiada e não atribuída em Blackwood de um romance de William Godwin foi escrita por sua filha, Mary Shelley. Mesmo George Eliot, conhecida por pautar-se por seus altos princípios, escreveu resenhas anônimas da biografia de Goethe escrita por seu companheiro G.H. Lewes -a quem ela ajudara a escrever a obra. Nem todos desaprovavam tais práticas. Nem todos desaprovavam tais práticas. Stanley Morrison, que editou o "Times Litterary Supplement" nos anos 1940, declarava que a auto-resenha era o exemplo ideal do gênero. Vindo de quem comandava um periódico inteiramente dedicado a colaborações anônimas, o comentário era perigoso.
Mullan encontrou um tema fascinante que ele trata com erudição e lucidez. Mas falta ao livro o brilho instigante de suas melhores resenhas, e topamos com ocasionais trechos repetitivos ou cansativos. Dizem-nos que "a raiva é frequentemente a resposta a uma farsa"; que o dramaturgo do século XIX James Sheridan Knowles era escocês (ele era de Cork); e que "um livro sobre anonimato é um livro sobre a importância dos autores e sobre como e por que os leitores precisam deles". Há um epílogo absurdamente breve sobre os autores anônimos na era moderna, quando eles ou elas foram demasiado eclipsados pelos departamentos de publicidade de suas editoras. Mesmo assim, há muito a ser apreciado. O livro parece ser voltado a um público amplo e com certeza representa uma tentativa louvável de fazer uma ponte entre a erudição literária e o leitor comum; mas como seu assunto exige uma análise muito detalhada de questões literárias obscuras, é de se perguntar se os apostadores sentirão que suas £ 17,99 foram totalmente bem gastas.
Terry Eagleton escreveu cerca de cinquenta livros, incluindo, o mais famoso, Literary Theory: An Introduction (1983), e cerca de oitenta artigos para a LRB. Seus temas incluem críticos (Erich Auerbach, Mikhail Bakhtin, Georg Lukacs, I.A. Richards, Stanley Fish, Gayatri Chakravorty Spivak), The God Delusion de Richard Dawkins e muitos romances. Ele lecionou por muitos anos em Oxford, tornando-se o Warton Professor of English Literature em 1992, e depois em Manchester e Lancaster.