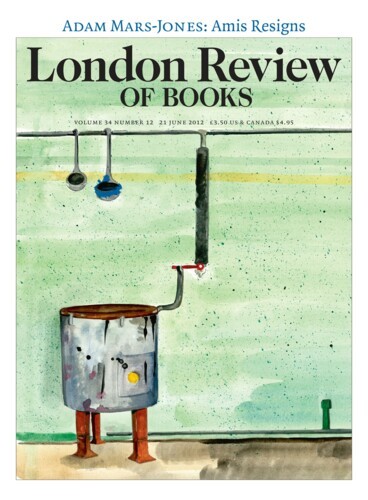Salem H. Nasser
Folha de S.Paulo
Ao final, o vencedor levou. Mas isso não significa, necessariamente, que as instituições funcionaram.
Desde o começo das revoltas no mundo árabe, tem-se perguntado se a democracia é possível naquelas paragens.
E ainda que não seja fácil definir exatamente uma democracia ou se pode haver mais de um tipo, talvez seja seguro dizer que tem a ver com o desenho de instituições sadias e que essas funcionem de modo a reduzir o exercício arbitrário do poder.
Nos últimos dias, no Egito, as instituições do Estado tomaram decisões que evidentemente serviam a dar uma roupagem elegante ao arbítrio e aos desvios de poder.
Será uma exceção a decisão que declarou vitorioso o vencedor de fato?
A dúvida é legítima. A demora do anúncio não podia se justificar senão porque algo estava sendo cozinhado em outra cozinha e, por um bom momento, pensou-se que o candidato do regime seria declarado vencedor.
Há algumas hipóteses. Os militares talvez estivessem testando a disposição popular e a dos partidários da Irmandade para saber se passaria uma vitória de Ahmed Shafiq. Ou estavam negociando com a Irmandade e com os interessados externos, entre eles os EUA, um novo status quo de compromisso.
O fato de que um tal acordo foi costurado e era do conhecimento de muitos se fez sentir nas rápidas boas-vindas que muitos, inclusive Israel, deram ao resultado.
Aceitou-se o inevitável, mas conta-se com a capacidade dos militares de assegurar que a Presidência seja despida de poderes e, por isso mesmo, que a Irmandade fracasse na função.
Aos olhos do Ocidente, ou de parte dele, estaria assim desenhado um paradoxo, ou absurdo, do tipo que vigorou na Turquia por tanto tempo: os militares garantindo uma democracia para a qual os islamitas seriam um perigo.
Ainda assim, a chegada da Irmandade à Presidência é um evento de monumental importância.
A Irmandade, que há muito vem fazendo prova de uma crença tranquila em sua própria força, faz também os seus cálculos e acredita poder disputar o Egito com os militares e com forças externas. Tenha ou não havido um acordo que inclua a Irmandade Muçulmana, esse jogo acaba apenas de começar.
SALEM H. NASSER é coordenador do Centro de Direito Global da Faculdade de Direito da FGV (Fundação Getulio Vargas)
25 de junho de 2012
21 de junho de 2012
Por que eles não foram gratos? Mossadegh
Mossadegh, cuja família pertencia à nobreza, era um líder improvável na transição do Irã de uma monarquia dinástica para a política de massas.
London Review of Books
Patriot of Persia: Muhammad Mossadegh and a Very British Coup por Christopher de Bellaigue
Bodley Head, 310 pp, fevereiro 2012, ISBN 978 1 84792 108 6
Bodley Head, 310 pp, fevereiro 2012, ISBN 978 1 84792 108 6
Tradução / Em 1890, um ativista muçulmano itinerante de nome Jamal al-din al-Afghani estava no Irã, quando o então governante Naser al-Din Shah Qajar, entregou uma concessão de tabaco a um empresário britânico, G.F. Talbot, que, na prática, lhe garantia um monopólio de compra, venda e exportação. Al-Afghani chamou a atenção, sob um coro de aprovação de intelectuais seculares e também de comerciantes conservadores, que os plantadores de tabaco ficariam à mercê de infiéis, e a sobrevivência dos pequenos distribuidores, destruída. Organizou grupos de pressão em Teerã – inovação política até então desconhecida no país – que enviaram cartas anônimas a funcionários e distribuíram panfletos e cartazes conclamando os iranianos a se revoltarem. Na primavera seguinte, eclodiram protestos furiosos nas principais cidades. Ajudados pelo telégrafo, então recém introduzido no país, os manifestantes reunidos no Protesto do Tabaco – como se tornou conhecido – foram tão cuidadosamente coordenados como novamente o seriam na Revolução Islâmica de Khomeini cem anos depois, quando fitas-cassetes fizeram o papel do telégrafo e as mulheres participaram em grande número.
Al-Afghani também escreveu ao Aiatolá Mirza Hassan Shirazi em Najaf, dando ao clérigo xiita e imensamente influente embora apolítico, uma precoce lição sobre os "ajustes estruturais" que os financistas ocidentais viriam a aplicar aos países pobres: "O que os fará compreender o que é o Banco?", perguntava ele. "Significa entregar completamente as rédeas do governo ao inimigo do Islã, a escravização do povo àquele inimigo, a rendição do povo e de todo domínio e autoridade, entregue ao inimigo estrangeiro". É possível que Al-Afghani tenha exagerado. Mas ele sabia, de suas experiências na Índia e no Egito, o quão rapidamente comerciantes e banqueiros ocidentais aparentemente inócuos podem converter-se em diplomatas e em soldados. O xá, imprestável, já havia cedido a relativa imunidade do Irã aos imperialistas informais europeus. Em 1872, com o país já exaurido de capitais e padecendo sob o peso de massivo déficit no orçamento, cedera um monopólio para construção de ferrovias, estradas, fábricas, barragens e minas a outro cidadão britânico, o Barão Reuter (fundador da agência de notícias de mesmo nome). Até Lord Curzon surpreendeu-se vinte anos depois, quando soube dos termos do negócio, e descreveu-o como "a mais completa rendição de todos os recursos de um reino que se entrega a mãos estrangeiras, com que alguém algum dia sonhou, nem com muito menos do que isso, em toda a história". Protestos da Rússia, vizinha do Irã e grande rival dos britânicos na região, fizeram naufragar essa negociação específica; mas Reuter tinha outros ferros no fogo.
Feita apenas oito anos depois de os britânicos terem ocupado o Egito, a concessão-dádiva do tabaco pareceu obscena a al-Afghani. Expulso do Irã pelo xá, ele sustentou uma barragem de cartas endereçadas a todos os mais influentes clérigos xiitas nas cidades sagradas da Mesopotâmia, pedindo que saíssem eles também da apatia em que viviam e se erguessem contra o xá. Pouco meses depois, Shirazi escreveu sua primeira carta sobre tema político ao xá, denunciando bancos estrangeiros e o poder crescente que estavam adquirindo sobre a população muçulmana, e as concessões comerciais feitas a europeus. O xá, desesperado para manter a seu favor o corpo de clérigos, estudiosos do Islã e homens santos [ulema], enviou intermediários para negociar com Shirazi. Em vez de ceder, o clérigo emitiu uma fatwa que declarava anti-islâmico o hábito de fumar, até que o monopólio fosse cancelado. Foi espantosamente bem-sucedido – até o palácio do xá tornou-se área sem fumo. Finalmente, o xá capitulou a uma aliança de intelectuais, clericato e comerciantes nativos e, em janeiro de 1892, cancelou a concessão do tabaco.
Nessa época, Muhammad Mossadegh era o muito precoce filho de nove anos de um alto funcionário que trabalhava para o xá. Homa Katouzian, seu biógrafo anterior em inglês, atribui a consistente oposição de Mossadegh a "qualquer tipo de concessão a qualquer potência estrangeira" à impressão profunda que lhe causara a fúria popular contra os enclaves europeus que visavam a minar a soberania do Irã. Mossadegh, cuja família pertencia à nobreza e que ainda menino recebeu o título de mussadiq al-saltaneh, "garantidor da monarquia", foi um bem improvável líder da transição do Irã, de monarquia dinástica, para a política de massas. Mas cresceu em tempos de agitação política sem precedentes em toda a Ásia.
Intelectuais e ativistas asiáticos começaram a desafiar o poder arbitrário dos imperialistas ocidentais e seus aliados nativos no final do século XIX. A primeira geração incluiu polemistas como al-Afghani, que congregou em volta dele jovens anti-imperialistas cheios de energia, mas desorganizados, em Cabul, Istanbul, Cairo e Teerã. A geração seguinte produziu homens como Mossadegh, que sabiam da vida no ocidente ou foram educados em instituições de estilo ocidental e eram mais bem equipados para oferecer aos compatriotas, cada vez mais mobilizados, uma ideologia e uma política coerentes de nacionalismo e anticolonialismo.
Na biografia politicamente astuta que Christopher de Bellaigue construiu, Mossadegh não é o "velho bruxo tolo" e "Scheherazade birrento" de incontáveis memórias e matérias jornalísticas anglo-americanas, mas membro "daquela geração de asiáticos educados à ocidental que voltaram para casa com bigodes elegantemente aparados, para vender liberdade aos seus compatriotas": "Apaixonados pela mesma amante, A Pátria, esses turcos, árabes, persas e indianos vieram a liderar movimentos anticoloniais que transformaram o mapa do mundo." Mossadegh tinha mentalidade mais democratizante que Atatürk, por exemplo: de Bellaigue o chama de "primeiro líder liberal do Oriente Médio moderno" – sua "concepção de liberdade era tão sofisticada quanto qualquer outra na Europa ou na América". Mas foi menos bem-sucedido que seus heróis, Gandhi e Nehru; estava chegando aos 70 anos, hipocondríaco, quando afinal se tornou primeiro-ministro do Irã em 1951. Teve a má sorte de ser liberal-democrata num momento em que, como Nehru observou, com os canhões dos navios britânicos ditando o rumo da política egípcia, "democracia, para país oriental, parecia significar uma única coisa: levar adiante os planos e ordens do poder imperialista reinante." Embora mais focados e mais cheios de recursos que al-Afghani, liberais moderados como Mossadegh frequentemente se tornavam presas fáceis para as trapaças imperialistas. Jamais tiveram senão uns poucos aliados simbólicos no ocidente e, em casa, eram desprezados pelos linhas-duras que, adiante, assumiram a tarefa pós-colonial de construir dignidade e força nacionais. Khomeini, para citar um nome, sempre falou com desdém do fracasso de Mossadegh, que não soube proteger o Irã contra o ocidente.
Iranianos liberais e iranianos radicais citam vários casos em que o país foi humilhado pelo ocidente no século XIX, quando era dominado por britânicos e russos. Os eventos do início do século 20 minaram ainda mais a autonomia política, num momento em que as instituições políticas estavam sendo liberalizadas (resultado da Revolução Constitucionalista de 1905-7, fora criado um Parlamento). Na Primeira Guerra Mundial, Grã-Bretanha e Rússia primeiro ocuparam e depois dividiram o país, para manter longe os exércitos otomano-alemães. O fim da guerra não trouxe qualquer alívio. O Exército Vermelho ameaçava pelo note e os britânicos, já fracionando os territórios do Império Otomano, viram uma chance para anexar o Irã. Lorde Curzon, agora secretário do Exterior e convencido, como disse Harold Nicolson, de que "Deus selecionou pessoalmente a classe alta britânica como um instrumento da Vontade Divina", elaborou um acordo anglo-persa que era quase inteiramente destrutivo da soberania iraniana.
Diz-se que Mossadegh chorou ao saber do acordo. Em desespero, decidiu viver o resto da vida na Europa. Como depois se viu, Curzon, que jamais soube interpretar corretamente o ânimo nativo, avaliou mal o sentimento iraniano. O acordo foi denunciado; membros pró-britânicos do parlamento iraniano, Majlis, foram fisicamente atacados. Ante tal oposição, Curzon fincou pé: "Essa gente tem de aprender custe a eles o que custar, que não podem prosseguir sem nós. Pouco me importa se tiver de esfregar o nariz deles na poeira." Apesar da teimosia de Curzon, a revolta iraniana realmente enterrou o acordo anglo-persa. Mas já havia outro arranjo desigual que amarrava o Irã à Grã-Bretanha. Presciente, comprando ações do governo na empresa de petróleo anglo-persa Anglo-Persian Oil Company (APOC) em 1913, Winston Churchill já dera jeito de assegurar que 84% dos lucros da empresa viajassem diretamente para a Grã-Bretanha. Em 1933, Reza Khan, um soldado autodidata que aproveitara o caos do pós-guerra para abocanhar o poder e fundar uma nova dinastia governante (para grande desgosto de Mossadegh), já negociara novo acordo com a APOC, impressionantemente parecido com o primeiro. Durante a Segunda Guerra Mundial, tropas britânicas e russas novamente ocuparam o país, e os britânicos trocaram o xá reinante, afobadamente pró-nazistas, pelo filho dele, Muhammad Reza.
Naqueles anos, a política britânica era dominada pelo que Bellaigue chama, sem exagero, de "profundo desprezo pela Pérsia e seu povo" – o que serviu de faísca, não só para o moderno nacionalismo iraniano, mas, também, pela suspeita, que parece inafastável, de que a Grã-Bretanha sempre será "força maligna". Quando em 1978 o xá chamou Khomeini de agente britânico, usou a expressão como ofensa grave; o ataque acabou saindo-lhe pela culatra, porque marcou o início do primeiro dos movimentos de massa contra seu reinado. APOC, já rebatizada como Anglo-Iranian Oil Company em 1935, gerou gordos lucros de $3 bilhões entre 1913 e 1951, mas apenas $624 milhões permaneceram no Irã. Em 1947, o governo britânico recebeu £15 milhões em impostos só sobre os lucros da empresa, enquanto o governo do Irã ficou com metade dessa soma, em royalties. A empresa também excluiu iranianos da administração e impediu que Teerã examinasse as contas.
O crescente sentimento antibritânico finalmente levou o xá Muhammad Reza a nomear Mossadegh como primeiro-ministro no início de 1951. Os nacionalistas iranianos, então, já reuniam partidos secularistas e partidos religiosos e partidos da esquerda comunista e não comunista. Mossadegh, que, como escreve de Bellaigue, "era o primeiro e único estadista iraniano a comandar todos os ramos nacionalistas", tratou rapidamente de nacionalizar a indústria do petróleo. Dezenas de milhares ocuparam as ruas para saudar os funcionários mandados de Teerã para assumir o comando das instalações britânicas de petróleo em Abadan, beijando os carros cobertos de poeira – um dos quais pertencia a Mehdi Bazargan, que adiante seria o primeiro primeiro-ministro da República Islâmica do Irã. O embaixador dos EUA relatou que Mossadegh tinha o apoio de 95% da população; e o xá contou ao diplomata Averell Harriman que não se atrevera a dizer uma palavra em público contra a nacionalização. Mossadegh sentiu-se conduzido nas asas da história. "Centenas de milhões de asiáticos, depois de séculos de exploração colonial, ganharam afinal a liberdade e a independência", disse ele na ONU em outubro de 1951: os europeus reconheceram os clamores por soberania e dignidade nacional da Índia, da Indonésia, do Paquistão – por que continuaram a ignorar o Irã?
Foi apoiado por uma ampla coalizão de novos países asiáticos. Até o delegado de Taiwan, que ganhou lugar na ONU à custa da República Popular da China de Mao, lembrou aos britânicos que "longe vão os dias quando o controle da indústria iraniana de petróleo podia ser partilhado com empresas estrangeiras." Outros regimes pós-coloniais nacionalizariam em pouco tempo as respectivas indústrias nacionais do petróleo, adquirindo assim o controle sobre os preços internacionais e expondo as economias ocidentais a choques graves. Mas os britânicos, enraivecidos pela impertinência de Mossadegh e desesperadamente carentes de retorno do que era o maior investimento dos britânicos no além mar, nada viam e nada ouviam.
A Grã-Bretanha já não podia sustentar o próprio império, mas, como de Bellaigue destaca, em muitos locais, "particularmente no Irã, homens de bochechas rosadas andavam de casaca, de um lado para o outro, como se nada estivesse acontecendo". Muitos deles estavam na diretoria da Anglo-Iranian Oil Company – e, como um deles confessou, estavam "desamparados, ansiosos, sem qualquer ideia comum a todos, confusos, sem perspectiva, cegos". Ainda convencidos de que "tinham prestado enorme favor aos iranianos por encontrar e extrair petróleo", os britânicos rejeitaram uma proposta, apoiada pelos EUA, de que os lucros fossem partilhados igualmente, e lançaram um bloqueio devastadoramente efetivo contra a economia iraniana. "Se nos curvamos a Teerã, amanhã nos curvamos a Bagdá", disse o Express, com lógica Curzoniana.
O retorno de Churchill a Downing Street em 1951, empoderou ainda mais os neoimperialistas: o Daily Mail exortava o governo a "fazer alguma coisa antes que a podridão se dissemine ainda mais". Rapidamente cresceu um consenso anti-Mossadegh, mesmo entre os liberais. Em 1891, al-Afghani desafiara a imagem criada por Reuter, de iranianos lutando por soberania como fanáticos religiosos, suspeitando que houvesse alguma relação com interesses comerciais britânicos no Irã. Em 1951, o Observer de David Astor não protegia menos os interesses britânicos ao apresentar Mossadegh como 'fanático" e "trágico Frankenstein... obcecado com uma única ideia xenofóbica".
"Havia preocupação em todo o mundo branco", escreve de Bellaigue, ante o "show de maus modos orientais de Mossadegh". O departamento de Relações Exteriores da Grã-Bretanha iniciou uma campanha para persuadir o público dos EUA da correção da causa britânica, e a imprensa dos EUA rapidamente aderiu. O New York Times e o Wall Street Journal compararam Mossadegh a Hitler, ainda que seu populismo ocasionalmente autoritário tivesse de enfrentar um parlamento dividido e uma crescente oposição interna formada de comerciantes, proprietários de terra, saudosos da realeza, militares e clérigos de direita (alguns dos quais garantiriam a entrada de que careciam os aventureiros da CIA e do MI6). Em The US Press and Iran: Foreign Policy and the Journalism of Deference (1988), William Dorman e Mansour Farhang mostram que nenhum grande jornal nos EUA sequer algum dia noticiou as manifestações dos iranianos contra a AIOC. Em vez disso, o Washington Post dizia que o povo do Irã não era capaz de sentir "gratidão". Rememorando aqueles tempos, com remorso tardio, o correspondente do New York Times em Teerã, Kennett Love, descreveu Mossadegh posteriormente como "homem razoável", atuando sob "pressões nada razoáveis". Mas o próprio Love foi sutilmente coagido a acompanhar os que chamou de seus "editores obtusamente pró-establishment" em New York, e a colaborar com a embaixada dos EUA.
Tendo proclamado o "Século Norte-americano", o Time de Henry Luce assumiu interesse direto no Irã rico em mercadorias, argumentando que os "russos podem intervir, passar a mão no petróleo e até disparar a Terceira Guerra Mundial". Já decididos a derrubar Mossadegh, os britânicos não tardaram a explorar a crescente obsessão dos EUA com o expansionismo soviético: o Irã seria como um teste de como "desqualificar" o nacionalismo asiático associando-o ao comunismo. Encontraram audiência receptiva nos irmãos Dulles, o secretário de Estado e o diretor da CIA no novo governo de Eisenhower em 1953.
Apoiado em fontes persas, de Bellaigue apresenta relato bem informado da "Operação Ajax", o golpe de CIA/MI6 que derrubou o governo de Mossadegh e impôs o Xá Reza Pahlavi como todo-poderoso governante do Irã em agosto de 1953. A história da destruição, por forças anglo-americanas, das esperanças do Irã de estabelecer-se como moderno estado liberal já foi contada várias vezes, mas a mensagem de 1953 ainda não parece ter sido absorvida. Ainda em 1964, Richard Cottam, adido político na embaixada dos EUA nos anos 1950 e depois professor especialista em Irã, alertava que as "distorções" distribuídas pela imprensa e por acadêmicos relacionadas à era Mossadegh beiraram o "grotesco, e até hoje parece que praticamente não há qualquer esperança de alguma política exterior norte-americana sofisticada para o Irã." (Cottan teria acrescentado "ou para todo o Oriente Médio".) O New York Times resumiu o clima neoimperial de imediatamente depois do golpe: "Países subdesenvolvidos ricos em recursos têm agora lição bem concreta do alto preço que terá de pagar qualquer deles que se deixe tomar por nacionalismo fanático."
Apesar de ter sido informado repetidas vezes por Kennett Love, o Times nunca fez qualquer referência ao papel central que teve a CIA na derrubada de Mossadegh – e foi a primeira grande operação da Guerra Fria, da então desconhecida agência. Ao festejar a visita oficial do xá aos EUA em 1954, o Times exultava: "Hoje Mossadegh está onde tem de estar – na cadeia. E o petróleo volta a correr para os livres mercados do mundo." O Irã, prosseguia o jornal, caminha "rumo a novos e auspiciosos horizontes". A imprensa americana, que começara a denunciar Mossadegh como o Führer iraniano, aplaudia agora os esquemas de modernização faraônica do xá. Foi pelo menos em parte resultado da prodigalidade com que recebeu os barões da mídia americana, dentre os quais, segundo lista que os revolucionários divulgaram em 1979, estavam Walter Cronkite, Barbara Walters, Peter Jennings e Mrs. Arthur Sulzberger.
Reforçado por esse apoio, o antes tímido xá começou a exibir sintomas da síndrome que al-Afghani já identificava em um de seus predecessores: "Por bizarro que pareça, fato é que, cada vez que o xá voltava de uma de suas visitas à Europa, aumentava a crueldade e a tirania contra o próprio povo." Com certeza a imprensa americana não tinha tempo a perder com opiniões de iranianos comuns, para quem, como de Bellaigue destaca, os EUA, em 1953, já se haviam tornado "quase do dia para a noite", "cúmplices do xá na injustiça e na opressão". Empresas americanas ganharam fatia de 40% da produção de petróleo depois da derrubada de Mossadegh, e no início dos anos 1960, intelectuais iranianos, muitos dos quais forçados ao exílio, já começavam a examinar, como Jalal al-e Ahmad escreveu em Gharbzadegi (traduzido imperfeitamente como Weststruckness), como foram completamente ignorados enquanto outras pessoas mudaram-se "indo e vindo para nosso meio, até que acordamos, para ver cada torre de petróleo como um espinho empalando a terra".
A hostilidade iraniana contra os EUA cresceu, com os negócios entre a CIA e os carrascos e torturadores da polícia secreta do xá. Até irromper em 1979, chocando políticos e a opinião pública americana, que buscavam interpretar os eventos revolucionários em interpretações do "Islã", exatamente como fizeram depois de 11/9. Não tinham como compreender que, como acontecera no Protesto do Tabaco de 1891 e no levante nacionalista que levou Mossadegh ao poder, brotara uma ampla coalizão iraniana contra o xá e seus aliados estrangeiros. De fato, nos primeiros dias da revolução, Mossadeghistas como Bazargan pareciam tão fortes quanto seus aliados socialistas e islâmicos. Foram Jimmy Carter, ao oferecer asilo ao xá em 1979, e o ataque de retaliação contra a embaixada dos EUA em Teerã, que fizeram pender a balança a favor dos revolucionários islâmicos.
O ataque brutal de oito anos de Saddam Hussein contra o Irã, cnicamente assistido pelos EUA, consolidou os republicanos islâmicos ao mesmo tempo em que fortalecia a imagem popular do Grande Satã. Sempre pressionados, reformadores liberalizantes em torno de Mohammad Khatami foram ainda mais enfraquecidos pela repentina inclusão do Irã, por George W. Bush, no seu "eixo do mal". Desde então, as invasões e ocupações americanas só confirmaram a percepção, predominante no Irã, de que o ocidente é pateticamente incompetente e culpado do que Khomeini chamou de istikbar i jahani ("arrogância global").
A guerra entre o Irã e os Estados Unidos nunca pareceu mais provável do que nos últimos meses, enquanto políticos e jornalistas norte-americanos apoiam obedientemente a fanfarronice de Binyamin Netanyahu. Há poucos sinais na imprensa mainstream aqui ou nos EUA de que alguém esteja prestando atenção a De Bellaigue e a outros escritores estudiosos sobre o Irã. Uma recente resenha do The Guardian sobre o livro de De Bellaigue alegou que o xá "trouxe ao Irã uma prosperidade, segurança e prestígio desconhecidos desde o século XVII. Mahmoud Ahmadinejad, um banqueiro oportunista cujo apoio está diminuindo e que sofre a desaprovação do líder supremo, é rotineiramente retratado como o próximo Hitler.
7 de junho de 2012
Salve-nos dos salvadores: a Europa e os gregos
Justiceiros de camisa preta do movimento neofascista Aurora Dourada têm patrulhado as ruas e espancado todos os imigrantes que encontram.
Slavoj Žižek
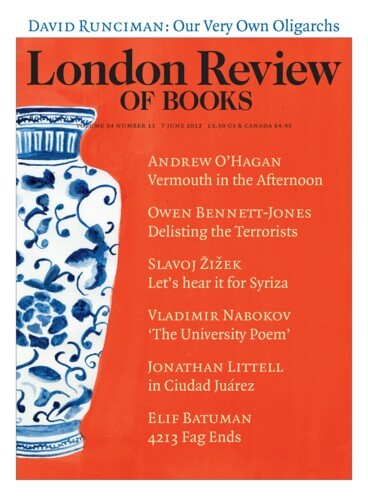 |
| Vol. 34 No. 11 · 7 June 2012 |
Tradução / Imagine uma cena de um filme distópico que mostre nossa sociedade num futuro próximo. Guardas uniformizados patrulham ruas semivazias dos centros das cidades, à caça de imigrados, criminosos e desocupados. Os que encontram, os guardas espancam. O que parece fantasia de Hollywood já é realidade hoje, na Grécia.
Durante a noite, vigilantes uniformizados com as camisas negras do partido neofascista Golden Dawn [Aurora Dourada], de negadores do Holocausto –, que receberam 7% dos votos no segundo turno das eleições gregas e que contam com o apoio, como ouve-se pela cidade, de 50% da Polícia de Atenas – patrulham as ruas, espancando todos os imigrados que cruzem seu caminho: afegãos, paquistaneses, argelinos. É como a Europa defende-se hoje, na primavera de 2012.
O problema de defender a civilização europeia contra a ameaça dos imigrantes é que a ferocidade com que os defensores europeus defendem-se é ameaça muito maior a qualquer ‘civilização’, que qualquer tipo de invasão de muçulmanos, e ainda que todos os muçulmanos decidissem mudar-se para a Europa. Com defensores como esses, a Europa não precisa de inimigos.
Há cem anos, G.K. Chesterton deu forma articulada ao impasse em que se metem todos os que criticam a religião:
“Homens que se ponham a combater igrejas em nome da liberdade e da humanidade espantam de si mesmos a liberdade e a humanidade, no momento em que atacam a primeira igreja (...). Os secularistas não provocaram o naufrágio das coisas divinas; só fizeram naufragar coisas seculares... se isso lhes serve de consolo”.
Tantos guerreiros liberais andam tão furiosamente decididos a combater o fundamentalismo não democrático, que acabam esquecendo qualquer liberdade e qualquer democracia, tudo em nome de combater o terror. Se os “terroristas” só pensam e fazer naufragar esse nosso mundo por amor pelo outro mundo, os nossos guerreiros antiterror só pensam em por a pique qualquer democracia, por ódio ao próximo muçulmano. Alguns deles são tão perdidamente apaixonados, fanatizados pela dignidade humana [e, no Brasil, pela chamada “ética”], que chegam a legalizar a tortura... para defender a dignidade humana. É a inversão do processo pelo qual os fanáticos defensores da religião começaram por atacar a cultura secular contemporânea e acabaram por sacrificar até as próprias credenciais religiosas, na ânsia de erradicar todos os aspectos que odeiam no secularismo.
Mas os defensores que insistem em defender a Grécia contra imigrantes não são o principal perigo: não passam de subproduto do perigo muito maior, da ameaça mãe de todas as ameaças: a política de “austeridade” que causou a desgraça da Grécia. As próximas eleições na Grécia estão marcadas para dia 17 de junho.
O establishment europeu alerta que são eleições cruciais: não estaria em jogo só o destino da Grécia, mas o destino de toda a Europa. Um resultado – o correto, segundo eles – levará ao processo doloroso,. mas necessário de recuperação, pela austeridade, para continuar. A alternativa – no caso de vitória do Partido Syriza, de “extrema esquerda” – seria votar pelo caos, pelo fim do mundo (europeu) como o conhecemos.
Os profetas do apocalipse estão corretos, mas não como supõem ou pretendem. Críticos dos arranjos democráticos hoje vigentes reclamam que as eleições não oferecem opção real: votamos para escolher apenas entre uma centro-direita e uma centro-esquerda cujos programas são quase absolutamente idênticos. Mas dia 17 de junho, afinal, haverá escolha significativa: de um lado o establishment (Nova Democracia e Pasok); do outro lado, a Coalizão Syriza. E, como acontece quase sempre em que haja escolhas reais no mercado eleitoral, o establishment está em pânico: caos, pobreza e violência eclodirão imediatamente, dizem, se os eleitores escolherem “errado”. A mera possibilidade de vitória da Coalizão Syriza, como se ouve, já dispara convulsões de medo nos mercados. A prosopopéia ideológica é rampante: os mercados falam como se fossem gente, manifestam “preocupação” pelo que acontecerá se as eleições não produzirem governo com mandato para manter o programa de austeridade e reformas estruturais de UE-FMI. Os cidadãos gregos não têm tempo para pensar nas preocupações “dos mercados”: mal conseguem ter tempo para preocupar-se com a sobrevivência diária, numa vida que já alcança graus de miséria que não se viam na Europa há décadas.
Todas essas são previsões enunciadas para se autocumprirem, causar mais pânico e, assim, forçar as coisas a andarem na direção “prevista”. Se a Coalizão Syriza vencer, o establishment europeu ficará à espera de que nós aprendamos com nossos erros o que acontece quando alguém tenta interromper, por via democrática, o ciclo vicioso de cumplicidade bandida, entre os tecnocratas de Bruxelas e a demagogia suicida do populismo anti-imigrantes.
Foi exatamente o que disse Alexis Tsipras, candidato da Coalizão Syriza, em entrevista recente: que sua prioridade absoluta, no caso de sua coalizão vencer as eleições, será conter o pânico: “Os gregos derrotarão o medo. Não sucumbirão. Não se deixarão chantagear.”
A tarefa da Coalizão Syriza é quase impossível. A coalizão não traz a voz da “loucura” da extrema esquerda, mas a voz do falar racional contra a loucura da ideologia dos mercados. No movimento de prontidão para assumir o governo da Grécia, já derrotaram o medo de governar, tão característico do “esquerdismo”; já mostraram que não temem fazer a faxina do quadro confuso que herdarão. Terão de mostrar-se capazes de montar e cumprir uma formidável combinação de princípios e pragmatismo; de compromisso democrático e presteza para intervir com firmeza onde seja preciso. Para que tenham uma mínima chance de sucesso, precisarão de toda a solidariedade dos povos europeus; não só de respeito e tratamento decente pelos demais países europeus, mas, também, de ideias mais criativas – como a de um “turismo solidário” nesse verão, que já propuseram.
Em suas Notes towards the Definition of Culture, T.S. Eliot [2] observou que há momentos em que a única escolha é entre a heresia e o não crer – i.é, quando o único meio para manter viva uma religião é promover uma divisão de seitas. Essa é, hoje, a posição em que está a Europa. Só uma nova “heresia” – representada hoje pela Coalizão Syriza – pode salvar o que valha a pena salvar do legado europeu: a democracia, a confiança no voto do povo, a solidariedade igualitária etc.. A Europa que haverá para nós, se a Coalizão Syriza for descartada, é uma “Europa com valores asiáticos” – os quais, é claro, nada têm a ver com a Ásia, e tem tudo a ver com a tendência do capitalismo contemporâneo, para suspender a democracia.
Eis o paradoxo que mantém o “voto livre” nas sociedades democráticas: cada um é livre para escolher, desde que faça a escolha certa. Por isso, quando se faz a escolha errada (como quando a Irlanda rejeitou a Constituição da União Europeia), a escolha é tratada como erro; e o establishment imediatamente exige que se repita o processo “democrático”, para que o erro seja reparado.
Quando George Papandreou, então primeiro-ministro grego, propôs um referendum sobre a proposta de resgate que a Eurozona apresentara no final do ano passado, até o referendum foi descartado como falsa escolha.
Há duas principais narrativas na mídia, sobre a crise grega: a narrativa alemã-europeia (os gregos são irresponsáveis, preguiçosos, gastadores, não pagam impostos, etc.; e têm de ser postos sob controle, com aulas de disciplina financeira); e a narrativa grega (nossa soberania nacional está ameaçada pelo tecnologia neoliberal imposta por Bruxelas).
Quando se tornou impossível ignorar o suplício do povo grego, emergiu uma terceira narrativa: os gregos estão sendo apresentados hoje como vítimas de desastre humanitário, carentes de ajuda, como se alguma guerra ou catástrofe natural tivesse atingido o país.
As três são falsas narrativas, mas a terceira parece ser a mais repugnante. Os gregos não são vítimas passivas. Os gregos estão em guerra contra o establishment econômico europeu. Precisam de solidariedade nessa luta, porque a luta dos gregos é a luta de todos nós.
A Grécia não é exceção. É mais uma, dentre várias pistas de testes de um novo modelo socioeconômico de aplicação quase ilimitada: uma tecnocracia despolitizada, na qual banqueiros e outros especialistas ganham carta branca para demolir a democracia.
Ao salvar a Grécia de seus ditos “salvadores”, salvaremos também a Europa.
Terroristas? Nós?
Owen Bennett-Jones
 |
| Vol. 34 No. 11 · 7 June 2012 |
Terror Tagging of an Iranian Dissident Organisation
by Raymond Tanter.
Iran Policy Committee, 217 pp., £10, December 2011, 978 0 9797051 2 0
Tradução / “Mas a verdade é outra. Os apoiadores norte-americanos dos MEKs creem que a organização ainda tenha potencial “de combate”, precisamente por sua longa história de violência e terrorismo. Por isso creem que esses terroristas sejam úteis para arrancar do poder os mulás iranianos. Por isso a secretária Clinton acabará por excluir os MEKs, da lista de organizações terroristas”
Essa história dos “Mujahedin do Povo” (Mujahedin e Khalq, MEK), também conhecidos como “Mujahedin do Irã”, é o relato de como gerenciamento competente e insistente de marketing & imagem pode fazer, de um inimigo mortal, um muito prezado aliado.
Os MEKs estão hoje em campanha massiva para serem excluídos da lista dos EUA de organizações terroristas. Tão logo sejam tirados da lista, estarão livres para usar o apoio que sempre deram aos EUA, e tornarem-se o grupo mais bem amado, mais favorecido e, sem dúvida, o que mais fundos receberá, dentre outros grupos da oposição iraniana.
Outro artifício, também usado para conseguir resultado bem semelhante a esse, foi o Congresso Nacional Iraquiano (CNIq) – grupo de lobby liderado por Ahmed Chalabi que falou de democracia e pavimentou o caminho para a invasão do Iraque, presenteando Washington com “provas” altamente questionáveis da existência de inexistentes armas de destruição em massa e de laços entre Saddam Hussein e a al-Qaeda. Em seguida, quando George Bush levou os EUA à guerra, o CNIq e seus líderes só tiveram de descansar um pouco e preparar-se para governar.
Muitos em Washington acreditam que, para o bem ou para o mal, os EUA irão à guerra contra o Irã, e que os MEK terão papel a desempenhar. Mas, antes, eles terão de convencer Hillary Clinton a retirar o grupo de sua lista oficial de terroristas. Alguns funcionários de Clinton têm insistido para que ela deixe os MEK exatamente na lista onde estão; mas há cachorros grandes em Washington que exigem furiosamente que ela converta os MEK em organização oficialmente declarada não terrorista. Depois de exaustiva caminhada entre várias agências, o processo dos MEK está agora sobre a mesa de Clinton. Declarações recentes do Departamento de Estado indicam que a “desterrorificação” dos militantes MEK já é, agora, bem provável.
Organizados nos anos 1960s como grupo islamista anti-imperialista, com tendências socialistas e dedicado à luta para derrubar o xá, os MEK originalmente defenderam não só a revolução islâmica, mas, também, muitos direitos para as mulheres – combinação que atraiu muitas simpatias nos campi das universidades iranianas. Conseguiram construir genuína base popular e tiveram papel destacado na derrubada do Xá em 1979. Tornaram-se tão populares, que o Aiatolá Khomeini sentiu que precisava destruí-los; ao longo dos anos 1980s, Khomeini fomentou julgamentos e execuções públicas de membros do grupo. Os MEK retaliaram, com atentados contra clérigos influentes no Irã.
Temendo pela vida, membros dos MEK fugiram, primeiro para Paris, depois para o Iraque, onde Saddam Hussein, desesperado para encontrar aliados para a guerra contra o Irã, ofereceu-lhes milhões de dólares, além de tanques, peças de artilharia e armas de vários tipos. Também deu-lhes terras. Camp Ashraf tornou-se lar dos MEK, uma fortaleza no deserto, 80 km ao norte de Bagdá, a uma hora de viagem por terra até a fronteira do Irã.
A partir dos anos 1970s, a retórica dos MEK mudou, de islamista para secular; de socialista para capitalista; de pró-revolução para anti-revolução.
E desde a queda de Saddam o grupo apresenta-se como pró-EUA, “da paz”, dedicado a promover a democracia e os direitos humanos. Mas essa incansável “reinvenção” pode ser perigosa, e o novo governo iraquiano, favorável ao Irã, está sendo pressionado por Teerã para fechar definitivamente a fortaleza de Camp Ashraf, que cresceu ao longo das décadas e abriga hoje população equivalente à de qualquer das pequenas cidades da região. E não só o Irã. Muitos iraquianos também não veem com bons olhos os MEK, não só por terem-se aliado a Saddam Hussein, mas porque os MEK também participaram da violenta supressão de curdos e xiitas.
Forças de segurança do Iraque já, por duas vezes, atacaram Camp Ashraf, em 2009 e 2011, ataques que deixaram mais de 40 mortos. Vídeos de tanques blindados lançados contra moradores desarmados de Ashraf podem ser vistos em YouTube. Agora, o Iraque decidiu que Camp Ashraf tem de ser fechado; e os moradores, relutantemente, começaram a mudar-se para Camp Liberty, ex-base do exército dos EUA próxima do aeroporto de Bagdá, atualmente sob supervisão da ONU e protegida por forças da segurança iraquiana. O Alto Comissariado da ONU para Refugiados [orig. UNHCR] está cadastrando os residentes, com vistas a distribuí-los por outros países, como refugiados; mas poucos países deram sinais de interesse em receber pessoas que, do ponto de vista oficial dos EUA, são terroristas, e que, segundo outros, não passariam de fiéis adoradores de uma espécie de culto satânico.
Os MEK passaram a viver sob regras típicas de grupos de fanáticos religiosos – os fiéis foram separados das respectivas famílias e amigos; e toda a informação que chegava até eles era controlada – depois de 1989, ano em que o casal que lidera o movimento, Massoud e Maryam Rajavi, lançou a Operação Luz Eterna [orig. Operation Eternal Light]. Depois que Saddan fracassou no golpe para “mudar o regime” no Irã, a Operação Luz Eterna foi a alavanca escolhida para, afinal, levar o grupo a controlar o país. O sucesso, disse Rajavi aos seus guerreiros-fiéis, era garantido, porque o povo iraniano, civis e militares, desertaria em massa e seguiria os MEK na marcha sobre Teerã. Seria fácil, disse ele. Mas, à parte ninguém ter desertado, as forças iranianas resistiram ferozmente e contra-atacaram. Morreram mais de mil seguidores dos MEK de Massoud e Maryam Rajavi, e muitos outros foram feridos. Os MEK perderam cerca de 1/3 de seus quadros.
Rajavi tinha de encontrar alguma explicação para a derrota. A ideia ortodoxa que lhe ocorreu foi dizer aos seus seguidores, que haviam perdido a guerra porque se deixaram distrair por amor&sexo. Ordenou que os seguidores se divorciassem, abraçassem o celibato e passassem a viver numa habitação comunitária, só de homens, como soldados de exércitos regulares. Tomados de ideias de autossacrifício e martírio, os combatentes MEK obedeceram. (Até hoje a regra do celibato é tão rígida que há turnos no posto de combustível de Camp Ashraf, para que mulheres e homens abasteçam os carros sem se encontrarem.) Os combatentes MEK foram treinados para transferir a paixão pelas antigas esposas, para os líderes. Conscientes de que a frustração sexual já gerava novas dificuldades, os Rajavis passaram a organizar reuniões nas quais os MEK deveriam confessar, em público, suas fantasias sexuais. E os que confessavam eram espancados por outros fiéis. Não se estimulavam nem amizades, nem filhos em Camp Ashraf.
A partir de meados dos anos 1980s, sob alegação de que a segurança ali seria precária, os líderes ordenaram que várias crianças que viviam em Camp Ashraf fossem entregues para adoção a famílias pró-MEK na Europa e no Canadá. Alguns pais passaram mais de 20 anos sem ver os filhos.
Essas práticas, e as frequentes sessões de doutrinação, além do bloqueio total de qualquer informação vinda do mundo exterior (os MEK são proibidos também de usar telefones), ajudaram a firmar o controle sobre os membros. Mas os MEK que viviam fora do Iraque também manifestaram extraordinária devoção à causa. Em 2003, quando autoridades francesas prenderam Maryam Rajavi e a acusaram de terrorismo (adiante, ela foi libertada), 10 militantes dos MEK, em diferentes pontos do mundo, puseram fogo ao corpo, em sinal de protesto: dois deles morreram.
O grupo MEK nega, evidentemente, que tenha organização de culto religioso. Mas vários observadores externos – militares norte-americanos de alto escalão, agentes do FBI, jornalistas e a Rand Corporation (financiada pelo Pentágono) – que estiveram em Camp Ashraf insistem em repetir que, sim, são organizados como seita. Um alto funcionário do Departamento de Estado (hoje aposentado), que foi enviado ao Iraque para entrevistar milhares de membros dos MEK, concluiu que, sim, se tratava de seita e culto religiosos; que a fortaleza de Camp Ashraf, praticamente uma cidade, mas não qual não se via uma única criança, era “completa tragédia, em termos humanos”; que os membros eram “mal atendidos e mal dirigidos” pelos líderes; e que muitos haviam sido subornados ou, no geral, “enganados”, para que se unissem ao grupo.
Os MEK usavam vários métodos de recrutamento. A elite do grupo reuniu-se no Irã, antes da revolução popular islâmica. Outros eram prisioneiros iranianos, capturados durante a guerra Irã-Iraque. A esses, Saddam ofereceu uma barganha: se se alistassem no grupo dos MEK, poderiam trocar os campos de prisioneiros de guerra e mudar-se para o complexo de Camp Ashraf, muito mais confortável. Outros membros foram recrutados em campi de universidades dos EUA, com promessas de emprego, dinheiro, novos passaporte e a oportunidade de lutar contra os exércitos dos mulás. Outros, mais simplesmente, foram enganados.
A um ativista dos MEK que vivia no Irã e que estava em visita a Camp Ashraf contaram que sua mulher e filho haviam sido mortos; e que ele, se quisesse poderia ficar vivendo ali. Só depois de dez anos, afinal, o homem voltou a encontrar um telefone; ligou para o número de sua casa no Irã e, afinal, soube que estavam todos vivos. Outros ex-membros dos MEK contam que, na chegada ao Iraque, eram passados clandestinamente pelos controles de imigração, de modo que seus passaportes não registravam qualquer carimbo de entrada. Depois, quando decidiam deixar o país, eram informados que corriam o risco de ser presos por ter entrado ilegalmente no país.
Ouvi horas de depoimentos desse tipo, de ex-membros. O grupo insiste que todos os que contam essas histórias são agentes iranianos; que não separou famílias nem expulsou crianças. Mas as lágrimas de pais, mães, esposas e filhos me pareceram mais convincentes.
Mas, apesar de tudo isso, alguns oficiais militares norte-americanos que trabalharam em Camp Ashraf depois da invasão do Iraque saíram de lá convencidos de que os MEK poderiam ser aliados muito úteis.
O general David Phillips, policial-militar que serviu lá em 2004, argumenta que, se os MEK são organizados como culto e facção religiosa, o mesmo se pode(ria) dizer dos Marines dos EUA: os Marines e os MEK são obrigados a usar uniformes, obedecem ordens e seguem rituais que, para os não iniciados, parecem bizarros.
Esse tipo de simpatia pelos MEK e a avaliação positiva que se ouve de vários militares dos EUA são fáceis de explicar. Em 2003, foram informados de que os EUA encontrariam pesada resistência, de um exército de terroristas uniformizados e pesadamente armados, que combateriam a favor de Saddam e contra as forças dos EUA. Mas aconteceu que, entre o momento em que a informação foi recolhida e a chegada dos americanos, os líderes dos MEK rapidamente entenderam que não havia futuro para Saddam; e, numa pirueta política, trocaram de lado.
Quando os soldados dos EUA chegaram a Camp Ashraf, foram recebidos por anfitriões cordiais, que falavam inglês e logo manifestaram integral apoio à “causa” dos EUA. Para muitos soldados dos EUA, Camp Ashraf tornou-se refúgio e abrigo, onde encontravam segurança, num país massivamente hostil.
Mas nada disso explica a popularidade de que gozam os MEK entre políticos em Londres, Bruxelas e Washington, hoje. Boa parte dessa popularidade é comprada. Cerca de três dúzias de ex-altos comandantes militares e políticos norte-americanos são conferencistas regulares nos eventos dos MEK e de amigos dos MEK: Rudy Giuliani; Howard Dean; o ex-conselheiro para segurança nacional do governo Obama, general James Jones; e o ex-senador Lee Hamilton. O pagamento, por dez minutos de fala, com pose para fotografias, está entre $20 mil e $40 mil dólares. O tema dessas “palestras” pode ser qualquer um: muitos dos palestrantes sequer mencionam a sigla MEK.
Em meses recentes, o governo Obama sinalizou que poderá proibir a realização dessas “palestras” e eventos. O Tesouro investiga denúncias de que os “palestrantes” norte-americanos estariam recebendo dinheiro de organização terrorista “listada”. O que querem de fato saber, em outras palavras, é se os exilados iranianos que pagam o “soldo” dos “palestrantes” são membros dos MEK; os que fazem campanha a favor do grupo, sem receber pagamento, não serão afetados. A maioria dos apoiadores apóiam os MEK porque apoiariam qualquer coisa que ajude ou pareça ajudar a derrubar o governo em Teerã. Parecem não se dar conta de que a organização tem sido definida como culto de fanáticos e não tomam conhecimento do que dizem os ex-membros.
Grande número dos mais conhecidos lobbyistas pró-MEK dizem que aceitam fazer as tais “palestras” porque outros intelectuais e políticos que também participam das atividades dos MEK são prova da respeitabilidade do grupo.
Mas os MEK também têm lobbyistas contratados em Washington, que se dedicam a escrever longas respostas às críticas. As 105 páginas do relatório da Rand Corporation sobre os MEK foram escritas por quatro desses lobbyistas, que trabalharam durante 15 meses nos EUA e no Iraque, para produzir a mais aprofundada análise que há, dos aspectos considerados “de culto” do movimento. A resposta veio de um grupo dito “de Ação Executiva”, que se autodescreve como “uma CIA e Departamento de Defesa privados, disponíveis para cuidar dos seus mais complexos problemas e desafios mais difíceis”. O relatório da “Ação Executiva” levava o título de Courting Disaster: How a Biased, Inaccurate Rand Corporation Report Imperils Lives, Flouts International Law and Betrays Its Own Standards. [1] O autor que assina pela “Ação Executiva”, Neil Livingstone, hoje candidato dos Republicanos ao governo do estado de Montana, contou que fora contratado por um “cidadão norte-americano” para avaliar a objetividade do Relatório Rand.
Concluiu que, dentre outros problemas, os autores do Relatório Rand eram demasiadamente inexperientes para tratar de tema tão complexo como os MEK. Até hoje, os que apoiam o trabalho publicado por Neil Livingston, publicado há três anos, desqualificam o relatório Rand como “serviço de alunos calouros”. A Rand diz que a crítica visa aos assistentes do autor principal, que foram apenas coadjuvantes e cujos nomes só foram incluídos como autores para oferecer-lhes algo para engordar-lhes os currículos. Todo esse lobby custa quantias astronômicas de dinheiro.
Parte do dinheiro é reunido pelos militantes encarregados de levantar fundos para os MEK, na Grã-Bretanha e em outros pontos, que trabalham de porta em porta. Funcionários dos EUA também creem que os MEKtenham à sua disposição os ganhos auferidos do (muito) dinheiro que receberam de Saddam Hussein e aplicaram bem.
Muitos dos que militam pró-MEK não respondem diretamente às acusações de que não passariam de grupo dedicado a cultos satânicos: os lobbyistas falam insistentemente da questão de os MEK serem excluídos da lista de grupos terroristas.
Em 1996, resolução da Assembleia Geral da ONU criou comissão encarregada de redigir versão inicial de uma Convenção sobre Terrorismo Internacional. Desde então, funcionários reúnem-se anualmente para discutir a questão. Mas, até o momento, ainda não encontraram definição do que seja “terrorismo” que satisfaça todos. Dois pontos parecem emperrar sempre.
Primeiro, a Organização da Conferência Islâmica insiste que movimentos de resistência contra forças de ocupação e que lutem em nome da libertação nacional – por exemplo, na Caxemira –, não podem ser considerados movimentos terroristas. Segundo, os governos temem que estejam, eles próprios, incluídos em toda e qualquer definição de terrorismo que apareça à discussão naquela comissão.
Assim, com cada um tentando construir definições de “terrorismo” que mais claramente excluam as próprias práticas, não parece haver qualquer resultado à vista, no plano internacional.
Evidentemente, decidir quais grupos são terroristas e quais não são é sempre ato político: o IRA nunca foi considerado grupo terrorista, nas listas norte-americanas; e Nelson Mandela, ainda em 2008, permanecia listado como terrorista aos olhos dos EUA.
O histórico de ataques terroristas organizados pelos MEK remonta aos anos 1970s, quando fizeram oposição ao Xá e lutaram contra os EUA que apoiavam o Xá. Para o Departamento de Estado, os MEK, em 1973, assassinaram um soldado do exército dos EUA que servia em Teerã; e, em 1975, assassinaram dois membros do US Military Assistance Advisory Group. Além de três executivos da Rockwell International e um da Texaco, também assassinados. A hostilidade dos MEK contra os EUA continuou depois da Revolução Popular Iraniana.
Dia 4/11/1979, estudantes iranianos ocuparam a Embaixada dos EUA em Teerã e sequestraram 52 diplomatas norte-americanos, que foram mantidos presos por 444 dias. Um dos diplomatas sequestrados contou que não estaria na embaixada naquele dia, se não tivesse sido atraído para lá por seus contatos com os MEK. Outro relatou que não tinha qualquer dúvida de que os MEK haviam apoiado o sequestro e, de fato, não defendiam qualquer negociação diplomática. Muito tempo depois de Khomeini ter decidido que era mais que hora de acertar aquela questão, os MEK ainda insistiam que seu apoio aos sequestros não passaria de boatos, uma farsa ardilosamente concebida; hoje já negam peremptoriamente qualquer participação. Sobre os assassinatos, dizem que, naquela época, seu principal líder era prisioneiro nas prisões do Xá; e que, com isso, uma facção marxista havia invadido a organização e assumido o comando. Essa facção, de fato, um grupo dissidente, teria sido responsável pelos ataques e assassinatos; e os ataques cessaram quando os líderes legítimos foram libertados e reassumiram o comando. São discussões que, em todos os casos, estão ultrapassadas. Os anos 1970s já vão longe. As organizações mudam.
É possível que os MEK tenham parado de assassinar norte-americanos, mas continuam comprometidos com a luta armada no Iraque e no Irã. Os esforços que empenharam a favor de Saddam Hussein contra os curdos e os xiitas nada são, se comparados às bombas, assassinatos e vastas ofensivas que organizaram e executaram dentro do Irã do final dos anos 1980s aos anos 1990s. A história de violência dos MEK está bem documentada, mas a organização insiste que a violência é coisa do passado.
Essa ideia tem recebido considerável estímulo nas cortes europeias. Em 2007, a Comissão de Apelação para Organizações Proscritas, um organismo britânico especializado oficial, declarou que os MEK teriam renunciado ao uso da força e acolheu recurso impetrado pelo grupo e contra decisão do Foreign Office britânico, que preferia manter o grupo na lista de organizações terroristas. Em 2009, a União Europeia tirou os MEK da lista europeia de organizações terroristas, amparada numa tecnicalidade que beira o absurdo: antes de qualquer outra ação, o grupo deveria ter sido formalmente informado dos motivos pelos quais seria listado como “organização terrorista”.
Para manter os MEK na lista dos EUA, Hillary Clinton terá de demonstrar que o grupo ainda tem capacidade para ou projeto de cometer atos terroristas. Os apoiadores dos MEK lembram que, no processo para convencer a corte britânica de que são grupo pacífico, em julho de 2004, todos os que vivem em Camp Ashraf assinaram documento no qual rejeitam o terrorismo e todos os tipos de violência. Há quem não tenha sido plenamente convencido.
Dado o que se viu acontecer em Guantánamo e na base aérea de Bagram, dizem eles, surpresa seria se alguém se recusasse a assinar o tal documento de renúncia ao terror. Em novembro de 2004, o FBI relatou atividades do grupo em Los Angeles; o relatório fala de telefonemas gravados, nos quais líderes dos MEK na França discutiam “específicos atos de terrorismo, inclusive bombas”.
Segundo o FBI, a inteligência francesa e a polícia de Colônia também têm informações semelhantes e gravações. O relatório FBI-2004 foi divulgado há mais de um ano, mas praticamente todo o material no qual a secretária Clinton fundamentará sua decisão é sigiloso. Em 2010, a Corte de Apelação do Distrito de Columbia julgou acusação contra os MEK, e um dos três juízes, Karen LeCraft Henderson, observou que material sigiloso ao qual a corte teria tido acesso oferecia “apoio substancial” à acusação de que os MEK continuam engajados na prática de ações terroristas ou, no mínimo, que não desmontaram a infraestrutura terrorista básica, não perderam capacidade de ataque e têm planos para empreender novas ações terroristas. Matéria apresentada em fevereiro pelo canal NBC News citava funcionários não identificados do governo dos EUA, que teriam dito que os MEK seriam responsáveis pelo assassinato, em tempos recentes, de vários cientistas nucleares iranianos. Apesar de alguns apoiadores dos MEK já terem sugerido que essas ações não desmereciam os MEK, a própria organização negou qualquer envolvimento naqueles atentados.
O livro de Raymond Tanter aqui resenhado é parte da campanha de marketing-publicidade-Relações Públicas para mudança de imagem dos MEK – espécie de briefing dos que pregam que o grupo seja excluído da lista norte-americana de organizações terroristas. Tanter, que é apoiador ativo do grupo já há muito tempo, produziu um guia compacto, completo, com fotos e ilustrações em cores do grupo e transcrições de discursos feitos por defensores pagos para defender os MEK.
O livro nada diz sobre ataques perpetrados nos anos 1970s ou a ajuda que o grupo deu a Saddam Hussein. Também ignora outros ataques no Irã, nos anos 1990s. Tanter crê que, nos termos da legislação nos EUA, só as leis aprovadas nos EUA nos últimos anos seriam aplicáveis à questão de excluir ou manter o grupo na lista de organizações terroristas; o que nos leva à questão de excluir ou não excluir o grupo, daquela lista; e só considera o período pós- 2001.
O autor diz que os MEK seriam a melhor esperança disponível para a chamada “terceira alternativa”: um modo pelo qual os EUA consigam provocar mudança de regime da Síria, sem ter de depender de sanções ou de guerra.
É onde mais claramente se vê o vício que há no argumento dos lobbyistas pro-MEKs: de um lado, dizem que os MEK teriam renunciado à violência, o que lhes daria condições para pleitear que o grupo seja excluído da lista de organizações terroristas. Mas, mesmo que tenham realmente desistido da violência, ainda assim não se entende por que os EUA se aliariam a eles.
Mas a verdade é outra. Os apoiadores norte-americanos dos MEKs creem que a organização ainda tenha potencial “de combate”, precisamente por sua longa história de violência e terrorismo. Por isso creem que esses terroristas sejam úteis para arrancar do poder os mulás iranianos. Por isso a secretária Clinton talvez exclua o grupo, da lista de organizações terroristas.
Os apoiadores dos MEKs dizem que ainda são rede poderosa no interior do Irã e que não perderam as bases populares. Os que se opõem ao grupo dizem que o regime usa os terroristas MEKs para divulgar teorias conspiracionais sobre “complôs” armados fora do país. Dizem também que, ao apoiar o Iraque de Saddam, na guerra Irã-Iraque, os MEKs perderam a considerável base de apoio popular que chegaram a ter.
A secretária Clinton não poderá ignorar as considerações políticas. O lobby a favor dos MEKs insiste que seus ativistas correm risco de serem massacrados no Iraque. Se o Iraque decidir lançar novo ataque aos MEKs que vivem em Camp Ashraf, seja porque o grupo provoque demais, seja porque o grupo monte a encenação de algum ataque no qual surjam como vítimas indefesas, a resposta do lobby pró-MEKs será violenta.
Atualmente, a prioridade do Departamento de Defesa é garantir que os que ainda vivem em Camp Ashraf sejam transferidos em segurança para [o campo de refugiados] Liberty. Em fevereiro, Clinton disse que uma “transferência bem-sucedida teria peso decisivo em qualquer posição dos EUA sobre o status da organização terrorista estrangeira dos MEKs”. Em termos legais, nada significa e não faz qualquer sentido.
O que diz o acordo segundo o qual os MEKs aceitam deixar Camp Ashraf, sobre o grupo desejar ou ser capaz de organizar e executar atentados terroristas? Nada. O acordo não toca nesses temas.
De fato, as declarações da secretária Clinton revelam qual é o verdadeiro medo de Clinton e de seu departamento de Estado: temem que, deliberadamente ou como efeito de alguma provocação lançada pelos MEKs, os iraquianos ataquem os MEKs pela terceira vez, e que os EUA sejam denunciados por ignorarem os sinais de alerta. Em maio, o Departamento de Estado avançou alguns passos, e chegou a dizer que já considerava a possibilidade de excluir os MEKs da lista de suspeitos de associação, desde que continue a evacuação de Ashraf.
A declaração de Clinton sugere que ela já decidiu tirar os MEKs da lista de grupos terroristas. Sinal de que o lobby pró MEKs nos EUA trabalhou bem. Mas há mais uma coisa que se deve ter em mente.
Como disse recentemente um experiente observador em Washington: "Hillary Clinton é homem-político. Nesse momento, muitos de seus parceiros e associados estão ganhando bom dinheiro com a ajuda dos MEKs e eles absolutamente não apreciariam perder essa galinha de ovos de ouro, o que fatalmente acontecerá se o grupo continuar listado como organização terrorista." Se, porém, os MEKs forem excluídos da lista de organizações terroristas - como, antes, aconteceu ao INC [Congresso Nacional Iraquiano (CNIq)] de Chalabi -, os MEKs passam a poder receber "incentivos" pagos pelo Congresso dos EUA, e os Rajavis serão automaticamente convertidos a candidatos prováveis à presidência, depois da "mudança de regime" no Irã, com que sonham os EUA.
Há dez anos, Donald Rumsfeld e os neocons estavam de tal modo irmanados com Ahmed Chalabi, do Congresso Nacional Iraquiano (CNIq), que lhe forneceu um helicóptero para que Chalabi e um punhado de apoiadores viajassem até Nasiriya, de modo a aparecerem nas fotografias oficiais da “libertação do Iraque”. Mas bastou o helicóptero pousar, para que o mundo soubesse que ninguém, no Iraque, algum dia ouvira falar de Chalabi. E Chalabi foi derrotado nas eleições por outro ex-exilado, Nouri al-Maliki; e teve de contentar-se com o ministério do Petróleo. Até hoje, Al-Maliki lá continua, no Iraque, como sempre foi, dedicado apoiador do governo do Irã. Nada mais distante dos objetivos do golpe dos EUA no Iraque, tão longamente planejado.
Mas os lobbyistas incansáveis que operam em Washington a favor de outros grupos terroristas amigos dos EUA, preferem o lado alegre das histórias. Chalabi, eles concedem, jamais fora o que se supunha que fosse. Mas com os MEKs a coisa agora é diferente. Um coronel aposentado do exército dos EUA, que trabalha em lobbys a favor de grupos terroristas amigos dos EUA, como os MEKs iranianos, costuma escrever que Maryam Rajavi "é um George Washington".
Os EUA estão a um passo de comprovar, mais uma vez, que não são capazes de aprender com os próprios erros.
2 de junho de 2012
Igualdade, identidades e justiça social
Tradução / O "reconhecimento" se impôs como um conceito-chave de nosso tempo. Herdado da filosofia hegeliana, encontra novo sentido no momento em que o capitalismo acelera os contatos transculturais, destrói sistemas de interpretação e politiza identidades. Os grupos mobilizados sob a bandeira da nação, da etnia, da "raça", do gênero e da sexualidade lutam para que "suas diferenças sejam reconhecidas". Nessas batalhas, a identidade coletiva substitui os interesses de classe como fator de mobilização política - cada vez mais a reivindicação é ser "reconhecido" como negro, homossexual ou ortodoxo em vez de proletário ou burguês; a injustiça fundamental não é mais sinônimo de exploração, e sim de dominação cultural.
Essa mutação é um desvio que conduzirá a uma forma de balcanização da sociedade e à rejeição das normais morais universais? Ou oferece a perspectiva de corrigir a cegueira cultural associada a certa leitura materialista, desacreditada pela queda do comunismo de tipo soviético, que, cego à diferença, reforçaria a injustiça ao universalizar falsamente as normas do grupo dominante?
Essas perguntas revelam duas concepções globais de injustiça. Na primeira, a injustiça social resultaria da estrutura econômica da sociedade e se concretizaria na forma de exploração ou miséria. A segunda, de natureza cultural ou simbólica, decorreria de modelos sociais de representação que, ao imporem seus códigos de interpretação e seus valores, excluiriam os "outros" e engendrariam a dominação cultural, o não reconhecimento ou, finalmente, o desprezo.
Essa distinção entre injustiça cultural e injustiça econômica não deve mascarar o fato de que, na prática, as duas formas estão imbricadas e, em geral, se reforçam dialeticamente. A subordinação econômica impede de fato a participação na produção cultural, cujas normas, por sua vez, são institucionalizadas pelo Estado e pela economia.
A solução contra a injustiça econômica passa por mudanças estruturais: distribuição de renda, reorganização da divisão do trabalho, submissão das decisões de investimentos ao controle democrático, transformação fundamental do funcionamento da economia. Esse conjunto, como um todo ou em partes, depende da "redistribuição". A solução para a injustiça cultural, por sua vez, está em mudanças culturais ou simbólicas: reavaliação de identidades desprezadas, reconhecimento e valorização da diversidade cultural ou, mais globalmente, alteração geral dos modelos sociais de representação, o que modificaria a percepção que cada um tem de si mesmo e do grupo ao qual pertence. Esse conjunto de fatores depende, pois, do "reconhecimento".
Os dois conceitos divergem na concepção de quais são os grupos que vivenciam injustiças. No sistema em que a prioridade é a distribuição, são as classes sociais no sentido amplo, definidas primeiro em termos econômicos, que sofrem injustiças segundo a relação com o mercado ou com os meios de produção. O exemplo clássico, oriundo da teoria marxista, é a classe trabalhadora explorada, mas essa concepção inclui também grupos imigrantes, minorias étnicas etc. No sistema em que o reconhecimento é prioridade, a injustiça não está diretamente ligada às relações de produção, mas a uma falta de consideração. O exemplo mais comum são os grupos étnicos que os modelos culturais dominantes proscrevem como diferentes e de menor valor, assim como os homossexuais, as "raças", as mulheres. As reivindicações ligadas à redistribuição exigem, em geral, a abolição dos dispositivos econômicos que constituem a base da especificidade dos grupos, e como consequência desse processo essas reivindicações tenderiam a promover a indiferenciação entre esses grupos. Ao contrário, as reivindicações ligadas ao reconhecimento, que se apoiam nas diferenças presumidas dos grupos, tendem a promover a diferenciação (quando não o fazem performativamente, antes de afirmar seu valor). Política de reconhecimento e política de redistribuição figuram, portanto, em tensão.
Como, nessas condições, pensar a justiça social? Deve-se priorizar a classe em detrimento do gênero, da sexualidade, da raça e da etnia e rejeitar todas as reivindicações “minoritárias”? Insistir na assimilação de normas majoritárias em nome do universalismo ou do republicanismo? Ou será preciso tentar aliar o que resta de impreterível na visão socialista e o que parece justificado na filosofia “pós-socialista” do multiculturalismo?
Há duas formas de acabar com a injustiça. As soluções corretivas, em primeiro lugar, visam melhorar os resultados da organização social sem modificá-la em suas causas profundas. As soluções transformadoras, por outro lado, se aplicam em profundidade às causas: a oposição se situa, dessa forma, entre sintomas e causas.
No âmbito social, as soluções corretivas, historicamente associadas ao Estado de bem-estar social liberal, são empregadas para atenuar as consequências de uma distribuição injusta, deixando a organização do sistema de produção intacta. Durante os dois últimos séculos, as soluções transformadoras foram associadas ao socialismo: a mudança radical da estrutura econômica que sustenta a injustiça social, ao reorganizar as relações de produção, modifica não somente a repartição do poder de compra, mas também a divisão social do trabalho e das condições de existência.
Um exemplo esclarece essa distinção. Os auxílios atribuídos em função dos recursos dos quais dispõe certo grupo, orientado geralmente ao apoio material aos mais pobres, contribuem para cimentar as diferenciações que levariam ao confronto. Assim, a redistribuição corretiva no âmbito social toma a forma, nos Estados Unidos, de ação afirmativa(em geral traduzida por "discriminação positiva"). Essas medidas buscam garantir a minorias uma parte equitativa dos postos de trabalho e da formação, sem modificar sua natureza ou nome. No âmbito cultural, o reconhecimento corretivo se traduz por uma nacionalização cultural, que se esforça por garantir o respeito a essas minorias valorizando, por exemplo, a "negritude", mas sem alterar o código binário branco-negro que lhe dá sentido. A ação afirmativa pode ser vista, portanto, como uma combinação de política socioeconômica liberal antirracista com política cultural - no caso dos negros - blackpower.
A questão é que essa solução não ataca as estruturas que produzem desigualdades de classe e raciais. As reacomodações superficiais se multiplicam sem limites e contribuem para tornar ainda mais perceptível a diferenciação racial, para dar aos mais desprovidos a imagem de uma classe deficiente e insaciável, que sempre necessita de ajuda e até mesmo da orientação de um grupo privilegiado; muitas vezes, essa interação resulta em tratamento de favor. Assim, uma aproximação que visa reverter as injustiças ligadas à redistribuição pode terminar criando injustiças em termos de reconhecimento.
Combinando sistemas sociais universais e imposição estritamente progressiva, as soluções transformadoras, por outro lado, visam restaurar a todos o acesso ao trabalho, com tendência a dissociar esse elemento da satisfação de necessidades fundamentais. Daí a possibilidade de reduzir a desigualdade social sem criar categorias de pessoas vulneráveis, apresentadas como necessitadas da caridade pública. Tal aproximação, centrada nas injustiças da distribuição, contribui para a solução de certas injustiças de reconhecimento.
Redistribuição corretiva e redistribuição transformadora pressupõem, ambas, uma concepção universalista do reconhecimento, ou seja, a igualdade moral das pessoas. Mas elas repousam em lógicas diferentes no que concerne à diferenciação dos grupos.
As soluções coletivas para a injustiça cultural dependem do chamado multiculturalismo: trata-se de acabar com o desrespeito de identidades coletivas injustamente desvalorizadas, ao mesmo tempo deixando intactos o conteúdo dessas identidades e o sistema de diferenciação identitária sobre o qual repousam. As soluções transformadoras, por outro lado, são habitualmente associadas à desconstrução. Buscam acabar com o desrespeito transformando a estrutura de avaliação cultural subjacente. Ao desestabilizarem as identidades e a diferenciação existentes, essas soluções não se limitam a favorecer o respeito a alguém: mudam as percepções que temos de nós mesmos.
O exemplo das sexualidades desprezadas esclarece essa distinção. As soluções corretivas à homofobia são, em geral, associadas ao movimento gay e buscam revalorizar a identidade homossexual. As soluções transformadoras, ao contrário, se parecem mais com o movimento queer, que busca desconstruir a dicotomia homossexual/heterossexual. O movimento gay considera a homossexualidade uma cultura, dotada de características particulares, um pouco como a etnicidade. Esse "modelo identitário", adotado em diferentes lutas pelo reconhecimento, pretende substituir imagens negativas de si, interiorizadas e impostas pela cultura dominante por uma cultura própria, que, manifestada publicamente, obteria o respeito da sociedade em seu conjunto. Esse modelo traz avanços, mas, ao sobrepor política de reconhecimento e política de identidade, pode engendrar a naturalização da identidade de um grupo e essencializá-la por meio da afirmação da "identidade" e da diferença.
O movimento queer, ao contrário, aborda a homossexualidade como correlato construído e desvalorizado da heterossexualidade: nenhum dos dois termos tem sentido sem o outro. O objetivo não é mais valorizar uma identidade homossexual, mas abolir essa dicotomia. O movimento gay busca valorizar a diferenciação existente entre os grupos sexuais - como as políticas corretivas de redistribuição do Estado de bem-estar social o fazem para as diferenças sociais -; o movimento queer pretende problematizá-la – como o socialismo e a sociedade sem classes.
Ao tratar a falta de reconhecimento como um prejuízo engendrado de forma autônoma por valores ideológicos e culturais, a corrente identitária oculta seu vínculo com a justiça distributiva e o abstrai de sua relação com a estrutura social. Por isso, muitas vezes seus defensores ignoram a injustiça econômica e concentram seus esforços unicamente na transformação da cultura, considerada uma realidade em si. Por exemplo, esse sistema poderia negligenciar os vínculos, institucionalizados nos sistemas de assistência social, entre as normas heterossexuais dominantes e o fato de que certos recursos sejam negados às pessoas homossexuais. Por outro lado, essa corrente pode interpretar a desigualdade econômica como simples expressão de hierarquias culturais: a opressão de classe decorre, nessa lógica, da depreciação da identidade proletária. Como imagem inversa de um marxismo vulgar que outrora deixava a política de reconhecimento de lado para priorizar a política de redistribuição, o culturalismo vulgar supõe que a revalorização de identidades depreciadas atacaria também as origens da desigualdade econômica.
Ao modelo identitário (corretivo) se opõe o chamado modelo estatutário (transformador): a negação do reconhecimento não é mais considerada uma deformação psíquica ou um prejuízo cultural autônomo, e sim uma relação institucionalizada de subordinação social, produzida por instituições sociais. O objeto do reconhecimento não deveria ser a identidade própria de um grupo, mas o estatuto dos membros desse grupo de pertencimento integral ao meio social onde estão inseridos. Essa política propõe desconstruir as duas formas conexas (econômica e cultural) de transformar a sociedade e decifrar quais são os obstáculos à igualdade. Não se trata, portanto, de postular direitos iguais a todos, mas de reivindicar a paridade da participação de todos nas relações sociais, definir o campo da justiça social como, simultaneamente, redistribuição e reconhecimento, classe e estatuto nas relações sociais. Evitar a psicologização e a moralização talvez seja a chave para construir uma estratégia coerente, que contribua para eliminar os conflitos e contradições entre esses dois grandes modelos de luta.
Nancy Fraser é Loeb Professor of Philosophy and Politics, New School for Social Research, bem como Einstein Visiting Fellow, Freie Universität-Berlin, e também ocupa a Cátedra de Justiça Global, Collège d'études mondiales, Paris.
Assinar:
Comentários (Atom)
O guia essencial da Jacobin
A Jacobin tem publicado conteúdo socialista em um ritmo acelerado desde 2010. Aqui está um guia prático de algumas das obras mais importante...

-
Protestos universitários em contexto. Forrest Hylton Sidecar "E dirão que estamos perturbando a paz. Não há paz. O que os incomoda é qu...
-
Hoje, há quarenta e dois anos atrás, as forças da Frente Sandinista de Libertação Nacional capturaram Manágua e acabaram com a ditadura de S...
-
Em uma surpresa impressionante, os trabalhadores de Staten Island Amazon acabaram de ganhar uma eleição sindical. E a nova eleição no armazé...