Salem Nasser
Folha de S.Paulo
Houve quem duvidasse que as revoltas árabes tinham algo a ver com a questão palestina.
Ainda que se queira acreditar que as frustrações ligadas às derrotas militares para Israel e à continuidade da ocupação não participavam da vontade de revolta, hoje aparece claro que as mudanças em curso afetarão inevitavelmente o futuro do que se costuma chamar de conflito árabeisraelense.
No momento em que se chega a um acordo, que inclui o cessar fogo e vai além, anunciando a possibilidade do fim do bloqueio à faixa de Gaza, o Hamas aparece como vitorioso em mais de uma frente.
Por um lado, demonstrou ter avançado no estabelecimento de um equilíbrio de forças mais vantajoso no plano militar e, por extensão, emprestou maior credibilidade à sua tese de que não há alternativa, no confronto com Israel, à resistência armada.
Por outro lado, no plano político, emerge novamente como ator central na representação do povo palestino, em parte às custas da Autoridade Palestina.
Mas o contexto em que se chegou a um acordo revela outro dado novo e anuncia algumas interrogações. O dado novo fundamental é o papel transformado do Egito.
O país, sob a presidência de Mursi, procede a um exercício de equilíbrio entre, de um lado, as demandas da opinião pública egípcia, árabe e muçulmana, bem como as visões históricas da Irmandade Muçulmana e, de outro, as expectativas internacionais e regionais em relação à estabilidade, simbolizadas nos acordos com Israel.
Essa posição, de todo modo, é radicalmente diferente daquela dos tempos do ex ditador Hosni Mubarak.
No entanto, a atitude egípcia, de um certo malabarismo, é parte de um cenário de incertezas. A leitura usual da situação no Oriente Médio pinta oposição entre aliança de partidários da resistência, que inclui Irã e Síria e, ao menos em princípio, ainda hoje, o Hamas, e os países classificados como moderados.
No cenário que se vai desenhando após as revoltas árabes, o Hamas foi atraído para uma maior proximidade, natural, por razões históricas, com o Egito da Irmandade e, por outras razões, com países tais como Qatar e Turquia.
Nos próximos tempos, tanto a chamada moderação quanto a opção pela resistência serão testadas. Veremos se o Egito fará pender a balança para a defesa da questão palestina e para o fortalecimento do Hamas, ou se, ao contrário, este último será atraído para o campo dos que entregaram o destino da Palestina aos EUA e a Israel.
SALEM H. NASSER é coordenador do Centro de Direito Global da Direito GV
22 de novembro de 2012
Enquanto Gaza é atacada novamente, entender o papel da BBC exige mais do que sentimentos
Precisamos entender a BBC como uma propagandista e censora preeminente do Estado por omissão, diz John Pilger.
John Pilger
New Statesman
Em The War Game, notável filme da BBC dirigido por Peter Watkins que previa as consequências de um ataque a Londres com uma bomba nuclear de uma megatonelada, o narrador diz: "Sobre quase todo o assuntos das armas termo-nucleares, agora há praticamente silêncio total na imprensa, nas publicações oficiais e na TV. Pode haver esperança neste silêncio?
A verdade desta declaração equivalia à sua ironia. Em 24 de Novembro de 1965, a BBC proibiu The War Game por ser "demasiado horripilante para um media de difusão ampla". Isto era falso. A razão real foi explicada pelo presidente do Conselho de Governadores da BBC, Lord Normanbrook, numa carta secreta ao secretário do Gabinete, sir Burke Trend.
"[The War Game] não é concebido como propaganda", escreveu ele. "Pretende ser uma declaração puramente factual e é baseado em investigação cuidadosa de material oficial... Mas mostrar o filme na televisão pode ter um efeito significativo sobre atitudes do público em relação à política da dissuasão nuclear". A seguir a um visionamento a que compareceram responsáveis sénior do Whitehall [Parlamento], o filme foi proibido porque contava uma verdade intolerável. Dezasseis anos depois, o então director-geral da BBC, sir Ian Trethowan, renovou a proibição, dizendo que temia o efeito do filme sobre pessoas de "inteligência mental limitada". O brilhante trabalho de Watkins foi finalmente mostrado em 1985 a uma audiência minoritária numa hora tardia da noite. Ele foi apresentado por Ludovic Kennedy, o qual repetiu a mentira oficial.
O que aconteceu a The War Game faz parte das funções da emissora estatal como pedra angular da elite dominante da Grã-Bretanha. Com os seus notáveis valores de produção, muitas vezes bons dramas populares, história natural e cobertura desportiva, a BBC desfruta de audiência vasta e, segundo seus administradores e beneficiários, de "confiança". Esta "confiança" pode bem ser aplicada ao [programa] Springwatch e [aos documentários de] sir David Attenborough, mas não há base demonstrável para ela em grande parte das notícias do chamados assuntos correntes que pretendem dar sentido ao mundo, especialmente quanto às maquinações da potência desenfreada. Há honrosas excepções individuais, mas observe-se como estas são amansadas quanto mais tempo permanecerem na instituição: uma "defenestração", como descreve um jornalista sénior da BBC.
Isto é notavelmente verdadeiro no Médio Oriente, onde o estado israelense obrigou com êxito a BBC a apresentar o roubo da terra palestina e o enjaulamento, tortura e matança do seu povo como uma "conflito" intratável entre iguais. De é no meio do entulho de um ataque israelense, um jornalista da BBC foi em frente e falou da "forte cultura do martírio de Gaza". Tão grande é esta distorção que jovens que assistiram à BBC New disseram a investigadores da Universidade de Glascow que ficaram com a impressão de que os palestinos são os colonizadores ilegais do seu próprio país. A actual "cobertura" da BBC da miséria genocida de Gaza reforça isto.
Os "valores reithianos" [NT] da BBC, de imparcialidade e independência, são quase escrituras na sua mitologia. Logo depois de a empresa ser fundada na década de 1920 por lord John Reith, a Grã-Bretanha foi abalada pela Greve Geral. "Reith emergiu como uma espécie de herói", escreveu o historiador Patrick Renshaw, "que havia actuado responsavelmente e ainda assim preservado a preciosa independência da BBC. Mas embora este misto tenha persistido ele tem pouca base na realidade... o preço daquela independência foi de facto fazer o que o governo queria que fosse feito. [O primeiro-ministro Stanley] Baldwin... viu que se preservassem a independência da BBC seria muito mais fácil para eles abrirem caminho em questões importantes e utilizá-la para emitir propaganda do governo".
Pouco conhecido do público, o facto é que Reith foi o redactor de discursos do primeiro-ministro. Com a ambição de se tornar vice-rei da Índia, ele garantiu que a BBC se tornasse um evangelizador do poder imperial, com a "imparcialidade" devidamente suspensa sempre que o poder estivesse ameaçado. Este "princípio" a BBC tem aplicado à cobertura de toda guerra colonial da era moderna: desde o encobrimento do genocídio na Indonésia até à supressão de filmes que testemunhavam o bombardeamento do Vietname do Norte e ao apoio à invasão ilegal de Blair/Bush do Iraque em 2003 e o eco agora familiar da propaganda israelense sempre que aquele estado fora da lei abuso do seu cativo, a Palestina. Isto atingiu um nadir em 2009 quando, aterrada com a reacção israelense, a BBC recusou-se a emitir um apelo conjunto de instituições de caridade em favor do povo de Gaza, metade do qual são crianças, a maior parte delas desnutrida e traumatizada pelos ataques israelenses. O relator das Nações Unidas, Richard Falk, ligou o bloqueio de Israel a Gaza ao Gueto de Varsóvia sitiado pelos nazis. Mas, para a BBC, Gaza – tal como a frota de ajuda humanitária atacada mortiferamente por comandos israelenses – em grande medida apresenta um problema de relações públicas para Israel e seu patrocinador estado-unidense.
Mark Regev, propagandista chefe de Israel, aparentemente tem um lugar reservado no topo dos boletins de notícias da BBC. Em 2010, quando apontei isto a Fran Unsworth, agora promovida a director do noticiário, ela objectou com veemência à descrição de Regev como um propagandista, acrescentando: "Não é nossa tarefa sair à procura do porta-voz palestino".
Com lógica semelhante, a antecessora de Unsworth, Helen Boaden, descreveu a cobertura da carnificina criminosa no Iraque como baseada no "facto de que Bush tentou exportar democracia e direitos humanos para o Iraque". Para provar a sua tese, Boaden apetrechou-se com seis páginas A4 de mentiras verificáveis de Bush e Tony Blair. Para não ocorrer a nenhuma das duas mulheres que ventriloquismo não é jornalismo.
O que mudou na BBC é a chegada do culto do administrador corporativo. George Entwistle, o recém nomeado director geral que disse nada saber acerca das falsas acusações da Newsnight de abuso infantil contra o aristocrata Tory, está para receber 450 mil libras de dinheiro público por concordar em renunciar antes de ser despedido: o modo corporativo. Isto e o escândalo anterior de Jimmy Savile podia ter sido redigido para o Daily Mail e a imprensa de Murdoch cuja abominação em causa própria por parte da BBC durante muito tempo proporcionou à corporação a sua fachada "de combate" como uma eminente guardiã das "emissões de serviço público". Entender a BBC como uma eminente propagandista do estado e censora por omissão – muito frequentemente afinada com os seus inimigos de direita – está na agenda pública e é onde deve estar.
New Statesman
Em The War Game, notável filme da BBC dirigido por Peter Watkins que previa as consequências de um ataque a Londres com uma bomba nuclear de uma megatonelada, o narrador diz: "Sobre quase todo o assuntos das armas termo-nucleares, agora há praticamente silêncio total na imprensa, nas publicações oficiais e na TV. Pode haver esperança neste silêncio?
A verdade desta declaração equivalia à sua ironia. Em 24 de Novembro de 1965, a BBC proibiu The War Game por ser "demasiado horripilante para um media de difusão ampla". Isto era falso. A razão real foi explicada pelo presidente do Conselho de Governadores da BBC, Lord Normanbrook, numa carta secreta ao secretário do Gabinete, sir Burke Trend.
"[The War Game] não é concebido como propaganda", escreveu ele. "Pretende ser uma declaração puramente factual e é baseado em investigação cuidadosa de material oficial... Mas mostrar o filme na televisão pode ter um efeito significativo sobre atitudes do público em relação à política da dissuasão nuclear". A seguir a um visionamento a que compareceram responsáveis sénior do Whitehall [Parlamento], o filme foi proibido porque contava uma verdade intolerável. Dezasseis anos depois, o então director-geral da BBC, sir Ian Trethowan, renovou a proibição, dizendo que temia o efeito do filme sobre pessoas de "inteligência mental limitada". O brilhante trabalho de Watkins foi finalmente mostrado em 1985 a uma audiência minoritária numa hora tardia da noite. Ele foi apresentado por Ludovic Kennedy, o qual repetiu a mentira oficial.
O que aconteceu a The War Game faz parte das funções da emissora estatal como pedra angular da elite dominante da Grã-Bretanha. Com os seus notáveis valores de produção, muitas vezes bons dramas populares, história natural e cobertura desportiva, a BBC desfruta de audiência vasta e, segundo seus administradores e beneficiários, de "confiança". Esta "confiança" pode bem ser aplicada ao [programa] Springwatch e [aos documentários de] sir David Attenborough, mas não há base demonstrável para ela em grande parte das notícias do chamados assuntos correntes que pretendem dar sentido ao mundo, especialmente quanto às maquinações da potência desenfreada. Há honrosas excepções individuais, mas observe-se como estas são amansadas quanto mais tempo permanecerem na instituição: uma "defenestração", como descreve um jornalista sénior da BBC.
Isto é notavelmente verdadeiro no Médio Oriente, onde o estado israelense obrigou com êxito a BBC a apresentar o roubo da terra palestina e o enjaulamento, tortura e matança do seu povo como uma "conflito" intratável entre iguais. De é no meio do entulho de um ataque israelense, um jornalista da BBC foi em frente e falou da "forte cultura do martírio de Gaza". Tão grande é esta distorção que jovens que assistiram à BBC New disseram a investigadores da Universidade de Glascow que ficaram com a impressão de que os palestinos são os colonizadores ilegais do seu próprio país. A actual "cobertura" da BBC da miséria genocida de Gaza reforça isto.
Os "valores reithianos" [NT] da BBC, de imparcialidade e independência, são quase escrituras na sua mitologia. Logo depois de a empresa ser fundada na década de 1920 por lord John Reith, a Grã-Bretanha foi abalada pela Greve Geral. "Reith emergiu como uma espécie de herói", escreveu o historiador Patrick Renshaw, "que havia actuado responsavelmente e ainda assim preservado a preciosa independência da BBC. Mas embora este misto tenha persistido ele tem pouca base na realidade... o preço daquela independência foi de facto fazer o que o governo queria que fosse feito. [O primeiro-ministro Stanley] Baldwin... viu que se preservassem a independência da BBC seria muito mais fácil para eles abrirem caminho em questões importantes e utilizá-la para emitir propaganda do governo".
Pouco conhecido do público, o facto é que Reith foi o redactor de discursos do primeiro-ministro. Com a ambição de se tornar vice-rei da Índia, ele garantiu que a BBC se tornasse um evangelizador do poder imperial, com a "imparcialidade" devidamente suspensa sempre que o poder estivesse ameaçado. Este "princípio" a BBC tem aplicado à cobertura de toda guerra colonial da era moderna: desde o encobrimento do genocídio na Indonésia até à supressão de filmes que testemunhavam o bombardeamento do Vietname do Norte e ao apoio à invasão ilegal de Blair/Bush do Iraque em 2003 e o eco agora familiar da propaganda israelense sempre que aquele estado fora da lei abuso do seu cativo, a Palestina. Isto atingiu um nadir em 2009 quando, aterrada com a reacção israelense, a BBC recusou-se a emitir um apelo conjunto de instituições de caridade em favor do povo de Gaza, metade do qual são crianças, a maior parte delas desnutrida e traumatizada pelos ataques israelenses. O relator das Nações Unidas, Richard Falk, ligou o bloqueio de Israel a Gaza ao Gueto de Varsóvia sitiado pelos nazis. Mas, para a BBC, Gaza – tal como a frota de ajuda humanitária atacada mortiferamente por comandos israelenses – em grande medida apresenta um problema de relações públicas para Israel e seu patrocinador estado-unidense.
Mark Regev, propagandista chefe de Israel, aparentemente tem um lugar reservado no topo dos boletins de notícias da BBC. Em 2010, quando apontei isto a Fran Unsworth, agora promovida a director do noticiário, ela objectou com veemência à descrição de Regev como um propagandista, acrescentando: "Não é nossa tarefa sair à procura do porta-voz palestino".
Com lógica semelhante, a antecessora de Unsworth, Helen Boaden, descreveu a cobertura da carnificina criminosa no Iraque como baseada no "facto de que Bush tentou exportar democracia e direitos humanos para o Iraque". Para provar a sua tese, Boaden apetrechou-se com seis páginas A4 de mentiras verificáveis de Bush e Tony Blair. Para não ocorrer a nenhuma das duas mulheres que ventriloquismo não é jornalismo.
O que mudou na BBC é a chegada do culto do administrador corporativo. George Entwistle, o recém nomeado director geral que disse nada saber acerca das falsas acusações da Newsnight de abuso infantil contra o aristocrata Tory, está para receber 450 mil libras de dinheiro público por concordar em renunciar antes de ser despedido: o modo corporativo. Isto e o escândalo anterior de Jimmy Savile podia ter sido redigido para o Daily Mail e a imprensa de Murdoch cuja abominação em causa própria por parte da BBC durante muito tempo proporcionou à corporação a sua fachada "de combate" como uma eminente guardiã das "emissões de serviço público". Entender a BBC como uma eminente propagandista do estado e censora por omissão – muito frequentemente afinada com os seus inimigos de direita – está na agenda pública e é onde deve estar.
16 de novembro de 2012
Um pilar construído na areia
O ataque de Israel a Gaza
John J. Mearsheimer
London Review of Books
"Em resposta" a não se sabe o quê, na luta de eterna retaliação entre Israel e os palestinos em Gaza, Israel decidiu escalar, e avançou, na violência, a ponto de assassinar um comandante militar do Hamás, Ahmad Jaabari. O Hamás, o qual, de fato, tem desempenhado papel menor na atual troca de golpes, e até parece interessado em negociar uma trégua de longo prazo, respondeu, como seria de esperar que respondesse, com centenas de foguetes contra Israel, alguns dos quais caíram já próximos de Telavive. Não surpreendentemente, os israelenses ameaçaram com conflito ainda maior, que incluiria possível invasão por terra, em Gaza, para derrubar o Hamás e “eliminar o perigo dos foguetes”.
É possível que a Operação “Pilar de Defesa”, como os israelenses chamaram a atual campanha, converta-se em guerra de larga escala. Mas, mesmo que aconteça, não porá fim aos problemas de Israel em Gaza. Afinal de contas, Israel já fez guerra devastadora contra o Hamás no inverno de 2008-9 – "Operação Chumbo Derretido" - e o Hamás ainda está no poder e ainda dispara foguetes contra Israel.
No verão de 2006, Israel também fez guerra contra o Hezbollah para eliminar o arsenal de mísseis da resistência libanesa e enfraquecer a posição do grupo na política do Líbano. Outro fracasso israelense: o Hezbollah tem, hoje, número várias vezes superior de mísseis em relação aos que tinha em 2006, e é consideravelmente mais influente do que antes, na política do Líbano. O mais provável é que a “Operação Pilar da Defesa” também fracasse.
Israel pode usar de força contra o Hamás, de três modos diferentes:
Primeiro, pode tentar minar a organização, assassinando os líderes, como acaba de fazer, ao matar Jaabari, há dois dias. Mas a decapitação não funciona, porque sobram substitutos para os líderes mortos, e não raras vezes os substitutos são mais competentes e mais perigosos para Israel que os anteriores. Isso, precisamente, Israel já deveria ter aprendido no Líbano, em 1992, quando assassinou o então principal homem do Hezbollah, Abbas Musawi, só para descobrir que o substituto dele, Hassan Nasrallah, era adversário muito mais formidável.
Segundo, os israelenses podem invadir Gaza e tomar a área. Talvez, o exército de Israel possa fazer isso, até sem dificuldade, derrubar o Hamás e, teoricamente, acabar com os foguetes lançados de Gaza. Mas, nesse caso, teriam de ocupar Gaza por longo período, durante anos, porque, se não permanecerem como força ocupante em terra, o Hamás voltará ao poder; e os foguetes recomeçarão e Israel terá sido devolvido ao ponto em que estava antes.
Qualquer tentativa de ocupar Gaza disparará resistência furiosa e sangrenta – o que os israelenses aprenderam no sul do Líbano, entre 1982 e 2000. Depois de 18 anos de ocupação, tiveram de declarar-se derrotados e retirar-se da área ocupada. Por isso, precisamente, o exército de Israel nem tentou invadir ou conquistar o sul do Líbano em 2006, nem Gaza em 2008-9. Nada mudou desde então, que torne a invasão de Gaza alternativa viável, hoje. Ocupar Gaza, além do mais, porá mais 1,5 milhão de palestinos sob o controle formal de Israel, o que, em vez de reduzir, fará crescer muito a chamada “ameaça demográfica”. Ariel Sharon ordenou a retirada de colonos israelenses de Gaza, em 2005, exclusivamente para reduzir o número de palestinos que viviam sob bandeira israelense; voltar para lá hoje será derrota, não vitória, no campo estratégico.
Terceiro, a opção preferencial, o bombardeio aéreo, com artilharia, mísseis, morteiros e foguetes. O problema, nesse caso, é que essa estratégia não funciona exatamente como prega a propaganda. Israel fez exatamente isso contra o Hezbollah em 2006 e contra o Hamás em 2008-9, e o que se vê hoje é que os dois grupos continuam no poder e continuam armados, mais armados hoje do que antes. É absolutamente impossível acreditar que haja analistas de defesa sérios, em Israel, que ainda creiam que mais uma campanha de bombardeio contra Gaza conseguirá derrubar o Hamás ou pôr fim, definitivamente, aos ataques de foguetes.
Assim sendo, o que, afinal, acontece em Gaza?
No plano mais elementar, as ações de Israel em Gaza continuam absolutamente ligadas aos esforços do projeto sionista para criar um “Israel Expandido”, o “Grande Israel”, que se estenderia do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Apesar das infinitas conversas sobre a “Solução de Dois Estados”, os palestinos não terão estado próprio, não fosse por outras razões, sempre seria porque o governo Netanyahu faz oposição obsessiva à ideia. O primeiro-ministro e seus aliados políticos estão profundamente comprometidos com a ideia de converter os “Territórios Ocupados” em parte permanente de Israel. Para que esse projeto “prospere”, os palestinos na Cisjordânia e em Gaza terão de ser forçados a viver em enclaves de miséria, similares aos bantustões que havia na África do Sul governada pelos brancos racistas do apartheid [ou aos guetos da Alemanha nazista]. Os judeus israelenses começam a entender perfeitamente esse processo: pesquisa recente mostrou que 58% deles entendem que Israel já pratica política de apartheid contra os palestinos.
Mas criar um "Grande Israel" gerará problemas ainda maiores. Além de provocar dano gigantesco à imagem e à reputação de Israel em todo o mundo, nem toda a ambição israelense por seu "Grande Israel" quebrará a resistência palestina. Eles continuarão a lutar, então, já não contra apenas a ocupação, mas contra, também, a monstruosidade de viverem sob estado de apartheid. E continuarão a resistir contra todos os esforços de Israel, enquanto não conquistarem o direito à autodeterminação.
O que se vê hoje em Gaza é uma das dimensões da resistência palestina. Outra é o plano de Mahmoud Abbas de requerer, dia 29 de novembro próximo, à Assembleia Geral da ONU, o reconhecimento da Palestina, mesmo que como “Estado não membro”, mas, já, como Estado. Isso, hoje, é o que mais preocupa o governo de Israel, porque é o caminho para que os palestinos possam, a seguir, acusar Israel por crimes de guerra e crimes contra a humanidade ante a Corte Internacional de Justiça.
O beco é absolutamente sem saída, para Israel: o sonho de um "Grande Israel" força Telavive a manter à distância os palestinos.
Os líderes israelenses têm uma estratégia “de pinça” para enfrentar o problema palestino. Num dos braços da “pinça”, dependem dos EUA como cobertura diplomática, sobretudo na ONU. E têm de manter Washington escravizada ao lobby israelense, [2] [continuando a pressionar: $$$] os políticos norte-americanos para que se alinhem a Israel contra os palestinos e nada façam para impedir a colonização dos “Territórios Ocupados”.
O segundo braço da “pinça” é o conceito sionista de Ze’ev Jabotinsky, da “Muralha de Ferro”: essa abordagem, na essência, manda bater nos palestinos até reduzi-los à total submissão. Jabotinsky compreendeu que os palestinos resistiriam aos esforços sionistas para colonizar a terra palestina e subjugar os habitantes. Por isso, disse que os sionistas e, eventualmente, Israel, teriam de castigar os palestinos tão furiosamente, tão loucamente, a ponto de os próprios palestinos reconhecerem que seria inútil continuar a resistir.
Essa é a estratégia que Israel sempre usou, desde a fundação, em 1948. A “Operação Chumbo Derretido”, tanto quanto a “Operação Pilar de Defesa” são manifestações dessa ideologia sionista. Em outras palavras: com o bombardeio contra Gaza, Israel não visa a derrubar o Hamás, nem a pôr fim aos foguetes – esses dois objetivos são absolutamente inalcançáveis. Em vez disso, os atuais ataques contra Gaza são mais um capítulo da sempre mesma velha estratégia sionista para coagir os palestinos a se renderem, a desistir completamente de qualquer aspiração à autodeterminação e a submeterem-se ao jugo israelense, num estado de apartheid.
É bem evidente que Israel continua abraçado à ideologia sionista do “Muro de Ferro”. Vê-se nas declarações dos governantes israelenses, repetidas vezes, desde o fim da “Operação Chumbo Derretido” em janeiro de 2009: sempre dizem que o Exército de Israel voltará a Gaza e, mais uma vez, massacrará palestinos. Os israelenses sabem que os ataques de 2008-9 não enfraqueceram o Hamás. Ao final de cada ataque-massacre, Israel imediatamente começa a planejar o massacre seguinte.
Quanto ao contexto-oportunidade do massacre em curso, é fácil de explicar. Para começar, Obama acaba de ser reeleito, apesar do muito que Netanyahu trabalhou, sem se esconder, para levar Mitt Romney à presidência. O erro de avaliação do primeiro-ministro, muito provavelmente, comprometeu gravemente suas relações pessoais com Obama e pode ter comprometido, também, o “relacionamento especial” entre os EUA e Israel. Nesse quadro, uma guerra em Gaza é excelente vacina, porque Obama, que enfrenta desafios internos gigantescos, econômicos e políticos, que crescerão sobre ele nos próximos meses, absolutamente não tem escolha senão apoiar Israel e culpar os palestinos.
Em Israel, Netanyahu enfrentará eleições em janeiro e, como escreve Mitchell Plitnick [3], “o gambito de Netanyahu, que formou chapa única com o partido fascista ‘Israel Nosso Lar’ [orig. Yisrael Beiteinu], absolutamente não está mostrando, nas pesquisas, os resultados que o primeiro-ministro esperava”. Fazer guerra contra Gaza não apenas permite que Netanyahu se mostre “durão” quando a segurança de Israel é ameaçada, mas, também, pode ter um efeito de congregar os eleitores a seu favor, melhorando suas chances de ser reeleito.
Seja como for, a “Operação Pilar da Defesa” não alcançará o objetivo de fazer os palestinos desistirem da luta por autodeterminação, nem os convencerá a viver ajoelhados sob o tacão dos israelenses. O objetivo de Israel é delirante, inalcançável; os palestinos jamais aceitarão ser confinados em meia dúzia de [restantes] enclaves, em estado de apartheid. O que, desgraçadamente, implica dizer que “Pilar da Defesa” não será a última vez que Israel massacra os habitantes de Gaza.
Mas, no longo prazo, é possível que vejamos o fim das campanhas israelenses de bombardeio e massacre de civis desarmados, porque nada garante que Israel consiga manter-se como "estado de apartheid". Além de ter de enfrentar para sempre a resistência palestina, não há como supor que a opinião pública mundial apoie, nem, sequer, que tolere, um "estado de apartheid".
Em novembro de 2007, Ehud Olmert disse [4], ainda como primeiro-ministro, que “se a Solução dos Dois Estados fracassar”, Israel enfrentará “luta ao estilo da que se viu na África do Sul” e, quando isso acontecer, “será o fim do estado de Israel”.
Diante disso, seria de supor que os líderes israelenses se pusessem imediatamente a trabalhar para que os palestinos tivessem Estado seu e Estado viável. Mas, não! Não se vê nem sinal disso. O que prossegue, sempre, sempre, é a loucura israelense de supor que massacres como a “Operação Pilar da Defesa” conseguirão dobrar os palestinos."
John J. Mearsheimer
London Review of Books
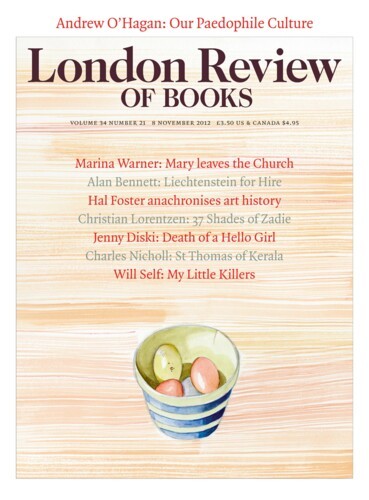 |
| Vol. 34 No. 21 · 8 November 2012 |
"Em resposta" a não se sabe o quê, na luta de eterna retaliação entre Israel e os palestinos em Gaza, Israel decidiu escalar, e avançou, na violência, a ponto de assassinar um comandante militar do Hamás, Ahmad Jaabari. O Hamás, o qual, de fato, tem desempenhado papel menor na atual troca de golpes, e até parece interessado em negociar uma trégua de longo prazo, respondeu, como seria de esperar que respondesse, com centenas de foguetes contra Israel, alguns dos quais caíram já próximos de Telavive. Não surpreendentemente, os israelenses ameaçaram com conflito ainda maior, que incluiria possível invasão por terra, em Gaza, para derrubar o Hamás e “eliminar o perigo dos foguetes”.
É possível que a Operação “Pilar de Defesa”, como os israelenses chamaram a atual campanha, converta-se em guerra de larga escala. Mas, mesmo que aconteça, não porá fim aos problemas de Israel em Gaza. Afinal de contas, Israel já fez guerra devastadora contra o Hamás no inverno de 2008-9 – "Operação Chumbo Derretido" - e o Hamás ainda está no poder e ainda dispara foguetes contra Israel.
No verão de 2006, Israel também fez guerra contra o Hezbollah para eliminar o arsenal de mísseis da resistência libanesa e enfraquecer a posição do grupo na política do Líbano. Outro fracasso israelense: o Hezbollah tem, hoje, número várias vezes superior de mísseis em relação aos que tinha em 2006, e é consideravelmente mais influente do que antes, na política do Líbano. O mais provável é que a “Operação Pilar da Defesa” também fracasse.
Israel pode usar de força contra o Hamás, de três modos diferentes:
Primeiro, pode tentar minar a organização, assassinando os líderes, como acaba de fazer, ao matar Jaabari, há dois dias. Mas a decapitação não funciona, porque sobram substitutos para os líderes mortos, e não raras vezes os substitutos são mais competentes e mais perigosos para Israel que os anteriores. Isso, precisamente, Israel já deveria ter aprendido no Líbano, em 1992, quando assassinou o então principal homem do Hezbollah, Abbas Musawi, só para descobrir que o substituto dele, Hassan Nasrallah, era adversário muito mais formidável.
Segundo, os israelenses podem invadir Gaza e tomar a área. Talvez, o exército de Israel possa fazer isso, até sem dificuldade, derrubar o Hamás e, teoricamente, acabar com os foguetes lançados de Gaza. Mas, nesse caso, teriam de ocupar Gaza por longo período, durante anos, porque, se não permanecerem como força ocupante em terra, o Hamás voltará ao poder; e os foguetes recomeçarão e Israel terá sido devolvido ao ponto em que estava antes.
Qualquer tentativa de ocupar Gaza disparará resistência furiosa e sangrenta – o que os israelenses aprenderam no sul do Líbano, entre 1982 e 2000. Depois de 18 anos de ocupação, tiveram de declarar-se derrotados e retirar-se da área ocupada. Por isso, precisamente, o exército de Israel nem tentou invadir ou conquistar o sul do Líbano em 2006, nem Gaza em 2008-9. Nada mudou desde então, que torne a invasão de Gaza alternativa viável, hoje. Ocupar Gaza, além do mais, porá mais 1,5 milhão de palestinos sob o controle formal de Israel, o que, em vez de reduzir, fará crescer muito a chamada “ameaça demográfica”. Ariel Sharon ordenou a retirada de colonos israelenses de Gaza, em 2005, exclusivamente para reduzir o número de palestinos que viviam sob bandeira israelense; voltar para lá hoje será derrota, não vitória, no campo estratégico.
Terceiro, a opção preferencial, o bombardeio aéreo, com artilharia, mísseis, morteiros e foguetes. O problema, nesse caso, é que essa estratégia não funciona exatamente como prega a propaganda. Israel fez exatamente isso contra o Hezbollah em 2006 e contra o Hamás em 2008-9, e o que se vê hoje é que os dois grupos continuam no poder e continuam armados, mais armados hoje do que antes. É absolutamente impossível acreditar que haja analistas de defesa sérios, em Israel, que ainda creiam que mais uma campanha de bombardeio contra Gaza conseguirá derrubar o Hamás ou pôr fim, definitivamente, aos ataques de foguetes.
Assim sendo, o que, afinal, acontece em Gaza?
No plano mais elementar, as ações de Israel em Gaza continuam absolutamente ligadas aos esforços do projeto sionista para criar um “Israel Expandido”, o “Grande Israel”, que se estenderia do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Apesar das infinitas conversas sobre a “Solução de Dois Estados”, os palestinos não terão estado próprio, não fosse por outras razões, sempre seria porque o governo Netanyahu faz oposição obsessiva à ideia. O primeiro-ministro e seus aliados políticos estão profundamente comprometidos com a ideia de converter os “Territórios Ocupados” em parte permanente de Israel. Para que esse projeto “prospere”, os palestinos na Cisjordânia e em Gaza terão de ser forçados a viver em enclaves de miséria, similares aos bantustões que havia na África do Sul governada pelos brancos racistas do apartheid [ou aos guetos da Alemanha nazista]. Os judeus israelenses começam a entender perfeitamente esse processo: pesquisa recente mostrou que 58% deles entendem que Israel já pratica política de apartheid contra os palestinos.
Mas criar um "Grande Israel" gerará problemas ainda maiores. Além de provocar dano gigantesco à imagem e à reputação de Israel em todo o mundo, nem toda a ambição israelense por seu "Grande Israel" quebrará a resistência palestina. Eles continuarão a lutar, então, já não contra apenas a ocupação, mas contra, também, a monstruosidade de viverem sob estado de apartheid. E continuarão a resistir contra todos os esforços de Israel, enquanto não conquistarem o direito à autodeterminação.
O que se vê hoje em Gaza é uma das dimensões da resistência palestina. Outra é o plano de Mahmoud Abbas de requerer, dia 29 de novembro próximo, à Assembleia Geral da ONU, o reconhecimento da Palestina, mesmo que como “Estado não membro”, mas, já, como Estado. Isso, hoje, é o que mais preocupa o governo de Israel, porque é o caminho para que os palestinos possam, a seguir, acusar Israel por crimes de guerra e crimes contra a humanidade ante a Corte Internacional de Justiça.
O beco é absolutamente sem saída, para Israel: o sonho de um "Grande Israel" força Telavive a manter à distância os palestinos.
Os líderes israelenses têm uma estratégia “de pinça” para enfrentar o problema palestino. Num dos braços da “pinça”, dependem dos EUA como cobertura diplomática, sobretudo na ONU. E têm de manter Washington escravizada ao lobby israelense, [2] [continuando a pressionar: $$$] os políticos norte-americanos para que se alinhem a Israel contra os palestinos e nada façam para impedir a colonização dos “Territórios Ocupados”.
O segundo braço da “pinça” é o conceito sionista de Ze’ev Jabotinsky, da “Muralha de Ferro”: essa abordagem, na essência, manda bater nos palestinos até reduzi-los à total submissão. Jabotinsky compreendeu que os palestinos resistiriam aos esforços sionistas para colonizar a terra palestina e subjugar os habitantes. Por isso, disse que os sionistas e, eventualmente, Israel, teriam de castigar os palestinos tão furiosamente, tão loucamente, a ponto de os próprios palestinos reconhecerem que seria inútil continuar a resistir.
Essa é a estratégia que Israel sempre usou, desde a fundação, em 1948. A “Operação Chumbo Derretido”, tanto quanto a “Operação Pilar de Defesa” são manifestações dessa ideologia sionista. Em outras palavras: com o bombardeio contra Gaza, Israel não visa a derrubar o Hamás, nem a pôr fim aos foguetes – esses dois objetivos são absolutamente inalcançáveis. Em vez disso, os atuais ataques contra Gaza são mais um capítulo da sempre mesma velha estratégia sionista para coagir os palestinos a se renderem, a desistir completamente de qualquer aspiração à autodeterminação e a submeterem-se ao jugo israelense, num estado de apartheid.
É bem evidente que Israel continua abraçado à ideologia sionista do “Muro de Ferro”. Vê-se nas declarações dos governantes israelenses, repetidas vezes, desde o fim da “Operação Chumbo Derretido” em janeiro de 2009: sempre dizem que o Exército de Israel voltará a Gaza e, mais uma vez, massacrará palestinos. Os israelenses sabem que os ataques de 2008-9 não enfraqueceram o Hamás. Ao final de cada ataque-massacre, Israel imediatamente começa a planejar o massacre seguinte.
Quanto ao contexto-oportunidade do massacre em curso, é fácil de explicar. Para começar, Obama acaba de ser reeleito, apesar do muito que Netanyahu trabalhou, sem se esconder, para levar Mitt Romney à presidência. O erro de avaliação do primeiro-ministro, muito provavelmente, comprometeu gravemente suas relações pessoais com Obama e pode ter comprometido, também, o “relacionamento especial” entre os EUA e Israel. Nesse quadro, uma guerra em Gaza é excelente vacina, porque Obama, que enfrenta desafios internos gigantescos, econômicos e políticos, que crescerão sobre ele nos próximos meses, absolutamente não tem escolha senão apoiar Israel e culpar os palestinos.
Em Israel, Netanyahu enfrentará eleições em janeiro e, como escreve Mitchell Plitnick [3], “o gambito de Netanyahu, que formou chapa única com o partido fascista ‘Israel Nosso Lar’ [orig. Yisrael Beiteinu], absolutamente não está mostrando, nas pesquisas, os resultados que o primeiro-ministro esperava”. Fazer guerra contra Gaza não apenas permite que Netanyahu se mostre “durão” quando a segurança de Israel é ameaçada, mas, também, pode ter um efeito de congregar os eleitores a seu favor, melhorando suas chances de ser reeleito.
Seja como for, a “Operação Pilar da Defesa” não alcançará o objetivo de fazer os palestinos desistirem da luta por autodeterminação, nem os convencerá a viver ajoelhados sob o tacão dos israelenses. O objetivo de Israel é delirante, inalcançável; os palestinos jamais aceitarão ser confinados em meia dúzia de [restantes] enclaves, em estado de apartheid. O que, desgraçadamente, implica dizer que “Pilar da Defesa” não será a última vez que Israel massacra os habitantes de Gaza.
Mas, no longo prazo, é possível que vejamos o fim das campanhas israelenses de bombardeio e massacre de civis desarmados, porque nada garante que Israel consiga manter-se como "estado de apartheid". Além de ter de enfrentar para sempre a resistência palestina, não há como supor que a opinião pública mundial apoie, nem, sequer, que tolere, um "estado de apartheid".
Em novembro de 2007, Ehud Olmert disse [4], ainda como primeiro-ministro, que “se a Solução dos Dois Estados fracassar”, Israel enfrentará “luta ao estilo da que se viu na África do Sul” e, quando isso acontecer, “será o fim do estado de Israel”.
Diante disso, seria de supor que os líderes israelenses se pusessem imediatamente a trabalhar para que os palestinos tivessem Estado seu e Estado viável. Mas, não! Não se vê nem sinal disso. O que prossegue, sempre, sempre, é a loucura israelense de supor que massacres como a “Operação Pilar da Defesa” conseguirão dobrar os palestinos."
Assinar:
Comentários (Atom)
O guia essencial da Jacobin
A Jacobin tem publicado conteúdo socialista em um ritmo acelerado desde 2010. Aqui está um guia prático de algumas das obras mais importante...

-
Escalada na RDC. Christoph N. Vogel Sidecar Enquanto o mundo está preocupado com Gaza e a Ucrânia, as guerras no leste da RDC estão entrando...
-
Como o jornalista Dom Phillips passou a perceber, o desmatamento da Amazônia era obra de uma rede interligada e estupendamente lucrativa de ...
-
Sobre Mary Gaitskill. Caitlin Doherty Sidecar No conto "Orquídea", de Mary Gaitskill, publicado em 1997, dois personagens próximos...


