Wolfgang Streeck
Tradução / O colapso do sistema financeiro norte-americano que ocorreu em 2008 converteu-se em uma crise econômica e política de dimensões globais.[1] Como esse evento mundialmente impactante pode ser conceitualizado? As teorias econômicas predominantes tendem a conceber a sociedade como uma entidade regida por uma tendência geral ao equilíbrio, em que as crises e a mudança não passam de desvios temporários do estado estável de um sistema normalmente bem integrado. Um sociólogo, no entanto, não é obrigado a compartilhar dessa visão. Em vez de interpretar nossa atual atribulação como um distúrbio isolado em uma condição essencialmente estável, vou considerar a "Grande Recessão"[2] e o (quase) colapso subsequente das finanças públicas como a manifestação de uma tensão elementar subjacente à configuração político-econômica das sociedades capitalistas avançadas - uma tensão que faz do desequilíbrio e da instabilidade regra, e não exceção, e que encontrou expressão numa sucessão histórica de distúrbios no interior da ordem socioeconômica. Mais especificamente, vou argumentar que a crise atual só pode ser plenamente compreendida à luz das transformações contínuas e inerentemente conflituosas da formação social que chamamos de "capitalismo democrático".
O capitalismo democrático só se estabeleceu completamente após a Segunda Guerra Mundial e à época apenas nas porções "ocidentais" do mundo, na América do Norte e na Europa Ocidental. Ali funcionou muito bem durante as duas décadas seguintes - tão bem, de fato, que esse período de crescimento econômico ininterrupto ainda domina nossas ideias e expectativas sobre o que o capitalismo moderno é ou poderia e deveria ser. Isso a despeito de, haja vista a turbulência que se seguiu, o quarto de século imediatamente posterior à guerra dever ser reconhecido como verdadeiramente excepcional. Na verdade, creio que não os trente glorieuses mas as várias crises que se seguiram representam a condição normal do capitalismo democrático - uma condição pautada por um conflito endêmico entre mercados capitalistas e políticas democráticas, que recrudesceu com o término do alto crescimento econômico dos anos 1970. Abaixo discutirei a natureza desse conflito, e em seguida abordarei a sucessão de transtornos político-econômicos que ele gerou, ambos os quais precederam e moldaram a atual crise global.
Mercados versus eleitores?
Suspeitas de que capitalismo e democracia possam não se combinar facilmente estão longe de ser novidade. Já no século XIX e em boa parte do século XX, a burguesia e a direita política manifestavam temores de que a "regra da maioria", implicando, inevitavelmente, o predomínio dos pobres sobre os ricos, acabaria por extinguir a propriedade privada e os mercados livres. A classe trabalhadora ascendente e a esquerda política, por sua vez, advertiam que os capitalistas poderiam se aliar às forças reacionárias para abolir a democracia com o intuito de se protegerem de ser governados por uma maioria permanente empenhada na redistribuição econômica e social. Não quero discutir os méritos relativos das duas posições, muito embora a história sugira que, ao menos no mundo industrializado, a esquerda tinha mais razão para temer que a direita sacrificasse a democracia, a fim de salvar o capitalismo, do que tinha a direita para temer que a esquerda abolisse o capitalismo em favor da democracia. Seja como for, nos anos pós-Segunda Guerra havia um pressuposto amplamente compartilhado de que, para que fosse compatível com a democracia, o capitalismo teria de ser submetido a um controle político amplo (compreendendo, por exemplo, a nacionalização de empresas e setores essenciais ou um modelo de "cogestão" que incluísse os trabalhadores, como na Alemanha), a fim de que a própria democracia fosse protegida de restrições impostas pelo livre mercado. Enquanto Keynes, assim como Kalecki e Polanyi até certo ponto, estavam em voga, Hayek parecia condenado a um exílio temporário.
Desde então, no entanto, a teoria econômica predominante ficou obcecada pela "irresponsabilidade" de políticos oportunistas que satisfazem um eleitorado pouco versado em economia, interferindo em mercados naturalmente eficientes em busca de metas - como pleno emprego e justiça social - que mercados genuinamente livres proporcionariam a longo prazo de qualquer jeito, mas que deixam de proporcionar quando distorcidos pela política. Segundo teorias tradicionais da "escolha pública", as crises econômicas basicamente se originam de intervenções políticas que distorcem os mercados visando metas sociais[3]. Nessa visão, as intervenções adequadas são aquelas que deixam os mercados livres de interferência política; as incorretas, que distorcem os mercados, derivam de um excesso de democracia - mais precisamente, da transposição, levada a cabo por políticos irresponsáveis, da democracia para a economia, onde ela não deveria se meter. Hoje, poucos iriam tão longe quanto Hayek, que nos últimos anos de vida advogou a abolição da democracia tal como a conhecemos em defesa da liberação econômica e da liberdade civil. Não obstante, o cantus firmus da atual teoria econômica neoinstitucionalista é profundamente hayekiano. Para funcionar de maneira adequada, o capitalismo requer políticas econômicas pautadas por normas, proteção de mercados, direitos de propriedade constitucionalmente resguardados de interferência política discricionária; autoridades regulatórias independentes; bancos centrais vigorosamente protegidos de pressões eleitorais; e instituições internacionais - como a Comissão Europeia ou o Tribunal de Justiça europeu - que não tenham de se preocupar com reeleição popular. Contudo, essas teorias evitam propositadamente a questão crucial de como chegar a isso, talvez porque seus defensores não tenham respostas, ou ao menos nenhuma que possa ser dada publicamente.
Há vários modos de conceitualizar as causas subjacentes ao atrito entre capitalismo e democracia. Para os presentes fins, vou caracterizar o capitalismo democrático como uma economia pautada por dois princípios ou regimes conflitantes de alocação de recursos: o primeiro opera de acordo com a produtividade marginal, ou com aquilo que é exposto como uma vantagem por um "livre jogo das forças de mercado", e o outro se baseia em necessidades ou direitos sociais, tal como estabelecidos por escolhas coletivas em contextos democráticos. Sob o capitalismo democrático, os governos são teoricamente instados a cumprir ambos os princípios simultaneamente, ainda que eles quase nunca se alinhem de forma substantiva. Na prática, podem negligenciar um princípio em favor do outro por algum tempo, até serem penalizados pelas consequências: governos que deixem de atender demandas democráticas por proteção e redistribuição se arriscam a perder o apoio da maioria, enquanto aqueles que desconsideram as demandas por compensação dos detentores dos recursos produtivos - com relação à produtividade marginal - provocam disfunções econômicas que se tornam cada vez mais insustentáveis, solapando também seu apoio político.
Na utopia liberal da teoria econômica convencional, a tensão entre esses dois princípios de alocação do capitalismo democrático é superada pela conversão da teoria no que Marx teria chamado de "força material". Segundo essa visão, a economia como "conhecimento científico" ensina aos cidadãos e aos políticos que a verdadeira justiça é a justiça do mercado, pela qual todos são recompensados de acordo com sua contribuição, em vez de terem suas necessidades transformadas em direitos. Na medida em que a teoria econômica viesse a ser aceita como teoria social, "viraria realidade" no sentido de ser performativa - revelando assim seu caráter essencialmente retórico como um instrumento de construção social por persuasão. No mundo real, porém, não é tão fácil dissuadir as pessoas de suas crenças "irracionais" em direitos sociais e políticos, em contraposição à lei do mercado e ao direito de propriedade. Até o momento, as noções de justiça social alheias à lógica do mercado têm resistido às tentativas de racionalização econômica, por mais impositivas que elas tenham se tornado na idade de chumbo da expansão do neoliberalismo. As pessoas se recusaram obstinadamente a abrir mão da ideia de uma economia moral, sob a qual possuem direitos que têm precedência sobre as repercussões das transações de mercado[4]. De fato, sempre que podem - como recorrentemente podem em democracias efetivas -, tendem de uma maneira ou de outra a insistir na primazia do social sobre o econômico, na proteção de compromissos e obrigações sociais contra as pressões do mercado por "flexibilidade", na expectativa de que a sociedade satisfaça as aspirações humanas a uma vida fora da ditadura dos "sinais" instáveis dos mercados. Provavelmente, é esse o fenômeno que Polanyi descreveu em A grande transformação como um "contramovimento" em reação à transformação do trabalho em mercadoria.
Segundo a teoria econômica predominante, desarranjos como inflação, déficits públicos e dívida privada ou pública excessiva resultam de um conhecimento insuficiente das leis que regem a economia, essa máquina de geração de riqueza, ou da desconsideração dessas leis na busca egoísta de poder político. Já as teorias de economia política - na medida em que levam a política a sério e não são apenas teorias funcionalistas da eficiência - veem na alocação de mercado apenas um tipo de regime político-econômico entre outros, regido pelos interesses dos detentores dos recursos produtivos escassos e portanto em posição de vantagem no mercado. A alocação política, por sua vez, é preferida por aqueles que têm pouco peso econômico mas têm poder político potencialmente amplo. Dessa perspectiva, a teoria econômica convencional é basicamente a exaltação teórica de uma ordem social político-econômica a serviço daqueles bem-dotados de poder de mercado, visto que equipara os interesses deles com o interesse geral. Ela apresenta as demandas distributivas dos detentores de capital produtivo como imperativos técnicos da boa, no sentido de cientificamente fundamentada, gestão econômica. Para a economia política, a explicação convencional para as disfunções econômicas, segundo a qual elas resultariam de uma clivagem entre princípios tradicionalistas da economia moral e princípios moderno- -racionais, é uma deturpação enviesada, que oculta o fato de que a economia "econômica" também é uma economia moral - mas a economia moral daqueles que ocupam posições privilegiadas no mercado.
Na linguagem da teoria econômica convencional, as crises se afiguram como punição para governos que deixam de respeitar as leis naturais da economia que são as suas autênticas governantes. Em contraposição, uma teoria de economia política digna desse nome concebe as crises como manifestações das "reações kaleckianas" dos detentores de recursos produtivos a políticas democráticas que penetram em seu domínio exclusivo, e que os impedem de explorar ao máximo seu poder de mercado, subvertendo suas expectativas de serem justamente recompensados por suas operações de risco ousadas.[5] A teoria econômica convencional aborda a estrutura social e a distribuição dos interesses e poderes nela operantes como coisas exógenas, considerando-as constantes e com isso tornando ambas invisíveis e, para os fins da "ciência" econômica, naturalmente dadas. A única política que uma teoria dessas consegue conceber envolve tentativas oportunistas, ou na melhor das hipóteses incompetentes, de transgredir as leis econômicas. Toda política econômica boa é por definição apolítica. O problema é que essa visão não é compartilhada por aqueles que consideram a política um recurso imprescindível contra os mercados, cuja operação à rédea solta interfere no que julgam ser a ordem correta das coisas. A menos que eles sejam de alguma forma persuadidos a adotar a doutrina econômica neoclássica como um modelo inequívoco daquilo que a vida social é e deve ser, suas demandas políticas, tais como democraticamente expressas, vão divergir das prescrições da teoria econômica convencional. A questão é que, enquanto uma economia, desde que suficientemente abstraída de forma conceitual, pode ser modelada como tendendo ao equilíbrio, uma economia política não pode, a menos que seja desprovida de democracia e dirigida por uma ditadura platônica de reis-economistas. A política capitalista, como veremos, tem feito o possível para nos conduzir do deserto do oportunismo democrático corrupto para a terra prometida dos mercados autorregulamentados. Até agora, porém, a resistência democrática persiste, e com ela os deslocamentos em nossas economias de mercado, às quais ela continuamente dá ensejo.
Arranjos do pós-guerra
O capitalismo democrático do pós-guerra sofreu sua primeira crise no decênio subsequente ao final dos anos 1960, quando a inflação começou a crescer rapidamente por todo o mundo ocidental,e o declínio do crescimento econômico passou a inviabilizar a fórmula da paz político-econômica entre capital e trabalho que findara os conflitos domésticos após as devastações da Segunda Guerra Mundial. Essa fórmula implicava essencialmente a aceitação dos mercados capitalistas e os direitos de propriedade pela classe trabalhadora organizada em troca de democracia política, o que lhes possibilitava contar com seguridade social e com a melhoria constante de seu padrão de vida. O período ininterrupto de mais de dois decênios de crescimento resultou em percepções populares, profundamente enraizadas, do contínuo progresso econômico como um direito de cidadania democrática - percepções que se converteram em expectativas políticas que os governos se sentiram coagidos a cumprir com a desaceleração do crescimento, mas cada vez menos capazes de cumpri-lo.
A estrutura do arranjo entre trabalho e capital no pós-guerra era fundamentalmente a mesma nos países - sob outros aspectos bem diferentes - em que o capitalismo democrático fora instituído. Compreendia um Estado de bem-estar em expansão, o direito dos trabalhadores à livre negociação coletiva e a garantia política do pleno emprego, subscrita por governos que faziam amplo uso do instrumental econômico keynesiano. Quando o crescimento começou a ratear no final dos anos 1960, porém, ficou difícil manter essa combinação. Enquanto a livre negociação coletiva possibilitava aos trabalhadores, por meio de seus sindicatos, agir de acordo com expectativas, já firmemente arraigadas, de aumentos salariais anuais em caráter regular, o compromisso dos governos com o pleno emprego, bem como com a expansão do Estado de bem-estar, protegia os sindicatos de potenciais perdas de postos de trabalho causadas por acordos salariais que excediam o crescimento da produtividade. Desse modo, a política governamental alavancava o poder de barganha dos sindicatos para além do nível que um livre mercado de trabalho poderia sustentar. No final dos anos 1960 isso se traduziu em uma onda mundial de militância trabalhista, impulsionada por um vigoroso senso de direito político a um padrão de vida ascendente e livre do medo do desemprego.
Nos anos subsequentes, governos de toda parte do mundo ocidental enfrentaram a questão de como fazer com que os sindicatos moderassem as reivindicações salariais para as suas categorias sem ter de retirar a promessa keynesiana de pleno emprego. Nos países em que a estrutura institucional do sistema de negociação coletiva não conduzia aos "pactos sociais" tripartites, a maioria dos governos permaneceu convencida ao longo de toda a década de 1970 de que permitir o aumento do desemprego a fim de conter aumentos salariais reais colocava em risco sua sobrevivência, senão para a estabilidade da própria democracia capitalista. Sua única saída foi uma política monetária acomodatícia que, conquanto permitisse que a livre negociação coletiva e o pleno emprego continuassem a coexistir, fazia-o à custa de elevar a taxa de inflação num ritmo que se acelerou ao longo do tempo.
A princípio, a inflação não era um grande problema para trabalhadores representados por sindicatos fortes e com poder político suficiente para obter indexação salarial de facto. A inflação atinge primordialmente credores e detentores de ativos financeiros, segmentos que em geral não incluem trabalhadores, ou ao menos não incluíam nos anos 1960 e 1970. É por isso que a inflação pode ser descrita como um reflexo monetário do conflito distributivo entre uma classe trabalhadora que demanda garantia de emprego, bem como uma maior participação na renda nacional, e uma classe capitalista que busca maximizar o retorno sobre o seu capital. Uma vez que os dois lados agem de acordo com ideias mutuamente incompatíveis sobre o que lhes é de direito, um deles enfatizando os usufrutos da cidadania e o outro os do poder de posse e mercado, a inflação também pode ser considerada uma expressão de anomia numa sociedade que, por razões estruturais, não consegue chegar a um critério comum de justiça social. Foi nesse sentido que o sociólogo britânico John Goldthorpe sugeriu, no final dos anos 1970, que a inflação alta era inerradicável numa economia de mercado capitalista democrática que permitia que trabalhadores e cidadãos corrigissem efeitos negativos dos mercados mediante ação política coletiva[6].
Para governos que precisam enfrentar as demandas conflitantes dos trabalhadores e do capital num mundo de taxas de crescimento em queda, uma política monetária acomodatícia era um método substituto conveniente para evitar um conflito social de soma zero. Nos anos iniciais do pós-guerra, o crescimento econômico municiara governos em luta contra concepções de justiça econômica incompatíveis com bens e serviços adicionais por meio dos quais podiam neutralizar antagonismos de classe. Agora os governos tinham de se virar com dinheiro adicional, ainda não chancelado pela economia real, como um meio de antecipar recursos futuros por meio do consumo e da distribuição no presente. Essa maneira de pacificar conflitos, apesar de eficaz a princípio, não poderia persistir indefinidamente. Como Hayek nunca cansava de assinalar, inflação acelerada fatalmente ocasiona distorções econômicas por fim incontroláveis nos preços relativos, na relação entre rendas variáveis e fixas e naquilo que os economistas chamam de "incentivos econômicos". Ao provocar reações kaleckianas de detentores de capitais cada vez mais desconfiados, a inflação acaba por gerar desemprego, penalizando os mesmos trabalhadores cujos interesses ela pode inicialmente ter favorecido. A essa altura, no mais tardar, os governos sob o capitalismo democrático estarão sofrendo pressões para abandonar os arranjos salariais redistributivo- -acomodatícios e restituir a disciplina monetária.
Inflação baixa, desemprego em alta
A inflação foi controlada após 1979 (Gráfico 1), quando Paul Volcker, recém-nomeado presidente do Fed pelo presidente Jimmy Carter, elevou as taxas de juros a patamares sem precedentes, fazendo com que o desemprego saltasse para níveis não vistos desde a Grande Depressão. O "putsch" de Volcker foi chancelado em 1984 com a reeleição de Ronald Reagan (que de início, diz-se, teria ficado receoso dos efeitos políticos das diretrizes desinflacionárias agressivas de Volcker). Margareth Thatcher, que havia seguido a esteira dos Estados Unidos, ganhou um segundo mandato em 1983, também a despeito do desemprego elevado e da rápida desindustrialização causados, entre outras coisas, por uma política monetária restritiva. Tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, a desinflação foi acompanhada de ataques abertos aos sindicatos por parte dos governos e dos empregadores, cujos casos emblemáticos foram o triunfo de Reagan sobre a Organização Sindical dos Controladores de Tráfego Aéreo e o de Thatcher sobre o Sindicato Nacional dos Mineiros. Nos anos seguintes, as taxas de inflação permaneceram continuamente baixas em todo o mundo capitalista, ao passo que o desemprego aumentou mais ou menos regularmente (Gráfico 2). Paralelamente, a sindicalização declinou em quase todos os lugares, e as greves se tornaram tão esporádicas que alguns países deixaram de manter estatísticas sobre elas (Gráfico 3).
A era neoliberal teve início com o abandono, pelos governos anglo- -americanos, das lições do capitalismo democrático do pós-guerra, que sustentavam que o desemprego solaparia o apoio político não só ao governo da vez, mas também ao próprio capitalismo democrático. Os experimentos conduzidos por Reagan e Thatcher com seus eleitorados foram observados com grande atenção por formuladores de políticas do mundo inteiro. Entretanto, aqueles que esperavam que o fim da inflação traria o fim do desarranjo econômico logo se decepcionaram. À medida que a inflação recuou, a dívida pública começou a aumentar, e não de forma totalmente inesperada[7]. A dívida pública crescente dos anos 1980 tinha diversas causas. A estagnação do crescimento indispusera os contribuintes mais do que nunca à tributação, e com o fim da inflação também acabaram os aumentos tributários automáticos por meio do "bracket creep". O mesmo se aplicava à contínua desvalorização da dívida pública em razão do enfraquecimento das moedas correntes, um processo que a princípio complementava o crescimento econômico e que passou a substituí-lo cada vez mais, reduzindo a dívida acumulada de um país em relação à sua receita nominal. No lado da despesa, o crescente desemprego, causado pela estabilização monetária, requeria gastos crescentes em assistência social. Ademais, os vários direitos sociais criados nos anos 1970 em troca de moderação dos sindicatos nas negociações salariais - por assim dizer, salários adiados da era neocorporativista - começaram a ser cobrados, onerando cada vez mais as finanças públicas.
Com a inflação não mais disponível como recurso para estreitar a lacuna entre as demandas dos cidadãos e as dos "mercados", o ônus de assegurar a paz social recaiu sobre o Estado. Por algum tempo, a dívida pública se mostrou um equivalente funcional conveniente da inflação: assim como a inflação, a dívida pública tornava possível introduzir recursos ainda não gerados de fato nos conflitos distributivos em curso, propiciando aos governos explorar recursos futuros em acréscimo àqueles já disponíveis. Uma vez que o embate entre a distribuição via mercado e a distribuição social passou do mercado de trabalho para a arena política, a pressão eleitoral substituiu as reivindicações sindicais. Em vez de inflacionar a moeda corrente, os governos começaram a tomar empréstimos em proporções crescentes para atender demandas de benefícios e serviços como um direito dos cidadãos, assim como exigências concorrentes de que a renda refletisse o juízo do mercado e desse modo contribuísse para maximizar o uso lucrativo dos recursos produtivos. A inflação baixa - assim como as taxas de juros baixas que se seguiram à contenção da inflação - favorecia isso, já que assegurava aos credores que os títulos públicos iriam manter seu valor no longo prazo.
Tal como a inflação, porém, o acúmulo da dívida pública não pode perdurar para sempre. Os economistas advertiram há muito tempo que o déficit público tem um efeito de "esvaziamento" [crowding out] sobre o investimento privado, ocasionando taxas de juros altas e crescimento baixo, mas jamais foram capazes de identificar o limiar crítico. Na prática, mostrou-se possível, ao menos por algum tempo, manter as taxas de juros baixas pela desregulamentação dos mercados financeiros e simultaneamente conter a inflação por meio de práticas reiteradas de desmantelamento das ações sindicais[8]. Contudo, os Estados Unidos em particular, com sua taxa de poupança nacional excepcionalmente baixa, logo iriam vender seus títulos públicos não só para os cidadãos, mas também para investidores estrangeiros, incluindo fundos soberanos de variados tipos[9]. Além disso, à medida que aumentavam os ônus da dívida era preciso destinar uma proporção crescente dos gastos públicos ao serviço da dívida, mesmo que as taxas de juros permanecessem baixas. Acima de tudo, chegar-se-ia a um ponto - ainda que imprevisível - em que credores estrangeiros e nacionais começariam a se preocupar em reaver seu dinheiro. No mais tardar, então, as pressões dos "mercados financeiros" pela consolidação dos orçamentos públicos e pelo retorno à disciplina fiscal se fariam sentir.
Desregulamentação e dívida privada
A eleição presidencial americana de 1992 foi dominada pela questão dos dois déficits: o do governo federal e o do país como um todo, no comércio exterior. A vitória de Bill Clinton, cuja campanha se voltara sobretudo para o "duplo déficit", suscitou tentativas de consolidação fiscal em todo o mundo, promovidas de maneira agressiva, sob a liderança dos Estados Unidos, por organizações internacionais como a OCDE e o FMI. De início, a administração Clinton parece ter planejado acabar com o déficit público mediante um crescimento econômico acelerado impulsionado por reformas sociais, tais como o aumento do investimento público em educação[10]. Uma vez que os democratas perderam a maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato de 1994, porém, Clinton se voltou para uma política de austeridade, envolvendo cortes profundos nos gastos públicos e mudanças nas políticas sociais que, nas palavras do presidente, poriam fim ao "Estado de bem-estar tal como o conhecemos". De 1998 a 2000, pela primeira vez em décadas, o governo federal americano estava administrando um superávit orçamentário.
Isso não é o mesmo que dizer, no entanto, que a administração Clinton tivesse encontrado um meio de pacificar uma economia capitalista democrática sem recorrer a recursos econômicos adicionais ainda não disponíveis. A estratégia de Clinton de gestão do conflito social se valeu intensamente do aprofundamento da desregulamentação do setor financeiro, que havia se iniciado sob Reagan[11]. A crescente desigualdade de renda, causada pela contínua dessindicalização e pelos cortes severos nos gastos sociais, bem como a redução da demanda agregada, causada pela consolidação fiscal, foram contrabalançadas pela criação de oportunidades sem precedentes para que cidadãos e pessoas jurídicas se endividassem. A feliz expressão "keynesianismo privado" foi cunhada para designar aquilo que era, em essência, a substituição da dívida pública pela dívida privada[12]. Em vez de o governo tomar dinheiro emprestado para financiar o acesso igualitário a habitação decente ou para a formação de mão de obra qualificada para o mercado, passou a permitir - às vezes forçá-los a tanto - que cidadãos individuais, sob um sistema de endividamento extremamente generoso, tomassem empréstimos por sua própria conta e risco para pagar seus estudos ou seu acesso a um bairro menos carente.
A política de Clinton de consolidação fiscal e revitalização econômica por meio da desregulamentação financeira teve muitos beneficiários. Os ricos foram poupados de aumentos de impostos, e aqueles espertos o bastante para dirigir seus interesses para o setor financeiro acumularam lucros descomunais nos cada vez mais complexos "serviços financeiros" que passaram a ser autorizados a comercializar de maneira quase irrestrita. Mas os pobres também prosperaram, ao menos alguns deles e por algum tempo. As hipotecas de alto risco [subprime mortgages] se tornaram um substituto - ainda que ilusório no final das contas - para as políticas sociais, que foram sucateadas, bem como para os aumentos salariais, que se tornaram indisponíveis nos segmentos inferiores de um mercado de trabalho "flexibilizado". Para os afro-americanos em particular, a casa própria era não só a realização do "sonho americano" como também um substituto fundamental para as aposentadorias, que muitos eram incapazes de obter no mercado de trabalho e a qual não tinham nenhum motivo para esperar de um governo comprometido com a austeridade permanente.
Durante algum tempo, a posse de um imóvel ofereceu à classe média e até a uma parcela dos pobres uma oportunidade atraente para participar da febre especulativa que nos anos 1990 e no início dos anos 2000 estava tornando os ricos bem mais ricos - por mais traiçoeira que essa oportunidade viesse a se revelar depois. Com a disparada dos preços dos imóveis causada pela demanda crescente de pessoas que em circunstâncias normais jamais teriam condições de comprar uma casa, a utilização de parte ou da totalidade do valor líquido de um imóvel para financiar os custos da escolarização da geração seguinte (que se elevavam com rapidez), ou simplesmente para consumo pessoal (a fim de compensar estagnação ou queda salarial), tornou-se uma prática comum. Tampouco era incomum que os proprietários de imóveis usassem seu novo crédito para comprar uma segunda ou terceira residência, na esperança de lucrar com o aumento ilimitado improvável do valor dos bens imobiliários. À diferença da era da dívida pública, quando se obtinham recursos futuros para uso no presente mediante empréstimos governamentais, esses recursos passaram a ser postos à disposição pela venda, em mercados financeiros liberalizados, de obrigações a pagar que representavam uma parcela significativa dos ganhos futuros dos indivíduos, municiando-os, em troca, do poder instantâneo de comprar o que bem entendessem.
Assim, a liberalização financeira compensou uma era de consolidação fiscal e austeridade pública. O endividamento individual substituiu a dívida pública, e a demanda individual, construída sob altas taxas por um crescente setor caça-níqueis, ocupou o lugar da demanda pública gerida pelo Estado pela sustentação do emprego e dos lucros na construção civil e em outros setores (Gráfico 4). Essas dinâmicas se intensificaram depois de 2001, quando o Fed passou a adotar taxas de juros bastante baixas para evitar uma recessão econômica e o consequente aumento do desemprego. Além de lucros sem precedentes no setor financeiro, o keynesianismo privado sustentou uma economia afluente que se tornou alvo da inveja dos movimentos trabalhistas europeus. De fato, a política de Alan Greenspan de crédito abundante respaldando o crescente endividamento da sociedade americana foi considerada um modelo por líderes sindicais europeus, que notaram com grande entusiasmo que o Fed, diversamente do Banco Central Europeu, era obrigado por lei a promover não só estabilidade monetária como também níveis de emprego elevados. Tudo isso, é claro, terminou em 2008, quando a pirâmide creditícia internacional na qual se apoiara a prosperidade do final dos anos 1990 e do início dos anos 2000 subitamente veio abaixo.
Endividamento soberano
Com a derrocada do keynesianismo privado em 2008, a crise do capitalismo democrático do pós-guerra entrou em sua quarta e mais recente etapa, após as sucessivas eras de inflação, de déficits públicos e de endividamento privado (Gráfico 5)[13]. Com o sistema financeiro global prestes a se desintegrar, os Estados-nação buscaram restituir a confiança econômica socializando os créditos podres emitidos como forma de compensar a consolidação fiscal. Somada à expansão fiscal necessária para evitar um colapso da "economia real", a medida resultou em um novo aumento dramático dos déficits públicos e da dívida pública - um desdobramento, cabe notar, que não se deveu de modo algum a gastos extras inconsequentes por parte de políticos oportunistas ou de órgãos públicos desavisados, como insinuado pelas teorias da "escolha pública" e pela vasta literatura de economia institucional produzida nos anos 1990 sob os auspícios, entre outros, do Banco Mundial e do FMI[14].
O salto quântico da dívida pública após 2008, que desfez por completo toda consolidação fiscal porventura alcançada na década anterior, refletiu o fato de que nenhum Estado democrático se atreveu a impor a sua sociedade outra crise econômica da magnitude da Grande Depressão dos anos 1930, como punição para os excessos de um setor financeiro desregulamentado. Mais uma vez, o poder político foi chamado a colocar à disposição recursos futuros a fim de assegurar a paz social do presente, e os Estados, mais ou menos voluntariamente, assumiram a responsabilidade por uma significativa parcela da nova dívida originalmente gerada no setor privado, de modo a tranquilizar os credores privados. Mas se isso efetivamente respaldou as fábricas de dinheiro da indústria financeira, restabelecendo com rapidez seus extraordinários lucros, salários e bonificações, não logrou evitar a desconfiança crescente de parte dos mesmos "mercados financeiros" de que os próprios governos nacionais, no processo de resgatá-los, poderiam ter se expandido além da conta. Mesmo com a crise econômica global longe de seu fim, os credores começaram a exigir ruidosamente um retorno ao equilíbrio monetário por meio de medidas de austeridade fiscal, buscando assegurar-se de que seus investimentos na dívida pública, enormemente ampliados, não seriam perdidos.
Nos três anos após 2008, o conflito distributivo sob o capitalismo democrático se converteu em um cabo de guerra intrincado entre investidores financeiros globais e Estados-nação soberanos. Se no passado trabalhadores disputavam com empregadores, cidadãos com ministros da Economia e devedores privados com bancos privados, as instituições financeiras passaram a enfrentar os mesmos Estados que pouco antes elas haviam chantageado a salvá-las. Mas a configuração subjacente de poderes e interesses se tornou bem mais complexa, e ainda aguarda exame sistemático. Desde o início da crise, por exemplo, os mercados financeiros voltaram a cobrar de diferentes Estados taxas de juros amplamente distintas, aplicando graus diversos de pressão sobre os governos para convencer seus cidadãos a aceitar cortes de gastos sem precedentes - de acordo, mais uma vez, com uma lógica de distribuição centrada no mercado basicamente inalterada. Haja vista o montante da dívida assumida hoje pela maioria dos Estados, até elevações mínimas da taxa de juros dos títulos públicos podem causar um desastre fiscal[15]. Ao mesmo tempo, os mercados precisam evitar impelir os Estados a declarar falência soberana, sempre uma opção para os governos caso as pressões dos mercados se tornem fortes demais. É por isso que há de se encontrar Estados dispostos a socorrer outros que estejam sob maior risco: para se proteger de uma elevação geral das taxas de juros dos títulos públicos que o primeiro calote acarretaria. Uma ordem similar de "solidariedade" entre Estados em favor dos investidores é promovida onde o calote soberano atinge bancos situados fora do país insolvente, o que poderia forçar os países de origem dos bancos a uma vez mais nacionalizar enormes cifras de dívida podre a fim de estabilizar suas economias.
Há ainda outras formas pelas quais a tensão entre as demandas por direitos sociais e as operações dos mercados livres se manifesta hoje no capitalismo democrático. Alguns governos, inclusive a administração Obama, têm tentado retomar o crescimento econômico por meio do endividamento - na esperança de que políticas de consolidação futuras sejam amparadas pelos dividendos desse crescimento. Outros podem estar prevendo em segredo um retorno da inflação, que dissolveria a dívida acumulada mediante uma expropriação suave dos credores - assim como o crescimento econômico, isso atenuaria as tensões políticas decorrentes das medidas de austeridade. Ao mesmo tempo, os mercados financeiros podem estar à espera de uma batalha promissora contra a interferência política, que de uma vez por todas restabeleça a disciplina de mercado e acabe com todas as tentativas políticas de subvertê-la.
Outras complicações provêm do fato de que os mercados financeiros precisam da dívida pública, uma vez que são investimentos seguros: pressionar com demasiado rigor por orçamentos equilibrados pode privá-los de oportunidades altamente desejáveis de investimento. As classes médias dos países capitalistas avançados têm investido boa parte de suas economias em títulos públicos, ao passo que muitos trabalhadores fizeram investimentos pesados em aposentadorias suplementares. Orçamentos equilibrados provavelmente implicariam que os Estados precisariam tirar das suas classes médias, na forma de impostos mais altos, aquilo que elas passaram a poupar e investir, entre outras coisas, na dívida pública. Os cidadãos não só deixariam de auferir juros, mas também não poderiam mais transmitir suas economias aos filhos. Contudo, ainda que isso deva deixá-los interessados em que os Estados fiquem, se não isentos de dívidas, ao menos confiavelmente aptos a cumprir suas obrigações para com seus credores, também pode fazer com que eles tenham de pagar pela liquidez de seus governos na forma de profundos cortes em benefícios e serviços públicos, dos quais em parte também dependem.
Por mais complexas que sejam as clivagens nas diretrizes internacionais para a dívida pública que começam a surgir, o preço da estabilização financeira provavelmente será pago por outros que não os detentores de dinheiro, ou ao menos de dinheiro real. A reforma das aposentadorias públicas, por exemplo, será acelerada por pressões fiscais, e na medida em que governos derem calote em qualquer canto do mundo as aposentadorias privadas serão igualmente atingidas. O cidadão comum irá pagar - pela consolidação das finanças públicas, pela bancarrota de Estados estrangeiros, pelas crescentes taxas de juros da dívida pública e, se necessário, por mais um resgate de bancos nacionais e internacionais - com suas economias particulares, com cortes em benefícios públicos, com redução de serviços públicos e com impostos mais altos.
Deslocamentos sucessivos
Nas quatro décadas desde o fim do crescimento do pós-guerra, o epicentro da tensão tectônica no âmbito do capitalismo democrático migrou de uma localização institucional para outra, ocasionando uma sequência de distúrbios econômicos diferentes mas sistematicamente relacionados. Nos anos 1970, o conflito entre as demandas democráticas por justiça social e as demandas capitalistas por distribuição segundo a produtividade marginal, ou "justiça econômica", se deu primordialmente nos mercados de trabalho nacionais, onde a pressão salarial dos sindicatos, no contexto de regimes de pleno emprego politicamente garantidos, provocou inflação acelerada. Quando aquilo que era, no fundo, uma forma de redistribuição mediante desvalorização da moeda corrente se tornou economicamente insustentável, forçando os governos a extingui-la com um alto risco político, o conflito ressurgiu na arena eleitoral. A partir daí ele ocasionou uma disparidade cada vez maior entre gastos públicos e receitas públicas e por consequência uma dívida pública rapidamente crescente, em resposta a demandas dos eleitores por benefícios e serviços para além daquilo que uma economia capitalista democrática poderia ser capaz de conceder ao seu "Estado taxador"[16].
Quando os esforços para refrear a dívida pública se tornaram inevitáveis, porém, eles tiveram de ser acompanhados, em nome da paz social, por desregulamentação financeira, por meio da facilitação do acesso ao crédito pessoal, como uma rota alternativa a atender demandas - com força normativa e política - dos cidadãos por segurança e prosperidade. Isso também não perdurou muito mais do que uma década até que a economia global quase cambaleasse sob o fardo de promessas irrealistas de pagamento futuro por consumo e investimento no presente, autorizadas pelos governos em contrapartida à austeridade fiscal. Desde então, o embate entre as noções populares de justiça social e a insistência econômica em justiça de mercado uma vez mais mudou de âmbito, dessa vez ressurgindo em mercados de capitais internacionais e nas complexas disputas que ora ocorrem entre instituições financeiras e eleitorados, entre governos e organizações internacionais. A questão agora é até que ponto os Estados poderão ainda impor os direitos de propriedade e as expectativas de lucro dos mercados aos seus cidadãos, ao mesmo tempo evitando ter de declarar bancarrota e resguardando o que ainda possa restar de sua legitimidade democrática.
Transigência com a inflação, aceitação da dívida pública e desregulamentação do crédito pessoal não passam de expedientes temporários para governos defrontados com um conflito aparentemente incoercível entre os dois princípios de alocação contraditórios sob o capitalismo democrático: de um lado direitos sociais, de outro produtividade marginal tal como dimensionada pelo mercado. Esses três expedientes funcionaram por algum tempo, mas logo começaram a causar mais problemas do que resolviam, indicando que uma reconciliação duradoura entre estabilidade social e econômica nas democracias capitalistas é um projeto utópico. Tudo o que os governos conseguiram alcançar ao lidar com as crises de suas épocas foi movê-las para novas arenas, onde reapareceram sob novas formas. Não há nenhum motivo para acreditar que esse processo - a sucessiva manifestação das contradições do capitalismo democrático em variedades de desarranjo econômico sempre novas - tenha terminado.
Desarranjo político
A essa altura, parece evidente que a capacidade de gestão política do capitalismo democrático declinou acentuadamente nos últimos anos, mais em certos países do que em outros mas também de maneira abrangente, no sistema político-econômico global emergente. Em consequência, riscos parecem estar se ampliando, tanto para a democracia quanto para a economia. Desde a Grande Depressão, os formuladores de políticas raras vezes - talvez jamais - depararam com tanta incerteza como hoje. Um exemplo é o fato de que os mercados esperam não só consolidação fiscal mas também, e ao mesmo tempo, prognósticos razoáveis de futuro crescimento econômico. Não é claro como ambas as coisas podem ser combinadas. Embora o prêmio de risco da dívida pública da Irlanda tenha caído quando o país se comprometeu com uma severa redução de seu déficit, algumas semanas depois voltou a subir, presumivelmente porque o programa de consolidação irlandês parecia tão estrito que tornaria a recuperação econômica impossível[17]. Ademais, há uma convicção amplamente compartilhada de que a próxima bolha já está se formando em algum lugar de um mundo mais do que nunca inundado de crédito oferecido a juros baixos. Não se pode mais oferecer créditos hipotecários de alto risco para investimentos, pelo menos não por enquanto. Mas restam ainda os mercados de matérias-primas ou a nova economia da internet. Nada impede que as empresas financeiras se utilizem do excedente de dinheiro proporcionado pelos bancos centrais para ingressar em quaisquer negócios que aparentem ser os novos segmentos em crescimento, em proveito de seus clientes prediletos e, é claro, de si mesmas. Enfim, com o malogro da reforma regulatória do setor financeiro sob quase todos os aspectos os requisitos de capital aumentaram um pouco, e os bancos que eram grandes demais para falir em 2008 também podem contar com essa condição em 2012 ou 2013, o que os deixa com a mesma capacidade de extorquir o mesmo público que tão astuciosamente conseguiram explorar naquele ano. Mas agora pode ser impossível repetir o socorro público ao capitalismo privado nos moldes de 2008, quanto mais não seja porque as finanças públicas já estão esticadas até o limite.
Contudo, na atual crise a democracia está tanto em risco quanto a economia, se não mais. Não só a "integração sistêmica" das sociedades contemporâneas - ou seja, o funcionamento eficaz de suas economias capitalistas - se precarizou, mas também sua "integração social"[18]. Com o advento de uma nova fase de austeridade, a capacidade dos Estados- nação de fazer a mediação entre os direitos dos cidadãos e os requisitos de acumulação de capital foi severamente afetada. Governos de toda parte enfrentam resistência mais forte a aumentos de impostos, particularmente em países altamente endividados, nos quais será preciso gastar dinheiro público novo por muitos anos para pagar bens consumidos há muito tempo. Além disso, com a interdependência global cada vez mais estreita, já não é possível ter a pretensão de que as tensões entre economia e sociedade, entre capitalismo e democracia, podem ser geridas no interior das comunidades políticas nacionais. Hoje nenhum governo pode governar sem prestar detida atenção às obrigações e constrangimentos internacionais, inclusive aqueles dos mercados financeiros que forçam os Estados nacionais a impor sacrifícios à sua população. As crises e as contradições do capitalismo democrático se tornaram definitivamente internacionalizadas, manifestando-se não só dentro dos Estados mas também entre eles, em combinações e permutações inauditas.
Como lemos quase todo dia nos jornais, "os mercados" passaram a ditar por vias sem precedentes o que Estados supostamente soberanos e democráticos ainda podem fazer por seus cidadãos e o que devem lhes recusar. As mesmas agências de classificação de risco sediadas em Manhattan que contribuíram de maneira fundamental para ocasionar o desastre da indústria de dinheiro global agora estão ameaçando rebaixar as notas dos títulos de Estados que aceitaram um grau antes inimaginável de endividamento novo para resgatar aquela indústria e a economia capitalista como um todo. A política ainda restringe e distorce mercados, mas apenas, parece, num plano muito distante da vivência cotidiana e das capacidades organizacionais das pessoas comuns - os Estados Unidos, armados até os dentes não só de porta-aviões mas também de um suprimento ilimitado de cartões de crédito, ainda têm a China para comprar sua dívida ascendente; todos os demais países têm de escutar o que "os mercados" lhes dizem. Desse modo, os cidadãos cada vez mais percebem seus governos não como seus agentes, mas de outros Estados ou de organizações internacionais tais como o FMI ou a União Europeia, incomensuravelmente mais isolados da pressão eleitoral do que era o tradicional Estado-nação. Em países como Grécia e Irlanda, qualquer coisa que se assemelhe a democracia será efetivamente suspensa por muitos anos. Para proceder "responsavelmente", no sentido definido por mercados e instituições internacionais, os governos nacionais terão de impor uma rígida austeridade, a preço de se tornarem cada vez mais irresponsáveis para com seus cidadãos[19].
A democracia não está sendo sequestrada apenas nos países atualmente sob ataque dos "mercados". A Alemanha, que ainda se encontra numa situação econômica relativamente confortável, comprometeu-se com décadas de cortes nos gastos públicos. Além disso, o governo alemão mais uma vez terá de fazer com que os seus cidadãos provenham liquidez para países sob risco de calote, não só para salvar bancos alemães, mas também para estabilizar a moeda comum europeia e evitar um aumento geral da taxa de juros da dívida pública, como é provável que ocorra caso o primeiro país entre em colapso. O alto custo político disso pode ser dimensionado pela queda progressiva do capital eleitoral do governo de Angela Merkel, que redundou numa série de derrotas em importantes eleições regionais ao longo de 2010. A retórica populista, que insinua que talvez os credores também devessem pagar uma parcela dos custos, tal como expressa pela chanceler alemã no início daquele ano, foi prontamente abandonada quando "os mercados" manifestaram seu assombro aumentando ligeiramente a taxa de juros da dívida pública nova. Agora a conversa é sobre a necessidade de passar, nas palavras do ministro da Economia alemão, do antiquado "governo", que não está mais à altura dos novos desafios da globalização, para a "governança", denotando em particular uma permanente redução da autoridade orçamentária do Bundestag[20].
As expectativas políticas ora apresentadas aos Estados democráticos pelos seus novos mandantes podem ser impossíveis de satisfazer. Os mercados e as instituições internacionais exigem que não só os governos como também os cidadãos se comprometam credulamente com a consolidação fiscal. Partidos políticos que se oponham à austeridade precisam ser derrotados de modo retumbante nas eleições nacionais, e tanto o governo como a oposição devem se comprometer publicamente com "finanças sadias", caso contrário o custo do serviço da dívida vai aumentar. Entretanto, pleitos em que os eleitores não tenham nenhuma opção efetiva poderão ser percebidos como inautênticos, o que talvez cause toda sorte de desarranjos políticos, da diminuição do comparecimento às urnas e a ascensão de partidos populistas aos distúrbios nas ruas.
As arenas do conflito distributivo foram se tornando cada vez mais distantes da política popular. Nem os mercados de trabalho nacionais dos anos 1970, com as múltiplas oportunidades que ofereciam para mobilizações políticas corporativistas e coalizões interclasses, nem a política de gastos públicos dos anos 1980 ficavam além da apreensão ou do alcance estratégico do "homem do povo". Desde então, os campos de batalha em que se dá o embate das contradições do capitalismo democrático ficaram cada vez mais complexos, tornando extremamente difícil para qualquer um que não pertença às elites políticas e financeiras reconhecer os interesses subjacentes e identificar seus próprios interesses[21]. Embora esse quadro possa gerar apatia no nível das massas e com isso tornar a vida das elites mais fácil, não se pode contar com isso num mundo em que a aquiescência cega aos investidores financeiros é postulada como o único procedimento racional e responsável. Para aqueles que se recusam a ser dissuadidos de outras racionalidades e responsabilidades sociais, um mundo desses pode parecer simplesmente absurdo - a ponto de que a única conduta racional e responsável seja fazer o maior número de estragos possível na haute finance. Ali onde a democracia tal como a conhecemos está efetivamente suspensa, como em países como Grécia, Irlanda e Portugal, tumultos nas ruas e insurreições populares podem ser o derradeiro modo de expressão política que resta para os desprovidos de poder de mercado. Devemos manter a esperança, em nome da democracia, de que em breve teremos a oportunidade de observar mais alguns exemplos?
As ciências sociais pouco ou nada podem fazer para ajudar a dirimir as tensões e as contradições estruturais subjacentes aos desarranjos econômicos e sociais do momento. O que podem fazer, em todo caso, é lançar luz sobre elas e identificar os encadeamentos históricos por meio dos quais as atuais crises sejam plenamente compreendidas. Também podem - e devem - evidenciar o drama de Estados democráticos que estão sendo transformados em agências de cobrança de dívidas a serviço de uma oligarquia global de investidores, que comparada à "elite do poder" de C. Wright Mills parece um esplêndido exemplo de pluralismo liberal[22]. Mais do que nunca, o poder econômico parece ter se tornado poder político, enquanto os cidadãos parecem estar quase inteiramente despojados de suas defesas democráticas e de sua capacidade de imprimir à economia interesses e demandas que são incomparáveis com os dos detentores de capital. De fato, levando em conta a sucessão das crises do capitalismo democrático desde os anos 1970, parece haver uma possibilidade real de um novo arranjo - mesmo que temporário - do conflito social no capitalismo avançado, desta vez inteiramente a favor das classes proprietárias ora firmemente entrincheiradas em sua fortaleza politicamente indevassável: a indústria financeira internacional.
 |
| NLR 71 • SEPT/OCT 2011 |
Tradução / O colapso do sistema financeiro norte-americano que ocorreu em 2008 converteu-se em uma crise econômica e política de dimensões globais.[1] Como esse evento mundialmente impactante pode ser conceitualizado? As teorias econômicas predominantes tendem a conceber a sociedade como uma entidade regida por uma tendência geral ao equilíbrio, em que as crises e a mudança não passam de desvios temporários do estado estável de um sistema normalmente bem integrado. Um sociólogo, no entanto, não é obrigado a compartilhar dessa visão. Em vez de interpretar nossa atual atribulação como um distúrbio isolado em uma condição essencialmente estável, vou considerar a "Grande Recessão"[2] e o (quase) colapso subsequente das finanças públicas como a manifestação de uma tensão elementar subjacente à configuração político-econômica das sociedades capitalistas avançadas - uma tensão que faz do desequilíbrio e da instabilidade regra, e não exceção, e que encontrou expressão numa sucessão histórica de distúrbios no interior da ordem socioeconômica. Mais especificamente, vou argumentar que a crise atual só pode ser plenamente compreendida à luz das transformações contínuas e inerentemente conflituosas da formação social que chamamos de "capitalismo democrático".
O capitalismo democrático só se estabeleceu completamente após a Segunda Guerra Mundial e à época apenas nas porções "ocidentais" do mundo, na América do Norte e na Europa Ocidental. Ali funcionou muito bem durante as duas décadas seguintes - tão bem, de fato, que esse período de crescimento econômico ininterrupto ainda domina nossas ideias e expectativas sobre o que o capitalismo moderno é ou poderia e deveria ser. Isso a despeito de, haja vista a turbulência que se seguiu, o quarto de século imediatamente posterior à guerra dever ser reconhecido como verdadeiramente excepcional. Na verdade, creio que não os trente glorieuses mas as várias crises que se seguiram representam a condição normal do capitalismo democrático - uma condição pautada por um conflito endêmico entre mercados capitalistas e políticas democráticas, que recrudesceu com o término do alto crescimento econômico dos anos 1970. Abaixo discutirei a natureza desse conflito, e em seguida abordarei a sucessão de transtornos político-econômicos que ele gerou, ambos os quais precederam e moldaram a atual crise global.
Mercados versus eleitores?
Suspeitas de que capitalismo e democracia possam não se combinar facilmente estão longe de ser novidade. Já no século XIX e em boa parte do século XX, a burguesia e a direita política manifestavam temores de que a "regra da maioria", implicando, inevitavelmente, o predomínio dos pobres sobre os ricos, acabaria por extinguir a propriedade privada e os mercados livres. A classe trabalhadora ascendente e a esquerda política, por sua vez, advertiam que os capitalistas poderiam se aliar às forças reacionárias para abolir a democracia com o intuito de se protegerem de ser governados por uma maioria permanente empenhada na redistribuição econômica e social. Não quero discutir os méritos relativos das duas posições, muito embora a história sugira que, ao menos no mundo industrializado, a esquerda tinha mais razão para temer que a direita sacrificasse a democracia, a fim de salvar o capitalismo, do que tinha a direita para temer que a esquerda abolisse o capitalismo em favor da democracia. Seja como for, nos anos pós-Segunda Guerra havia um pressuposto amplamente compartilhado de que, para que fosse compatível com a democracia, o capitalismo teria de ser submetido a um controle político amplo (compreendendo, por exemplo, a nacionalização de empresas e setores essenciais ou um modelo de "cogestão" que incluísse os trabalhadores, como na Alemanha), a fim de que a própria democracia fosse protegida de restrições impostas pelo livre mercado. Enquanto Keynes, assim como Kalecki e Polanyi até certo ponto, estavam em voga, Hayek parecia condenado a um exílio temporário.
Desde então, no entanto, a teoria econômica predominante ficou obcecada pela "irresponsabilidade" de políticos oportunistas que satisfazem um eleitorado pouco versado em economia, interferindo em mercados naturalmente eficientes em busca de metas - como pleno emprego e justiça social - que mercados genuinamente livres proporcionariam a longo prazo de qualquer jeito, mas que deixam de proporcionar quando distorcidos pela política. Segundo teorias tradicionais da "escolha pública", as crises econômicas basicamente se originam de intervenções políticas que distorcem os mercados visando metas sociais[3]. Nessa visão, as intervenções adequadas são aquelas que deixam os mercados livres de interferência política; as incorretas, que distorcem os mercados, derivam de um excesso de democracia - mais precisamente, da transposição, levada a cabo por políticos irresponsáveis, da democracia para a economia, onde ela não deveria se meter. Hoje, poucos iriam tão longe quanto Hayek, que nos últimos anos de vida advogou a abolição da democracia tal como a conhecemos em defesa da liberação econômica e da liberdade civil. Não obstante, o cantus firmus da atual teoria econômica neoinstitucionalista é profundamente hayekiano. Para funcionar de maneira adequada, o capitalismo requer políticas econômicas pautadas por normas, proteção de mercados, direitos de propriedade constitucionalmente resguardados de interferência política discricionária; autoridades regulatórias independentes; bancos centrais vigorosamente protegidos de pressões eleitorais; e instituições internacionais - como a Comissão Europeia ou o Tribunal de Justiça europeu - que não tenham de se preocupar com reeleição popular. Contudo, essas teorias evitam propositadamente a questão crucial de como chegar a isso, talvez porque seus defensores não tenham respostas, ou ao menos nenhuma que possa ser dada publicamente.
Há vários modos de conceitualizar as causas subjacentes ao atrito entre capitalismo e democracia. Para os presentes fins, vou caracterizar o capitalismo democrático como uma economia pautada por dois princípios ou regimes conflitantes de alocação de recursos: o primeiro opera de acordo com a produtividade marginal, ou com aquilo que é exposto como uma vantagem por um "livre jogo das forças de mercado", e o outro se baseia em necessidades ou direitos sociais, tal como estabelecidos por escolhas coletivas em contextos democráticos. Sob o capitalismo democrático, os governos são teoricamente instados a cumprir ambos os princípios simultaneamente, ainda que eles quase nunca se alinhem de forma substantiva. Na prática, podem negligenciar um princípio em favor do outro por algum tempo, até serem penalizados pelas consequências: governos que deixem de atender demandas democráticas por proteção e redistribuição se arriscam a perder o apoio da maioria, enquanto aqueles que desconsideram as demandas por compensação dos detentores dos recursos produtivos - com relação à produtividade marginal - provocam disfunções econômicas que se tornam cada vez mais insustentáveis, solapando também seu apoio político.
Na utopia liberal da teoria econômica convencional, a tensão entre esses dois princípios de alocação do capitalismo democrático é superada pela conversão da teoria no que Marx teria chamado de "força material". Segundo essa visão, a economia como "conhecimento científico" ensina aos cidadãos e aos políticos que a verdadeira justiça é a justiça do mercado, pela qual todos são recompensados de acordo com sua contribuição, em vez de terem suas necessidades transformadas em direitos. Na medida em que a teoria econômica viesse a ser aceita como teoria social, "viraria realidade" no sentido de ser performativa - revelando assim seu caráter essencialmente retórico como um instrumento de construção social por persuasão. No mundo real, porém, não é tão fácil dissuadir as pessoas de suas crenças "irracionais" em direitos sociais e políticos, em contraposição à lei do mercado e ao direito de propriedade. Até o momento, as noções de justiça social alheias à lógica do mercado têm resistido às tentativas de racionalização econômica, por mais impositivas que elas tenham se tornado na idade de chumbo da expansão do neoliberalismo. As pessoas se recusaram obstinadamente a abrir mão da ideia de uma economia moral, sob a qual possuem direitos que têm precedência sobre as repercussões das transações de mercado[4]. De fato, sempre que podem - como recorrentemente podem em democracias efetivas -, tendem de uma maneira ou de outra a insistir na primazia do social sobre o econômico, na proteção de compromissos e obrigações sociais contra as pressões do mercado por "flexibilidade", na expectativa de que a sociedade satisfaça as aspirações humanas a uma vida fora da ditadura dos "sinais" instáveis dos mercados. Provavelmente, é esse o fenômeno que Polanyi descreveu em A grande transformação como um "contramovimento" em reação à transformação do trabalho em mercadoria.
Segundo a teoria econômica predominante, desarranjos como inflação, déficits públicos e dívida privada ou pública excessiva resultam de um conhecimento insuficiente das leis que regem a economia, essa máquina de geração de riqueza, ou da desconsideração dessas leis na busca egoísta de poder político. Já as teorias de economia política - na medida em que levam a política a sério e não são apenas teorias funcionalistas da eficiência - veem na alocação de mercado apenas um tipo de regime político-econômico entre outros, regido pelos interesses dos detentores dos recursos produtivos escassos e portanto em posição de vantagem no mercado. A alocação política, por sua vez, é preferida por aqueles que têm pouco peso econômico mas têm poder político potencialmente amplo. Dessa perspectiva, a teoria econômica convencional é basicamente a exaltação teórica de uma ordem social político-econômica a serviço daqueles bem-dotados de poder de mercado, visto que equipara os interesses deles com o interesse geral. Ela apresenta as demandas distributivas dos detentores de capital produtivo como imperativos técnicos da boa, no sentido de cientificamente fundamentada, gestão econômica. Para a economia política, a explicação convencional para as disfunções econômicas, segundo a qual elas resultariam de uma clivagem entre princípios tradicionalistas da economia moral e princípios moderno- -racionais, é uma deturpação enviesada, que oculta o fato de que a economia "econômica" também é uma economia moral - mas a economia moral daqueles que ocupam posições privilegiadas no mercado.
Na linguagem da teoria econômica convencional, as crises se afiguram como punição para governos que deixam de respeitar as leis naturais da economia que são as suas autênticas governantes. Em contraposição, uma teoria de economia política digna desse nome concebe as crises como manifestações das "reações kaleckianas" dos detentores de recursos produtivos a políticas democráticas que penetram em seu domínio exclusivo, e que os impedem de explorar ao máximo seu poder de mercado, subvertendo suas expectativas de serem justamente recompensados por suas operações de risco ousadas.[5] A teoria econômica convencional aborda a estrutura social e a distribuição dos interesses e poderes nela operantes como coisas exógenas, considerando-as constantes e com isso tornando ambas invisíveis e, para os fins da "ciência" econômica, naturalmente dadas. A única política que uma teoria dessas consegue conceber envolve tentativas oportunistas, ou na melhor das hipóteses incompetentes, de transgredir as leis econômicas. Toda política econômica boa é por definição apolítica. O problema é que essa visão não é compartilhada por aqueles que consideram a política um recurso imprescindível contra os mercados, cuja operação à rédea solta interfere no que julgam ser a ordem correta das coisas. A menos que eles sejam de alguma forma persuadidos a adotar a doutrina econômica neoclássica como um modelo inequívoco daquilo que a vida social é e deve ser, suas demandas políticas, tais como democraticamente expressas, vão divergir das prescrições da teoria econômica convencional. A questão é que, enquanto uma economia, desde que suficientemente abstraída de forma conceitual, pode ser modelada como tendendo ao equilíbrio, uma economia política não pode, a menos que seja desprovida de democracia e dirigida por uma ditadura platônica de reis-economistas. A política capitalista, como veremos, tem feito o possível para nos conduzir do deserto do oportunismo democrático corrupto para a terra prometida dos mercados autorregulamentados. Até agora, porém, a resistência democrática persiste, e com ela os deslocamentos em nossas economias de mercado, às quais ela continuamente dá ensejo.
Arranjos do pós-guerra
O capitalismo democrático do pós-guerra sofreu sua primeira crise no decênio subsequente ao final dos anos 1960, quando a inflação começou a crescer rapidamente por todo o mundo ocidental,e o declínio do crescimento econômico passou a inviabilizar a fórmula da paz político-econômica entre capital e trabalho que findara os conflitos domésticos após as devastações da Segunda Guerra Mundial. Essa fórmula implicava essencialmente a aceitação dos mercados capitalistas e os direitos de propriedade pela classe trabalhadora organizada em troca de democracia política, o que lhes possibilitava contar com seguridade social e com a melhoria constante de seu padrão de vida. O período ininterrupto de mais de dois decênios de crescimento resultou em percepções populares, profundamente enraizadas, do contínuo progresso econômico como um direito de cidadania democrática - percepções que se converteram em expectativas políticas que os governos se sentiram coagidos a cumprir com a desaceleração do crescimento, mas cada vez menos capazes de cumpri-lo.
A estrutura do arranjo entre trabalho e capital no pós-guerra era fundamentalmente a mesma nos países - sob outros aspectos bem diferentes - em que o capitalismo democrático fora instituído. Compreendia um Estado de bem-estar em expansão, o direito dos trabalhadores à livre negociação coletiva e a garantia política do pleno emprego, subscrita por governos que faziam amplo uso do instrumental econômico keynesiano. Quando o crescimento começou a ratear no final dos anos 1960, porém, ficou difícil manter essa combinação. Enquanto a livre negociação coletiva possibilitava aos trabalhadores, por meio de seus sindicatos, agir de acordo com expectativas, já firmemente arraigadas, de aumentos salariais anuais em caráter regular, o compromisso dos governos com o pleno emprego, bem como com a expansão do Estado de bem-estar, protegia os sindicatos de potenciais perdas de postos de trabalho causadas por acordos salariais que excediam o crescimento da produtividade. Desse modo, a política governamental alavancava o poder de barganha dos sindicatos para além do nível que um livre mercado de trabalho poderia sustentar. No final dos anos 1960 isso se traduziu em uma onda mundial de militância trabalhista, impulsionada por um vigoroso senso de direito político a um padrão de vida ascendente e livre do medo do desemprego.
Nos anos subsequentes, governos de toda parte do mundo ocidental enfrentaram a questão de como fazer com que os sindicatos moderassem as reivindicações salariais para as suas categorias sem ter de retirar a promessa keynesiana de pleno emprego. Nos países em que a estrutura institucional do sistema de negociação coletiva não conduzia aos "pactos sociais" tripartites, a maioria dos governos permaneceu convencida ao longo de toda a década de 1970 de que permitir o aumento do desemprego a fim de conter aumentos salariais reais colocava em risco sua sobrevivência, senão para a estabilidade da própria democracia capitalista. Sua única saída foi uma política monetária acomodatícia que, conquanto permitisse que a livre negociação coletiva e o pleno emprego continuassem a coexistir, fazia-o à custa de elevar a taxa de inflação num ritmo que se acelerou ao longo do tempo.
A princípio, a inflação não era um grande problema para trabalhadores representados por sindicatos fortes e com poder político suficiente para obter indexação salarial de facto. A inflação atinge primordialmente credores e detentores de ativos financeiros, segmentos que em geral não incluem trabalhadores, ou ao menos não incluíam nos anos 1960 e 1970. É por isso que a inflação pode ser descrita como um reflexo monetário do conflito distributivo entre uma classe trabalhadora que demanda garantia de emprego, bem como uma maior participação na renda nacional, e uma classe capitalista que busca maximizar o retorno sobre o seu capital. Uma vez que os dois lados agem de acordo com ideias mutuamente incompatíveis sobre o que lhes é de direito, um deles enfatizando os usufrutos da cidadania e o outro os do poder de posse e mercado, a inflação também pode ser considerada uma expressão de anomia numa sociedade que, por razões estruturais, não consegue chegar a um critério comum de justiça social. Foi nesse sentido que o sociólogo britânico John Goldthorpe sugeriu, no final dos anos 1970, que a inflação alta era inerradicável numa economia de mercado capitalista democrática que permitia que trabalhadores e cidadãos corrigissem efeitos negativos dos mercados mediante ação política coletiva[6].
Para governos que precisam enfrentar as demandas conflitantes dos trabalhadores e do capital num mundo de taxas de crescimento em queda, uma política monetária acomodatícia era um método substituto conveniente para evitar um conflito social de soma zero. Nos anos iniciais do pós-guerra, o crescimento econômico municiara governos em luta contra concepções de justiça econômica incompatíveis com bens e serviços adicionais por meio dos quais podiam neutralizar antagonismos de classe. Agora os governos tinham de se virar com dinheiro adicional, ainda não chancelado pela economia real, como um meio de antecipar recursos futuros por meio do consumo e da distribuição no presente. Essa maneira de pacificar conflitos, apesar de eficaz a princípio, não poderia persistir indefinidamente. Como Hayek nunca cansava de assinalar, inflação acelerada fatalmente ocasiona distorções econômicas por fim incontroláveis nos preços relativos, na relação entre rendas variáveis e fixas e naquilo que os economistas chamam de "incentivos econômicos". Ao provocar reações kaleckianas de detentores de capitais cada vez mais desconfiados, a inflação acaba por gerar desemprego, penalizando os mesmos trabalhadores cujos interesses ela pode inicialmente ter favorecido. A essa altura, no mais tardar, os governos sob o capitalismo democrático estarão sofrendo pressões para abandonar os arranjos salariais redistributivo- -acomodatícios e restituir a disciplina monetária.
Inflação baixa, desemprego em alta
A inflação foi controlada após 1979 (Gráfico 1), quando Paul Volcker, recém-nomeado presidente do Fed pelo presidente Jimmy Carter, elevou as taxas de juros a patamares sem precedentes, fazendo com que o desemprego saltasse para níveis não vistos desde a Grande Depressão. O "putsch" de Volcker foi chancelado em 1984 com a reeleição de Ronald Reagan (que de início, diz-se, teria ficado receoso dos efeitos políticos das diretrizes desinflacionárias agressivas de Volcker). Margareth Thatcher, que havia seguido a esteira dos Estados Unidos, ganhou um segundo mandato em 1983, também a despeito do desemprego elevado e da rápida desindustrialização causados, entre outras coisas, por uma política monetária restritiva. Tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido, a desinflação foi acompanhada de ataques abertos aos sindicatos por parte dos governos e dos empregadores, cujos casos emblemáticos foram o triunfo de Reagan sobre a Organização Sindical dos Controladores de Tráfego Aéreo e o de Thatcher sobre o Sindicato Nacional dos Mineiros. Nos anos seguintes, as taxas de inflação permaneceram continuamente baixas em todo o mundo capitalista, ao passo que o desemprego aumentou mais ou menos regularmente (Gráfico 2). Paralelamente, a sindicalização declinou em quase todos os lugares, e as greves se tornaram tão esporádicas que alguns países deixaram de manter estatísticas sobre elas (Gráfico 3).
A era neoliberal teve início com o abandono, pelos governos anglo- -americanos, das lições do capitalismo democrático do pós-guerra, que sustentavam que o desemprego solaparia o apoio político não só ao governo da vez, mas também ao próprio capitalismo democrático. Os experimentos conduzidos por Reagan e Thatcher com seus eleitorados foram observados com grande atenção por formuladores de políticas do mundo inteiro. Entretanto, aqueles que esperavam que o fim da inflação traria o fim do desarranjo econômico logo se decepcionaram. À medida que a inflação recuou, a dívida pública começou a aumentar, e não de forma totalmente inesperada[7]. A dívida pública crescente dos anos 1980 tinha diversas causas. A estagnação do crescimento indispusera os contribuintes mais do que nunca à tributação, e com o fim da inflação também acabaram os aumentos tributários automáticos por meio do "bracket creep". O mesmo se aplicava à contínua desvalorização da dívida pública em razão do enfraquecimento das moedas correntes, um processo que a princípio complementava o crescimento econômico e que passou a substituí-lo cada vez mais, reduzindo a dívida acumulada de um país em relação à sua receita nominal. No lado da despesa, o crescente desemprego, causado pela estabilização monetária, requeria gastos crescentes em assistência social. Ademais, os vários direitos sociais criados nos anos 1970 em troca de moderação dos sindicatos nas negociações salariais - por assim dizer, salários adiados da era neocorporativista - começaram a ser cobrados, onerando cada vez mais as finanças públicas.
Com a inflação não mais disponível como recurso para estreitar a lacuna entre as demandas dos cidadãos e as dos "mercados", o ônus de assegurar a paz social recaiu sobre o Estado. Por algum tempo, a dívida pública se mostrou um equivalente funcional conveniente da inflação: assim como a inflação, a dívida pública tornava possível introduzir recursos ainda não gerados de fato nos conflitos distributivos em curso, propiciando aos governos explorar recursos futuros em acréscimo àqueles já disponíveis. Uma vez que o embate entre a distribuição via mercado e a distribuição social passou do mercado de trabalho para a arena política, a pressão eleitoral substituiu as reivindicações sindicais. Em vez de inflacionar a moeda corrente, os governos começaram a tomar empréstimos em proporções crescentes para atender demandas de benefícios e serviços como um direito dos cidadãos, assim como exigências concorrentes de que a renda refletisse o juízo do mercado e desse modo contribuísse para maximizar o uso lucrativo dos recursos produtivos. A inflação baixa - assim como as taxas de juros baixas que se seguiram à contenção da inflação - favorecia isso, já que assegurava aos credores que os títulos públicos iriam manter seu valor no longo prazo.
Tal como a inflação, porém, o acúmulo da dívida pública não pode perdurar para sempre. Os economistas advertiram há muito tempo que o déficit público tem um efeito de "esvaziamento" [crowding out] sobre o investimento privado, ocasionando taxas de juros altas e crescimento baixo, mas jamais foram capazes de identificar o limiar crítico. Na prática, mostrou-se possível, ao menos por algum tempo, manter as taxas de juros baixas pela desregulamentação dos mercados financeiros e simultaneamente conter a inflação por meio de práticas reiteradas de desmantelamento das ações sindicais[8]. Contudo, os Estados Unidos em particular, com sua taxa de poupança nacional excepcionalmente baixa, logo iriam vender seus títulos públicos não só para os cidadãos, mas também para investidores estrangeiros, incluindo fundos soberanos de variados tipos[9]. Além disso, à medida que aumentavam os ônus da dívida era preciso destinar uma proporção crescente dos gastos públicos ao serviço da dívida, mesmo que as taxas de juros permanecessem baixas. Acima de tudo, chegar-se-ia a um ponto - ainda que imprevisível - em que credores estrangeiros e nacionais começariam a se preocupar em reaver seu dinheiro. No mais tardar, então, as pressões dos "mercados financeiros" pela consolidação dos orçamentos públicos e pelo retorno à disciplina fiscal se fariam sentir.
Desregulamentação e dívida privada
A eleição presidencial americana de 1992 foi dominada pela questão dos dois déficits: o do governo federal e o do país como um todo, no comércio exterior. A vitória de Bill Clinton, cuja campanha se voltara sobretudo para o "duplo déficit", suscitou tentativas de consolidação fiscal em todo o mundo, promovidas de maneira agressiva, sob a liderança dos Estados Unidos, por organizações internacionais como a OCDE e o FMI. De início, a administração Clinton parece ter planejado acabar com o déficit público mediante um crescimento econômico acelerado impulsionado por reformas sociais, tais como o aumento do investimento público em educação[10]. Uma vez que os democratas perderam a maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato de 1994, porém, Clinton se voltou para uma política de austeridade, envolvendo cortes profundos nos gastos públicos e mudanças nas políticas sociais que, nas palavras do presidente, poriam fim ao "Estado de bem-estar tal como o conhecemos". De 1998 a 2000, pela primeira vez em décadas, o governo federal americano estava administrando um superávit orçamentário.
Isso não é o mesmo que dizer, no entanto, que a administração Clinton tivesse encontrado um meio de pacificar uma economia capitalista democrática sem recorrer a recursos econômicos adicionais ainda não disponíveis. A estratégia de Clinton de gestão do conflito social se valeu intensamente do aprofundamento da desregulamentação do setor financeiro, que havia se iniciado sob Reagan[11]. A crescente desigualdade de renda, causada pela contínua dessindicalização e pelos cortes severos nos gastos sociais, bem como a redução da demanda agregada, causada pela consolidação fiscal, foram contrabalançadas pela criação de oportunidades sem precedentes para que cidadãos e pessoas jurídicas se endividassem. A feliz expressão "keynesianismo privado" foi cunhada para designar aquilo que era, em essência, a substituição da dívida pública pela dívida privada[12]. Em vez de o governo tomar dinheiro emprestado para financiar o acesso igualitário a habitação decente ou para a formação de mão de obra qualificada para o mercado, passou a permitir - às vezes forçá-los a tanto - que cidadãos individuais, sob um sistema de endividamento extremamente generoso, tomassem empréstimos por sua própria conta e risco para pagar seus estudos ou seu acesso a um bairro menos carente.
A política de Clinton de consolidação fiscal e revitalização econômica por meio da desregulamentação financeira teve muitos beneficiários. Os ricos foram poupados de aumentos de impostos, e aqueles espertos o bastante para dirigir seus interesses para o setor financeiro acumularam lucros descomunais nos cada vez mais complexos "serviços financeiros" que passaram a ser autorizados a comercializar de maneira quase irrestrita. Mas os pobres também prosperaram, ao menos alguns deles e por algum tempo. As hipotecas de alto risco [subprime mortgages] se tornaram um substituto - ainda que ilusório no final das contas - para as políticas sociais, que foram sucateadas, bem como para os aumentos salariais, que se tornaram indisponíveis nos segmentos inferiores de um mercado de trabalho "flexibilizado". Para os afro-americanos em particular, a casa própria era não só a realização do "sonho americano" como também um substituto fundamental para as aposentadorias, que muitos eram incapazes de obter no mercado de trabalho e a qual não tinham nenhum motivo para esperar de um governo comprometido com a austeridade permanente.
Durante algum tempo, a posse de um imóvel ofereceu à classe média e até a uma parcela dos pobres uma oportunidade atraente para participar da febre especulativa que nos anos 1990 e no início dos anos 2000 estava tornando os ricos bem mais ricos - por mais traiçoeira que essa oportunidade viesse a se revelar depois. Com a disparada dos preços dos imóveis causada pela demanda crescente de pessoas que em circunstâncias normais jamais teriam condições de comprar uma casa, a utilização de parte ou da totalidade do valor líquido de um imóvel para financiar os custos da escolarização da geração seguinte (que se elevavam com rapidez), ou simplesmente para consumo pessoal (a fim de compensar estagnação ou queda salarial), tornou-se uma prática comum. Tampouco era incomum que os proprietários de imóveis usassem seu novo crédito para comprar uma segunda ou terceira residência, na esperança de lucrar com o aumento ilimitado improvável do valor dos bens imobiliários. À diferença da era da dívida pública, quando se obtinham recursos futuros para uso no presente mediante empréstimos governamentais, esses recursos passaram a ser postos à disposição pela venda, em mercados financeiros liberalizados, de obrigações a pagar que representavam uma parcela significativa dos ganhos futuros dos indivíduos, municiando-os, em troca, do poder instantâneo de comprar o que bem entendessem.
Assim, a liberalização financeira compensou uma era de consolidação fiscal e austeridade pública. O endividamento individual substituiu a dívida pública, e a demanda individual, construída sob altas taxas por um crescente setor caça-níqueis, ocupou o lugar da demanda pública gerida pelo Estado pela sustentação do emprego e dos lucros na construção civil e em outros setores (Gráfico 4). Essas dinâmicas se intensificaram depois de 2001, quando o Fed passou a adotar taxas de juros bastante baixas para evitar uma recessão econômica e o consequente aumento do desemprego. Além de lucros sem precedentes no setor financeiro, o keynesianismo privado sustentou uma economia afluente que se tornou alvo da inveja dos movimentos trabalhistas europeus. De fato, a política de Alan Greenspan de crédito abundante respaldando o crescente endividamento da sociedade americana foi considerada um modelo por líderes sindicais europeus, que notaram com grande entusiasmo que o Fed, diversamente do Banco Central Europeu, era obrigado por lei a promover não só estabilidade monetária como também níveis de emprego elevados. Tudo isso, é claro, terminou em 2008, quando a pirâmide creditícia internacional na qual se apoiara a prosperidade do final dos anos 1990 e do início dos anos 2000 subitamente veio abaixo.
Endividamento soberano
Com a derrocada do keynesianismo privado em 2008, a crise do capitalismo democrático do pós-guerra entrou em sua quarta e mais recente etapa, após as sucessivas eras de inflação, de déficits públicos e de endividamento privado (Gráfico 5)[13]. Com o sistema financeiro global prestes a se desintegrar, os Estados-nação buscaram restituir a confiança econômica socializando os créditos podres emitidos como forma de compensar a consolidação fiscal. Somada à expansão fiscal necessária para evitar um colapso da "economia real", a medida resultou em um novo aumento dramático dos déficits públicos e da dívida pública - um desdobramento, cabe notar, que não se deveu de modo algum a gastos extras inconsequentes por parte de políticos oportunistas ou de órgãos públicos desavisados, como insinuado pelas teorias da "escolha pública" e pela vasta literatura de economia institucional produzida nos anos 1990 sob os auspícios, entre outros, do Banco Mundial e do FMI[14].
O salto quântico da dívida pública após 2008, que desfez por completo toda consolidação fiscal porventura alcançada na década anterior, refletiu o fato de que nenhum Estado democrático se atreveu a impor a sua sociedade outra crise econômica da magnitude da Grande Depressão dos anos 1930, como punição para os excessos de um setor financeiro desregulamentado. Mais uma vez, o poder político foi chamado a colocar à disposição recursos futuros a fim de assegurar a paz social do presente, e os Estados, mais ou menos voluntariamente, assumiram a responsabilidade por uma significativa parcela da nova dívida originalmente gerada no setor privado, de modo a tranquilizar os credores privados. Mas se isso efetivamente respaldou as fábricas de dinheiro da indústria financeira, restabelecendo com rapidez seus extraordinários lucros, salários e bonificações, não logrou evitar a desconfiança crescente de parte dos mesmos "mercados financeiros" de que os próprios governos nacionais, no processo de resgatá-los, poderiam ter se expandido além da conta. Mesmo com a crise econômica global longe de seu fim, os credores começaram a exigir ruidosamente um retorno ao equilíbrio monetário por meio de medidas de austeridade fiscal, buscando assegurar-se de que seus investimentos na dívida pública, enormemente ampliados, não seriam perdidos.
Nos três anos após 2008, o conflito distributivo sob o capitalismo democrático se converteu em um cabo de guerra intrincado entre investidores financeiros globais e Estados-nação soberanos. Se no passado trabalhadores disputavam com empregadores, cidadãos com ministros da Economia e devedores privados com bancos privados, as instituições financeiras passaram a enfrentar os mesmos Estados que pouco antes elas haviam chantageado a salvá-las. Mas a configuração subjacente de poderes e interesses se tornou bem mais complexa, e ainda aguarda exame sistemático. Desde o início da crise, por exemplo, os mercados financeiros voltaram a cobrar de diferentes Estados taxas de juros amplamente distintas, aplicando graus diversos de pressão sobre os governos para convencer seus cidadãos a aceitar cortes de gastos sem precedentes - de acordo, mais uma vez, com uma lógica de distribuição centrada no mercado basicamente inalterada. Haja vista o montante da dívida assumida hoje pela maioria dos Estados, até elevações mínimas da taxa de juros dos títulos públicos podem causar um desastre fiscal[15]. Ao mesmo tempo, os mercados precisam evitar impelir os Estados a declarar falência soberana, sempre uma opção para os governos caso as pressões dos mercados se tornem fortes demais. É por isso que há de se encontrar Estados dispostos a socorrer outros que estejam sob maior risco: para se proteger de uma elevação geral das taxas de juros dos títulos públicos que o primeiro calote acarretaria. Uma ordem similar de "solidariedade" entre Estados em favor dos investidores é promovida onde o calote soberano atinge bancos situados fora do país insolvente, o que poderia forçar os países de origem dos bancos a uma vez mais nacionalizar enormes cifras de dívida podre a fim de estabilizar suas economias.
Há ainda outras formas pelas quais a tensão entre as demandas por direitos sociais e as operações dos mercados livres se manifesta hoje no capitalismo democrático. Alguns governos, inclusive a administração Obama, têm tentado retomar o crescimento econômico por meio do endividamento - na esperança de que políticas de consolidação futuras sejam amparadas pelos dividendos desse crescimento. Outros podem estar prevendo em segredo um retorno da inflação, que dissolveria a dívida acumulada mediante uma expropriação suave dos credores - assim como o crescimento econômico, isso atenuaria as tensões políticas decorrentes das medidas de austeridade. Ao mesmo tempo, os mercados financeiros podem estar à espera de uma batalha promissora contra a interferência política, que de uma vez por todas restabeleça a disciplina de mercado e acabe com todas as tentativas políticas de subvertê-la.
Outras complicações provêm do fato de que os mercados financeiros precisam da dívida pública, uma vez que são investimentos seguros: pressionar com demasiado rigor por orçamentos equilibrados pode privá-los de oportunidades altamente desejáveis de investimento. As classes médias dos países capitalistas avançados têm investido boa parte de suas economias em títulos públicos, ao passo que muitos trabalhadores fizeram investimentos pesados em aposentadorias suplementares. Orçamentos equilibrados provavelmente implicariam que os Estados precisariam tirar das suas classes médias, na forma de impostos mais altos, aquilo que elas passaram a poupar e investir, entre outras coisas, na dívida pública. Os cidadãos não só deixariam de auferir juros, mas também não poderiam mais transmitir suas economias aos filhos. Contudo, ainda que isso deva deixá-los interessados em que os Estados fiquem, se não isentos de dívidas, ao menos confiavelmente aptos a cumprir suas obrigações para com seus credores, também pode fazer com que eles tenham de pagar pela liquidez de seus governos na forma de profundos cortes em benefícios e serviços públicos, dos quais em parte também dependem.
Por mais complexas que sejam as clivagens nas diretrizes internacionais para a dívida pública que começam a surgir, o preço da estabilização financeira provavelmente será pago por outros que não os detentores de dinheiro, ou ao menos de dinheiro real. A reforma das aposentadorias públicas, por exemplo, será acelerada por pressões fiscais, e na medida em que governos derem calote em qualquer canto do mundo as aposentadorias privadas serão igualmente atingidas. O cidadão comum irá pagar - pela consolidação das finanças públicas, pela bancarrota de Estados estrangeiros, pelas crescentes taxas de juros da dívida pública e, se necessário, por mais um resgate de bancos nacionais e internacionais - com suas economias particulares, com cortes em benefícios públicos, com redução de serviços públicos e com impostos mais altos.
Deslocamentos sucessivos
Nas quatro décadas desde o fim do crescimento do pós-guerra, o epicentro da tensão tectônica no âmbito do capitalismo democrático migrou de uma localização institucional para outra, ocasionando uma sequência de distúrbios econômicos diferentes mas sistematicamente relacionados. Nos anos 1970, o conflito entre as demandas democráticas por justiça social e as demandas capitalistas por distribuição segundo a produtividade marginal, ou "justiça econômica", se deu primordialmente nos mercados de trabalho nacionais, onde a pressão salarial dos sindicatos, no contexto de regimes de pleno emprego politicamente garantidos, provocou inflação acelerada. Quando aquilo que era, no fundo, uma forma de redistribuição mediante desvalorização da moeda corrente se tornou economicamente insustentável, forçando os governos a extingui-la com um alto risco político, o conflito ressurgiu na arena eleitoral. A partir daí ele ocasionou uma disparidade cada vez maior entre gastos públicos e receitas públicas e por consequência uma dívida pública rapidamente crescente, em resposta a demandas dos eleitores por benefícios e serviços para além daquilo que uma economia capitalista democrática poderia ser capaz de conceder ao seu "Estado taxador"[16].
Quando os esforços para refrear a dívida pública se tornaram inevitáveis, porém, eles tiveram de ser acompanhados, em nome da paz social, por desregulamentação financeira, por meio da facilitação do acesso ao crédito pessoal, como uma rota alternativa a atender demandas - com força normativa e política - dos cidadãos por segurança e prosperidade. Isso também não perdurou muito mais do que uma década até que a economia global quase cambaleasse sob o fardo de promessas irrealistas de pagamento futuro por consumo e investimento no presente, autorizadas pelos governos em contrapartida à austeridade fiscal. Desde então, o embate entre as noções populares de justiça social e a insistência econômica em justiça de mercado uma vez mais mudou de âmbito, dessa vez ressurgindo em mercados de capitais internacionais e nas complexas disputas que ora ocorrem entre instituições financeiras e eleitorados, entre governos e organizações internacionais. A questão agora é até que ponto os Estados poderão ainda impor os direitos de propriedade e as expectativas de lucro dos mercados aos seus cidadãos, ao mesmo tempo evitando ter de declarar bancarrota e resguardando o que ainda possa restar de sua legitimidade democrática.
Transigência com a inflação, aceitação da dívida pública e desregulamentação do crédito pessoal não passam de expedientes temporários para governos defrontados com um conflito aparentemente incoercível entre os dois princípios de alocação contraditórios sob o capitalismo democrático: de um lado direitos sociais, de outro produtividade marginal tal como dimensionada pelo mercado. Esses três expedientes funcionaram por algum tempo, mas logo começaram a causar mais problemas do que resolviam, indicando que uma reconciliação duradoura entre estabilidade social e econômica nas democracias capitalistas é um projeto utópico. Tudo o que os governos conseguiram alcançar ao lidar com as crises de suas épocas foi movê-las para novas arenas, onde reapareceram sob novas formas. Não há nenhum motivo para acreditar que esse processo - a sucessiva manifestação das contradições do capitalismo democrático em variedades de desarranjo econômico sempre novas - tenha terminado.
Desarranjo político
A essa altura, parece evidente que a capacidade de gestão política do capitalismo democrático declinou acentuadamente nos últimos anos, mais em certos países do que em outros mas também de maneira abrangente, no sistema político-econômico global emergente. Em consequência, riscos parecem estar se ampliando, tanto para a democracia quanto para a economia. Desde a Grande Depressão, os formuladores de políticas raras vezes - talvez jamais - depararam com tanta incerteza como hoje. Um exemplo é o fato de que os mercados esperam não só consolidação fiscal mas também, e ao mesmo tempo, prognósticos razoáveis de futuro crescimento econômico. Não é claro como ambas as coisas podem ser combinadas. Embora o prêmio de risco da dívida pública da Irlanda tenha caído quando o país se comprometeu com uma severa redução de seu déficit, algumas semanas depois voltou a subir, presumivelmente porque o programa de consolidação irlandês parecia tão estrito que tornaria a recuperação econômica impossível[17]. Ademais, há uma convicção amplamente compartilhada de que a próxima bolha já está se formando em algum lugar de um mundo mais do que nunca inundado de crédito oferecido a juros baixos. Não se pode mais oferecer créditos hipotecários de alto risco para investimentos, pelo menos não por enquanto. Mas restam ainda os mercados de matérias-primas ou a nova economia da internet. Nada impede que as empresas financeiras se utilizem do excedente de dinheiro proporcionado pelos bancos centrais para ingressar em quaisquer negócios que aparentem ser os novos segmentos em crescimento, em proveito de seus clientes prediletos e, é claro, de si mesmas. Enfim, com o malogro da reforma regulatória do setor financeiro sob quase todos os aspectos os requisitos de capital aumentaram um pouco, e os bancos que eram grandes demais para falir em 2008 também podem contar com essa condição em 2012 ou 2013, o que os deixa com a mesma capacidade de extorquir o mesmo público que tão astuciosamente conseguiram explorar naquele ano. Mas agora pode ser impossível repetir o socorro público ao capitalismo privado nos moldes de 2008, quanto mais não seja porque as finanças públicas já estão esticadas até o limite.
Contudo, na atual crise a democracia está tanto em risco quanto a economia, se não mais. Não só a "integração sistêmica" das sociedades contemporâneas - ou seja, o funcionamento eficaz de suas economias capitalistas - se precarizou, mas também sua "integração social"[18]. Com o advento de uma nova fase de austeridade, a capacidade dos Estados- nação de fazer a mediação entre os direitos dos cidadãos e os requisitos de acumulação de capital foi severamente afetada. Governos de toda parte enfrentam resistência mais forte a aumentos de impostos, particularmente em países altamente endividados, nos quais será preciso gastar dinheiro público novo por muitos anos para pagar bens consumidos há muito tempo. Além disso, com a interdependência global cada vez mais estreita, já não é possível ter a pretensão de que as tensões entre economia e sociedade, entre capitalismo e democracia, podem ser geridas no interior das comunidades políticas nacionais. Hoje nenhum governo pode governar sem prestar detida atenção às obrigações e constrangimentos internacionais, inclusive aqueles dos mercados financeiros que forçam os Estados nacionais a impor sacrifícios à sua população. As crises e as contradições do capitalismo democrático se tornaram definitivamente internacionalizadas, manifestando-se não só dentro dos Estados mas também entre eles, em combinações e permutações inauditas.
Como lemos quase todo dia nos jornais, "os mercados" passaram a ditar por vias sem precedentes o que Estados supostamente soberanos e democráticos ainda podem fazer por seus cidadãos e o que devem lhes recusar. As mesmas agências de classificação de risco sediadas em Manhattan que contribuíram de maneira fundamental para ocasionar o desastre da indústria de dinheiro global agora estão ameaçando rebaixar as notas dos títulos de Estados que aceitaram um grau antes inimaginável de endividamento novo para resgatar aquela indústria e a economia capitalista como um todo. A política ainda restringe e distorce mercados, mas apenas, parece, num plano muito distante da vivência cotidiana e das capacidades organizacionais das pessoas comuns - os Estados Unidos, armados até os dentes não só de porta-aviões mas também de um suprimento ilimitado de cartões de crédito, ainda têm a China para comprar sua dívida ascendente; todos os demais países têm de escutar o que "os mercados" lhes dizem. Desse modo, os cidadãos cada vez mais percebem seus governos não como seus agentes, mas de outros Estados ou de organizações internacionais tais como o FMI ou a União Europeia, incomensuravelmente mais isolados da pressão eleitoral do que era o tradicional Estado-nação. Em países como Grécia e Irlanda, qualquer coisa que se assemelhe a democracia será efetivamente suspensa por muitos anos. Para proceder "responsavelmente", no sentido definido por mercados e instituições internacionais, os governos nacionais terão de impor uma rígida austeridade, a preço de se tornarem cada vez mais irresponsáveis para com seus cidadãos[19].
A democracia não está sendo sequestrada apenas nos países atualmente sob ataque dos "mercados". A Alemanha, que ainda se encontra numa situação econômica relativamente confortável, comprometeu-se com décadas de cortes nos gastos públicos. Além disso, o governo alemão mais uma vez terá de fazer com que os seus cidadãos provenham liquidez para países sob risco de calote, não só para salvar bancos alemães, mas também para estabilizar a moeda comum europeia e evitar um aumento geral da taxa de juros da dívida pública, como é provável que ocorra caso o primeiro país entre em colapso. O alto custo político disso pode ser dimensionado pela queda progressiva do capital eleitoral do governo de Angela Merkel, que redundou numa série de derrotas em importantes eleições regionais ao longo de 2010. A retórica populista, que insinua que talvez os credores também devessem pagar uma parcela dos custos, tal como expressa pela chanceler alemã no início daquele ano, foi prontamente abandonada quando "os mercados" manifestaram seu assombro aumentando ligeiramente a taxa de juros da dívida pública nova. Agora a conversa é sobre a necessidade de passar, nas palavras do ministro da Economia alemão, do antiquado "governo", que não está mais à altura dos novos desafios da globalização, para a "governança", denotando em particular uma permanente redução da autoridade orçamentária do Bundestag[20].
As expectativas políticas ora apresentadas aos Estados democráticos pelos seus novos mandantes podem ser impossíveis de satisfazer. Os mercados e as instituições internacionais exigem que não só os governos como também os cidadãos se comprometam credulamente com a consolidação fiscal. Partidos políticos que se oponham à austeridade precisam ser derrotados de modo retumbante nas eleições nacionais, e tanto o governo como a oposição devem se comprometer publicamente com "finanças sadias", caso contrário o custo do serviço da dívida vai aumentar. Entretanto, pleitos em que os eleitores não tenham nenhuma opção efetiva poderão ser percebidos como inautênticos, o que talvez cause toda sorte de desarranjos políticos, da diminuição do comparecimento às urnas e a ascensão de partidos populistas aos distúrbios nas ruas.
As arenas do conflito distributivo foram se tornando cada vez mais distantes da política popular. Nem os mercados de trabalho nacionais dos anos 1970, com as múltiplas oportunidades que ofereciam para mobilizações políticas corporativistas e coalizões interclasses, nem a política de gastos públicos dos anos 1980 ficavam além da apreensão ou do alcance estratégico do "homem do povo". Desde então, os campos de batalha em que se dá o embate das contradições do capitalismo democrático ficaram cada vez mais complexos, tornando extremamente difícil para qualquer um que não pertença às elites políticas e financeiras reconhecer os interesses subjacentes e identificar seus próprios interesses[21]. Embora esse quadro possa gerar apatia no nível das massas e com isso tornar a vida das elites mais fácil, não se pode contar com isso num mundo em que a aquiescência cega aos investidores financeiros é postulada como o único procedimento racional e responsável. Para aqueles que se recusam a ser dissuadidos de outras racionalidades e responsabilidades sociais, um mundo desses pode parecer simplesmente absurdo - a ponto de que a única conduta racional e responsável seja fazer o maior número de estragos possível na haute finance. Ali onde a democracia tal como a conhecemos está efetivamente suspensa, como em países como Grécia, Irlanda e Portugal, tumultos nas ruas e insurreições populares podem ser o derradeiro modo de expressão política que resta para os desprovidos de poder de mercado. Devemos manter a esperança, em nome da democracia, de que em breve teremos a oportunidade de observar mais alguns exemplos?
As ciências sociais pouco ou nada podem fazer para ajudar a dirimir as tensões e as contradições estruturais subjacentes aos desarranjos econômicos e sociais do momento. O que podem fazer, em todo caso, é lançar luz sobre elas e identificar os encadeamentos históricos por meio dos quais as atuais crises sejam plenamente compreendidas. Também podem - e devem - evidenciar o drama de Estados democráticos que estão sendo transformados em agências de cobrança de dívidas a serviço de uma oligarquia global de investidores, que comparada à "elite do poder" de C. Wright Mills parece um esplêndido exemplo de pluralismo liberal[22]. Mais do que nunca, o poder econômico parece ter se tornado poder político, enquanto os cidadãos parecem estar quase inteiramente despojados de suas defesas democráticas e de sua capacidade de imprimir à economia interesses e demandas que são incomparáveis com os dos detentores de capital. De fato, levando em conta a sucessão das crises do capitalismo democrático desde os anos 1970, parece haver uma possibilidade real de um novo arranjo - mesmo que temporário - do conflito social no capitalismo avançado, desta vez inteiramente a favor das classes proprietárias ora firmemente entrincheiradas em sua fortaleza politicamente indevassável: a indústria financeira internacional.
Notas:
[1] O texto foi apresentado em abril de 2011 nas Max Weber Lectures, promovido pelo European University Institute de Florença. Agradeço a Daniel Mertens por sua assistência de pesquisa.
[2] Sobre a expressão, ver Reinhart, Carmen e Rogoff, Kenneth. This time is different: eight centuries of financial folly. Princeton, Nova Jersey, 2009. [ Links ]
[2] Sobre a expressão, ver Reinhart, Carmen e Rogoff, Kenneth. This time is different: eight centuries of financial folly. Princeton, Nova Jersey, 2009. [ Links ]
[3] A formulação clássica se encontra em Buchanan, James e Tullock, Gordon. The calculus of consent: logical foundations of constitutional democracy. Ann Arbor, Michigan, 1962. [ Links ]
[4] Cf. Thompson, Edward. "The moral economy of the English crowd in the eighteenth century". Past & Present, vol. 50, n. 1, 1971; Scott, James. The moral economy of the peasant: rebellion and subsistence in Southeast Asia. New Haven (Connecticut), 1976. O conteúdo exato de tais direitos obviamente varia entre diferentes contextos sociais e históricos.
[5] In a seminal essay, Michał Kalecki identified the ‘confidence’ of investors as a crucial factor determining economic performance: ‘Political Aspects of Full Employment’, Political Quarterly, vol. 14, no. 4, 1943. Investor confidence, according to Kalecki, depends on the extent to which current profit expectations of capital owners are reliably sanctioned by the distribution of political power and the policies to which it gives rise. Economic dysfunctions—unemployment in Kalecki’s case—ensue when business sees its profit expectations threatened by political interference. ‘Wrong’ policies in this sense result in a loss of business confidence, which in turn may result in what would amount to an investment strike of capital owners. Kalecki’s perspective makes it possible to model a capitalist economy as an interactive game, as distinguished from a natural or machine-like mechanism. In this perspective, the point at which capitalists react adversely to non-market allocation by withdrawing investment need not be seen as fixed and mathematically predictable but may be negotiable. For example, it may be set by a historically changeable level of aspiration or by strategic calculation. This is why predictions based on universalistic, i.e., historically and culturally indifferent, economic models so often fail: they assume fixed parameters where in reality these are socially determined.
[6] Goldthorpe, John. "The current inflation: towards a sociological account". In: Hirsch, Fred e Goldthorpe, John (orgs.). The political economy of inflation. Cambridge (Massachusetts), 1978.
[7] Já nos anos 1950, Anthony Downs notou que nas democracias as demandas dos cidadãos por serviços públicos tendem a exceder a provisão de recursos disponíveis ao governo; cf., por exemplo, "Why the government budget is too small in a democracy". World Politics, vol. 12, n. 4, 1960. Ver também O'Connor, James. "The fiscal crisis of the state". Socialist Revolution, vol. 1, n. 1-2, 1970.
[8] Cf. Krippner, Greta. Capitalizing on crisis: the political origins of the rise of finance. Cambridge (Massachusetts), 2011.
[9] Cf. Spiro, David. The hidden hand of American hegemony: petrodollar recycling and international markets. Ithaca, Nova York, 1999.
[10] Cf. Reich, Robert. Locked in the cabinet. Nova York, 1997.
[11] Stiglitz, Joseph. The roaring nineties: a new history of the world's most prosperous decade. Nova York, 2003. [ Links ]
[12] Crouch, Colin. "Privatised keynesianism: an unacknowledged policy regime". British Journal of Politics and International Relations, vol. 11, n. 3, 2009. [ Links ]
[13] O gráfico mostra a evolução da crise no principal país capitalista, os Estados Unidos, onde as quatro etapas se desdobraram de maneira típico-ideal. Para outros países é preciso fazer ponderações que reflitam suas condições específicas, entre as quais suas posições na economia global. Na Alemanha, por exemplo, a dívida pública começou a se elevar acentuadamente já nos anos 1970. Isso corresponde ao fato de que ali a inflação era baixa muito tempo antes de Volcker, em razão da independência do Bundesbank e das políticas monetaristas por ele adotadas já em 1974 (cf. Scharpf, Fritz. Crisis and choice in European social democracy. Ithaca, 1991).
[14] Para uma coletânea representativa, ver Poterba, James e Von Hagen, Jürgen (orgs.). Institutions, politics and fiscal policy. Chicago, 1999. [ Links ]
[15] Para um Estado com dívida pública correspondente a 100% do pib, um aumento de dois pontos percentuais na taxa média dos juros que ele tem de pagar a seus credores elevaria seu déficit anual na mesma proporção. Um déficit no orçamento corrente de 4% do pib consequentemente aumentaria pela metade.
[16] Schumpeter, Joseph. "The crisis of the tax state" [1918]. In: Swedberg, Richard (org.). The economics and sociology of capitalism. Princeton, 1991. [ Links ]
[17] Em outras palavras, nem mesmo os "mercados" estão dispostos a apostar seu dinheiro no mantra supply-side[da doutrina macroeconômica assim denominada, literalmente "do lado da oferta"], segundo o qual o crescimento é estimulado por cortes nos gastos públicos. Por outro lado, quem poderá dizer quanta dívida nova é suficiente - e quanta é além da conta - para que um país cresça mais rápido do que sua dívida antiga?
[18] Os conceitos foram elaborados por David Lockwood em "Social integration and system integration". In: Zollschan, George e Hirsch, Walter (orgs.). Explorations in social change. Londres, 1964. [ Links ]
[19] Cf. Mair, Peter. Representative versus responsible government. Colônia, 2009 (Max Planck Institute for the Study of Societies, Working Paper 09/8).
[20] "Nós precisamos", afirmou Wolfgang Schäuble (Financial Times, 05/12/2010), "de novas formas de governança internacional, governança global e governança europeia". O ministro reconheceu que se o parlamento alemão fosse solicitado a abrir mão de sua jurisdição sobre o orçamento imediatamente, "não se conseguiria uma votação favorável", mas "se nos dessem alguns meses para trabalhar nisso, e se nos dessem a esperança de que outros Estados-membros também anuiriam, eu veria uma possibilidade". Schäuble estava falando, convenientemente, como vencedor do concurso promovido pelo Financial Times para eleger o ministro da Economia europeu do ano.
[21] Por exemplo, os apelos políticos à "solidariedade" redistributiva são agora dirigidos a nações inteiras, instadas por organismos internacionais a apoiar outras nações inteiras, a exemplo do pedido de que a Eslovênia ajude Irlanda, Grécia e Portugal. Isso escamoteia o fato de que aqueles que estão sendo apoiados por essa espécie de "solidariedade internacional" não são as pessoas do povo, mas sim os bancos, nacionais e estrangeiros, que de outro modo teriam de aceitar perdas ou lucros menores. Também elide diferenças de renda entre as nações: se os alemães são em média mais ricos do que os gregos (ainda que alguns gregos sejam bem mais ricos do que quase todos os alemães), os eslovenos são em média bem mais pobres do que os habitantes da Irlanda, que estatisticamente tem uma renda per capita mais alta do que quase todos os países do euro, inclusive a Alemanha. Essencialmente, o novo alinhamento do conflito traduz conflitos de classes na forma de conflitos internacionais, contrapondo nações que estão sujeitas às mesmas pressões dos mercados financeiros por austeridade pública. Pede-se a cidadãos comuns que demandem "sacrifícios" de outros cidadãos comuns que por acaso são de outros Estados, em vez de demandálos daqueles que há muito tempo voltaram a auferir seus "bônus".
[22] Wright Mills, C. The power elite. Oxford, 1956.
Sobre o autor
[4] Cf. Thompson, Edward. "The moral economy of the English crowd in the eighteenth century". Past & Present, vol. 50, n. 1, 1971; Scott, James. The moral economy of the peasant: rebellion and subsistence in Southeast Asia. New Haven (Connecticut), 1976. O conteúdo exato de tais direitos obviamente varia entre diferentes contextos sociais e históricos.
[5] In a seminal essay, Michał Kalecki identified the ‘confidence’ of investors as a crucial factor determining economic performance: ‘Political Aspects of Full Employment’, Political Quarterly, vol. 14, no. 4, 1943. Investor confidence, according to Kalecki, depends on the extent to which current profit expectations of capital owners are reliably sanctioned by the distribution of political power and the policies to which it gives rise. Economic dysfunctions—unemployment in Kalecki’s case—ensue when business sees its profit expectations threatened by political interference. ‘Wrong’ policies in this sense result in a loss of business confidence, which in turn may result in what would amount to an investment strike of capital owners. Kalecki’s perspective makes it possible to model a capitalist economy as an interactive game, as distinguished from a natural or machine-like mechanism. In this perspective, the point at which capitalists react adversely to non-market allocation by withdrawing investment need not be seen as fixed and mathematically predictable but may be negotiable. For example, it may be set by a historically changeable level of aspiration or by strategic calculation. This is why predictions based on universalistic, i.e., historically and culturally indifferent, economic models so often fail: they assume fixed parameters where in reality these are socially determined.
[6] Goldthorpe, John. "The current inflation: towards a sociological account". In: Hirsch, Fred e Goldthorpe, John (orgs.). The political economy of inflation. Cambridge (Massachusetts), 1978.
[7] Já nos anos 1950, Anthony Downs notou que nas democracias as demandas dos cidadãos por serviços públicos tendem a exceder a provisão de recursos disponíveis ao governo; cf., por exemplo, "Why the government budget is too small in a democracy". World Politics, vol. 12, n. 4, 1960. Ver também O'Connor, James. "The fiscal crisis of the state". Socialist Revolution, vol. 1, n. 1-2, 1970.
[8] Cf. Krippner, Greta. Capitalizing on crisis: the political origins of the rise of finance. Cambridge (Massachusetts), 2011.
[9] Cf. Spiro, David. The hidden hand of American hegemony: petrodollar recycling and international markets. Ithaca, Nova York, 1999.
[10] Cf. Reich, Robert. Locked in the cabinet. Nova York, 1997.
[11] Stiglitz, Joseph. The roaring nineties: a new history of the world's most prosperous decade. Nova York, 2003. [ Links ]
[12] Crouch, Colin. "Privatised keynesianism: an unacknowledged policy regime". British Journal of Politics and International Relations, vol. 11, n. 3, 2009. [ Links ]
[13] O gráfico mostra a evolução da crise no principal país capitalista, os Estados Unidos, onde as quatro etapas se desdobraram de maneira típico-ideal. Para outros países é preciso fazer ponderações que reflitam suas condições específicas, entre as quais suas posições na economia global. Na Alemanha, por exemplo, a dívida pública começou a se elevar acentuadamente já nos anos 1970. Isso corresponde ao fato de que ali a inflação era baixa muito tempo antes de Volcker, em razão da independência do Bundesbank e das políticas monetaristas por ele adotadas já em 1974 (cf. Scharpf, Fritz. Crisis and choice in European social democracy. Ithaca, 1991).
[14] Para uma coletânea representativa, ver Poterba, James e Von Hagen, Jürgen (orgs.). Institutions, politics and fiscal policy. Chicago, 1999. [ Links ]
[15] Para um Estado com dívida pública correspondente a 100% do pib, um aumento de dois pontos percentuais na taxa média dos juros que ele tem de pagar a seus credores elevaria seu déficit anual na mesma proporção. Um déficit no orçamento corrente de 4% do pib consequentemente aumentaria pela metade.
[16] Schumpeter, Joseph. "The crisis of the tax state" [1918]. In: Swedberg, Richard (org.). The economics and sociology of capitalism. Princeton, 1991. [ Links ]
[17] Em outras palavras, nem mesmo os "mercados" estão dispostos a apostar seu dinheiro no mantra supply-side[da doutrina macroeconômica assim denominada, literalmente "do lado da oferta"], segundo o qual o crescimento é estimulado por cortes nos gastos públicos. Por outro lado, quem poderá dizer quanta dívida nova é suficiente - e quanta é além da conta - para que um país cresça mais rápido do que sua dívida antiga?
[18] Os conceitos foram elaborados por David Lockwood em "Social integration and system integration". In: Zollschan, George e Hirsch, Walter (orgs.). Explorations in social change. Londres, 1964. [ Links ]
[19] Cf. Mair, Peter. Representative versus responsible government. Colônia, 2009 (Max Planck Institute for the Study of Societies, Working Paper 09/8).
[20] "Nós precisamos", afirmou Wolfgang Schäuble (Financial Times, 05/12/2010), "de novas formas de governança internacional, governança global e governança europeia". O ministro reconheceu que se o parlamento alemão fosse solicitado a abrir mão de sua jurisdição sobre o orçamento imediatamente, "não se conseguiria uma votação favorável", mas "se nos dessem alguns meses para trabalhar nisso, e se nos dessem a esperança de que outros Estados-membros também anuiriam, eu veria uma possibilidade". Schäuble estava falando, convenientemente, como vencedor do concurso promovido pelo Financial Times para eleger o ministro da Economia europeu do ano.
[21] Por exemplo, os apelos políticos à "solidariedade" redistributiva são agora dirigidos a nações inteiras, instadas por organismos internacionais a apoiar outras nações inteiras, a exemplo do pedido de que a Eslovênia ajude Irlanda, Grécia e Portugal. Isso escamoteia o fato de que aqueles que estão sendo apoiados por essa espécie de "solidariedade internacional" não são as pessoas do povo, mas sim os bancos, nacionais e estrangeiros, que de outro modo teriam de aceitar perdas ou lucros menores. Também elide diferenças de renda entre as nações: se os alemães são em média mais ricos do que os gregos (ainda que alguns gregos sejam bem mais ricos do que quase todos os alemães), os eslovenos são em média bem mais pobres do que os habitantes da Irlanda, que estatisticamente tem uma renda per capita mais alta do que quase todos os países do euro, inclusive a Alemanha. Essencialmente, o novo alinhamento do conflito traduz conflitos de classes na forma de conflitos internacionais, contrapondo nações que estão sujeitas às mesmas pressões dos mercados financeiros por austeridade pública. Pede-se a cidadãos comuns que demandem "sacrifícios" de outros cidadãos comuns que por acaso são de outros Estados, em vez de demandálos daqueles que há muito tempo voltaram a auferir seus "bônus".
[22] Wright Mills, C. The power elite. Oxford, 1956.
Sobre o autor
Wolfgang Streeck é diretor do Instituto Max Planck para o Estudo das Sociedades (Colônia, Alemanha).
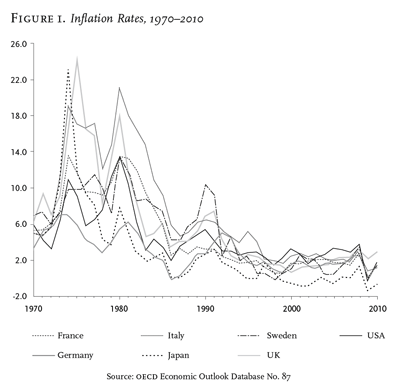
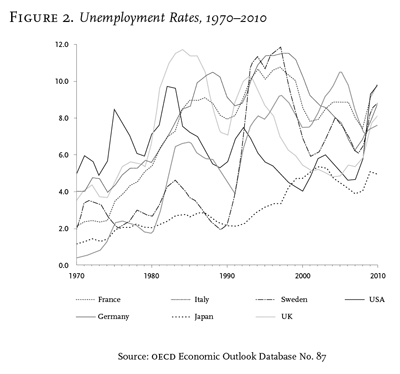
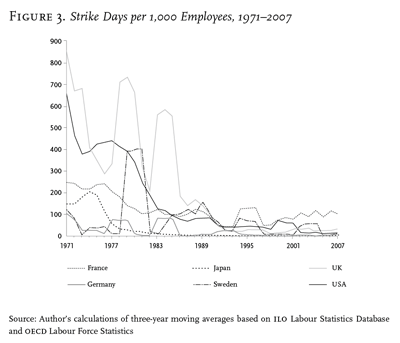
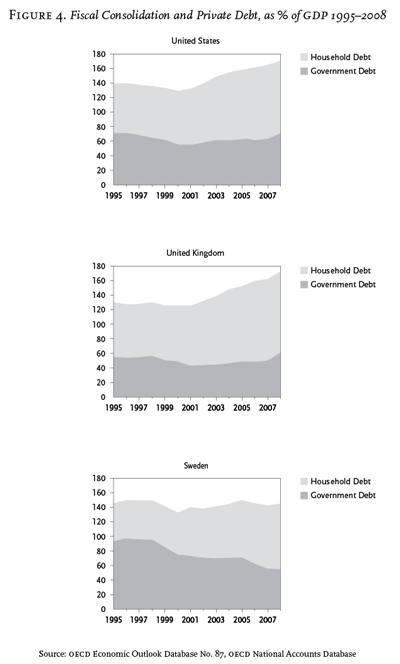
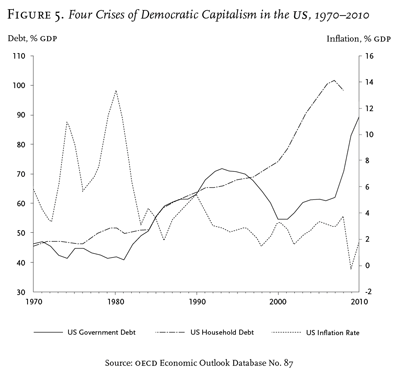




Nenhum comentário:
Postar um comentário