Edward Said
 |
| Vol. 23 No. 24 · 13 December 2001 |
Ibrahim Abu-Lughod, um ex-professor de ciência política na Northwestern University que mais tarde se tornou vice-presidente da Bir Zeit University na Cisjordânia, morreu aos 72 anos em 23 de maio em sua casa em Ramallah, após uma longa doença. Soube de sua morte quando estava saindo do aeroporto de Tel Aviv a caminho de vê-lo. Ele era meu amigo mais antigo e querido, notável como um pensador introspectivo e um professor e líder político carismático, cuja percepção sustentou uma amizade que durou quase cinquenta anos. Havia centenas de enlutados em seu funeral em Jaffa, e no 'azza - o velório - em sua casa e no Qattan Centre em Ramallah. Vários de seus amigos falaram na comemoração, realizada em um teatro em Ramallah no dia seguinte ao seu sepultamento ao lado de seu pai em um cemitério na encosta com vista para a enseada onde ele costumava levar seus visitantes para nadar - sempre se recusando a visitar o café de praia israelense adjacente, que parecia muito convidativo da mesma forma. Um dos oradores no funeral em Jaffa foi Faisal Husseini, que morreria exatamente uma semana depois em um quarto de hotel no Kuwait.
Ibrahim — um homem implacavelmente articulado — será lembrado menos por sua escrita, que era relativamente escassa, do que por sua capacidade de organizar pessoas e estabelecer instituições que lhes permitiam desempenhar um papel mais eficaz do que poderiam ter feito como indivíduos. Na América, ele foi fundamental na fundação da AAUG (Associação de Graduados Universitários Árabes-Americanos), do United Holy Land Fund, do Institute of Arab Studies, do Arab Studies Quarterly e da Medina Press. Ele foi o principal impulsionador da planejada Universidade Aberta Palestina, que deveria ter sua sede em Beirute até que a guerra de 1982 no Líbano acabasse com a ideia. Na Cisjordânia, ele projetou um centro para reforma curricular e, em seguida, o Qattan Center for Research on Education. Mesmo assim, ele parecia saber que a luta pela Palestina não poderia ser vencida nem pela fundação de instituições desse tipo nem mesmo pela repatriação e retorno. Elas eram, no final, estruturas reflexivas e autorreferenciais, e seriam minadas pela desapropriação, luta e perda sem fim. Como um herói conradiano, Ibrahim parecia estar sempre tentando resgatar significado e orgulho dos dramas que aconteciam ao seu redor, bem como de suas próprias fraquezas.
Ninguém sabia melhor do que Ibrahim como transformar os escombros da derrota em algum tipo de conquista. Mas ele nunca se contentou com triunfos puramente morais. Ele era muito realista em sua compreensão do poder militar bruto para ser enganado, por exemplo, pela sobrevivência de Arafat aos cataclismos de Beirute em 1982. "Não temos tanques", ele dizia, "não temos poder real. É por isso que foi tão fácil para os israelenses destruir nossas instituições e matar todas aquelas pessoas."
Conheci Ibrahim em Princeton em 1954. Não havia estudantes estrangeiros na universidade naquela época; nem afro-americanos, nem mulheres: apenas jovens brancos da alta sociedade que receberam uma excelente educação clássica e foram levados a sentir que tinham o direito de governar o mundo. Mais tarde, muitos deles o fizeram. Um morador rico da cidade deu dinheiro ao Departamento de Música para fornecer ingressos para o respeitável programa de concertos de Princeton aos estudantes de pós-graduação. Pediram para eu distribuir os ingressos. Em uma tarde especialmente quente e lenta de setembro, um jovem de maneiras rápidas, olhos azul-esverdeados penetrantes e um forte sotaque entrou, pediu ingressos, me mostrou sua carteira de identidade rapidamente (não tive chance de ver seu nome, apenas de registrar que ele era um estudante de pós-graduação) e então, quando ele estava saindo, virou-se e perguntou qual era meu nome. Quando eu disse novamente, ele voltou para o escritório e me perguntou de onde eu era. Eu disse algo como sou do Egito agora, mas antes eu era da Palestina. Seu rosto se iluminou: Eu também sou da Palestina, ele disse, de Jaffa. Ibrahim estava estudando com Philip Hitti, um imigrante libanês que havia estabelecido um departamento líder de "Estudos Orientais" — significando principalmente história e cultura árabes. Ele me apresentou aos outros estudantes de pós-graduação árabes, e em pouco tempo eu tinha um pequeno grupo de amigos mais velhos com quem eu podia falar árabe e lamentar a presença sionista em Princeton, que foi particularmente evidente durante a crise de Suez.
Ambos retornaram para seus últimos anos aos seus países de origem: Eqbal, um nativo de Bihar, para Islamabad; Ibrahim, um nativo de Jaffa, para Ramallah. Mas eles não voltaram para casa de fato. Ao tentar capturar sua memória, alguém a confina e solidifica, e nesse sentido a trai: o que esses homens representavam era energia, mobilidade, descoberta e risco. Na história que se desenrola na Palestina, Ibrahim, eu acredito, permanecerá um modelo do que é ter se dedicado a uma ideia – não como algo a que se curvar, mas a viver e a reexaminar constantemente. Entendê-lo adequadamente é reencenar o drama da luta e do princípio no qual ele estava envolvido, não copiando-o, mas vivendo-o de novo, e ao fazê-lo, deixando-o aberto para revisão futura e reflexão crítica.
De todas as formas, a vida rica de Ibrahim e sua morte refletiram e esclareceram a turbulência e o sofrimento que estiveram no cerne da experiência palestina: é por isso que sua vida merece escrutínio. Muito nela confirma a situação palestina em toda a sua irresolução. A única coisa que pareceu se destacar para todos na época de sua morte foi que Abu-Lughod havia encenado seu próprio direito privado de retorno a Jaffa, algo que somente uma pessoa com sua extraordinária vontade poderia ter feito. Ninguém deixou de comentar sobre o fato de seu retorno à Palestina em 1992, após uma ausência de 44 anos, nem sobre a década que ele passou lá completando sua vida como professor, intelectual público e fundador de instituições.
Apesar dessa conclusão teatral, uma vasta instabilidade permaneceu. Ele ainda estava insatisfeito e inquieto. O retorno não o mudou, embora ele estivesse mais contente em casa do que no exílio. Para ele, a Palestina era um interrogatório que nunca é respondido completamente - ou mesmo articulado adequadamente. Tudo em sua personalidade confirmava essa inquietação, desde sua sociabilidade até sua introspecção temperamental, desde seu otimismo e energia até o sentimento imobilizador de impotência que reivindicou tantos de nós. Sua vida expressa simultaneamente derrota e triunfo, abjeção e realização, resignação e determinação. Em suma, era uma versão da Palestina, vivida em toda sua complexidade por um dos melhores palestinos de nosso tempo.
Ibrahim — um homem implacavelmente articulado — será lembrado menos por sua escrita, que era relativamente escassa, do que por sua capacidade de organizar pessoas e estabelecer instituições que lhes permitiam desempenhar um papel mais eficaz do que poderiam ter feito como indivíduos. Na América, ele foi fundamental na fundação da AAUG (Associação de Graduados Universitários Árabes-Americanos), do United Holy Land Fund, do Institute of Arab Studies, do Arab Studies Quarterly e da Medina Press. Ele foi o principal impulsionador da planejada Universidade Aberta Palestina, que deveria ter sua sede em Beirute até que a guerra de 1982 no Líbano acabasse com a ideia. Na Cisjordânia, ele projetou um centro para reforma curricular e, em seguida, o Qattan Center for Research on Education. Mesmo assim, ele parecia saber que a luta pela Palestina não poderia ser vencida nem pela fundação de instituições desse tipo nem mesmo pela repatriação e retorno. Elas eram, no final, estruturas reflexivas e autorreferenciais, e seriam minadas pela desapropriação, luta e perda sem fim. Como um herói conradiano, Ibrahim parecia estar sempre tentando resgatar significado e orgulho dos dramas que aconteciam ao seu redor, bem como de suas próprias fraquezas.
Considere os dramas que cercaram sua vida. Na época de sua morte, uma intifada poderosa, mas sem direção, estava se desenrolando do lado de fora de sua janela. Em 1982, foi o cerco de Beirute, cujos resultados foram os massacres de Sabra e Shatila e a evacuação do Líbano (tanto dele quanto da OLP); em 1948, foi a queda de Jaffa, a dispersão de sua família, o início de seu longo exílio americano e sua franqueza na defesa da causa palestina; eventualmente, em 1992, seu retorno abrupto à Cisjordânia. Quase todo árabe-americano que luta contra os estereótipos raciais, o racismo ideológico sofrido pelos palestinos e o antagonismo perene ao islamismo, deve a Ibrahim uma dívida tremenda. Ele começou a luta e, para a maioria de nós, ele tornou a luta possível em primeiro lugar.
Depois de quase quarenta anos de luta na América do Norte, houve de fato algum tipo de retorno – ou ‘awda – mas ele trouxe Ibrahim de volta apenas a um substituto falho: não a uma Palestina libertada, mas à Área A de Oslo e, com seu passaporte americano, a uma Jaffa muito sob controle israelense. Ele teria sido o primeiro a notar que o retorno palestino estava sujeito ao poder israelense mesmo na época de sua morte (pessoal anônimo da inteligência ameaçou cancelar seu funeral), assim como ele foi o primeiro a notar que em 1988 o Conselho Nacional Palestino e a OLP haviam se transformado de um movimento de libertação em um movimento de independência nacional – algo muito menor, como Oslo revelaria.
Ninguém sabia melhor do que Ibrahim como transformar os escombros da derrota em algum tipo de conquista. Mas ele nunca se contentou com triunfos puramente morais. Ele era muito realista em sua compreensão do poder militar bruto para ser enganado, por exemplo, pela sobrevivência de Arafat aos cataclismos de Beirute em 1982. "Não temos tanques", ele dizia, "não temos poder real. É por isso que foi tão fácil para os israelenses destruir nossas instituições e matar todas aquelas pessoas."
Conheci Ibrahim em Princeton em 1954. Não havia estudantes estrangeiros na universidade naquela época; nem afro-americanos, nem mulheres: apenas jovens brancos da alta sociedade que receberam uma excelente educação clássica e foram levados a sentir que tinham o direito de governar o mundo. Mais tarde, muitos deles o fizeram. Um morador rico da cidade deu dinheiro ao Departamento de Música para fornecer ingressos para o respeitável programa de concertos de Princeton aos estudantes de pós-graduação. Pediram para eu distribuir os ingressos. Em uma tarde especialmente quente e lenta de setembro, um jovem de maneiras rápidas, olhos azul-esverdeados penetrantes e um forte sotaque entrou, pediu ingressos, me mostrou sua carteira de identidade rapidamente (não tive chance de ver seu nome, apenas de registrar que ele era um estudante de pós-graduação) e então, quando ele estava saindo, virou-se e perguntou qual era meu nome. Quando eu disse novamente, ele voltou para o escritório e me perguntou de onde eu era. Eu disse algo como sou do Egito agora, mas antes eu era da Palestina. Seu rosto se iluminou: Eu também sou da Palestina, ele disse, de Jaffa. Ibrahim estava estudando com Philip Hitti, um imigrante libanês que havia estabelecido um departamento líder de "Estudos Orientais" — significando principalmente história e cultura árabes. Ele me apresentou aos outros estudantes de pós-graduação árabes, e em pouco tempo eu tinha um pequeno grupo de amigos mais velhos com quem eu podia falar árabe e lamentar a presença sionista em Princeton, que foi particularmente evidente durante a crise de Suez.
Nós dois deixamos Princeton em 1957 — ele com um PhD, eu com um BA — e voltei para o Egito por um ano. Eu via Ibrahim e sua esposa Janet regularmente no Cairo, onde ele estava trabalhando para a Unesco. Naquela época, havia poucos sinais das atividades políticas que estavam reservadas para nós dois. Eu fui para a pós-graduação em Harvard e via os Abu-Lughods com menos frequência, embora eu soubesse que eles tinham retornado aos EUA para começar suas carreiras de ensino. Então, o raio de 1967 nos atingiu e, inesperadamente, Ibrahim me enviou uma carta perguntando se eu contribuiria para uma edição especial do Arab World, o periódico mensal da Liga Árabe publicado em Nova York, editado por ele como convidado, e pretendia olhar para a guerra de uma perspectiva árabe. Aproveitei a ocasião para olhar para a imagem dos árabes na mídia, literatura popular e representações culturais que remontam à Idade Média. Esta foi a origem do meu livro Orientalism, que dediquei a Janet e Ibrahim.
Nos anos que se seguiram, embora os Abu-Lughods vivessem em Chicago e eu em Nova York, nos tornamos mais próximos, atraídos pela política. Testemunhamos no Congresso, nos encontramos com George Shultz em 1988, criamos o Instituto de Estudos Árabes em Boston, criamos o Arab Studies Quarterly e participamos de sessões do Conselho Nacional Palestino no Cairo, Amã e Argel. Durante aqueles anos de grande atividade, Ibrahim demonstrou um gênio para descobrir indivíduos talentosos nos EUA e no mundo árabe, a quem ele apresentou uns aos outros e ajudou a trabalhar juntos. Em junho de 1982, após um ano em Paris, ele se mudou para Beirute para iniciar a Universidade Aberta Palestina, na qual havia trabalhado com a Unesco e a OLP. Dois dias após sua chegada, as IDF invadiram o Líbano e, quase imediatamente depois disso, seu novo apartamento foi destruído por um foguete israelense. Ele passou os dois meses seguintes sitiado em Beirute, morando na casa da minha mãe com seu bom amigo Soheil Miarri. Nós nos comunicamos regularmente durante aquelas semanas difíceis, na maioria das vezes a pedido de Arafat, que usou várias pessoas, inclusive eu, como intermediários com a Administração dos EUA.
Beirute foi talvez uma experiência mais importante para Ibrahim do que qualquer outra antes ou depois. Ensinou-lhe, em primeiro lugar, que mesmo as melhores instituições podem ser minadas pela mediocridade e pela instabilidade brutal da política e da sociedade no Oriente Médio. Em segundo lugar, ensinou-lhe a dinâmica real do poder, tanto no que diz respeito a quem o tem, quanto a quem não o tem. Terceiro, e talvez o mais importante, ensinou-lhe que sempre se pode seguir em frente, mesmo que o fracasso se aproxime. Esse era o verdadeiro Ibrahim: o homem que entendia que a única coisa era seguir em frente, permanecendo otimista e leal aos seus camaradas (e aproveitando ao máximo o seu senso de humor, por mais macabro que fosse).
De vez em quando ele me dizia: somos medíocres, Edward, medíocres, e no final talvez essa mediocridade seja o que vai derrotar os israelenses, apesar de todo o seu brilhantismo. Mas ele sempre acrescentava: somos um povo bom, e teimosos também, mesmo que nem sempre sejamos muito inteligentes. O que o incomodava tanto em Oslo eram as indignidades que isso acarretava para os palestinos. A postura obsequiosa e palhaça de Arafat nos perturbava muito, e tínhamos muita vergonha de termos sido enganados por ele antes de Oslo. Ao contrário de mim, Ibrahim queria estar na parte da Palestina que Oslo havia escavado e parcialmente arrancado dos israelenses — a Área A — e era lá que ele colocava a si mesmo, seus colegas e seus alunos para trabalhar.
Ibrahim acreditava em padrões acadêmicos e intelectuais, seja na cultura árabe ou no Ocidente. Ele ficava exultante quando encontrava alguém em quem discernia promessa ou talento, porque isso lhe daria uma oportunidade de revelar o que estava escondido e fazê-lo brilhar. Há muitas pessoas — eu sou uma delas — que sentem que foram descobertas, apreciadas e subsequentemente alistadas nas fileiras por Ibrahim. Ele era o maior dos encorajadores, protetores, patrocinadores. Não havia nada como um elogio dele (‘você foi ótimo’), e nada tão definitivo quanto quando ele menosprezava alguém (‘ele é um idiota’, o ‘j’ pronunciado com uma forte nota Jaffa). Como professor, ele estava dividido entre o desejo de influenciar e dominar e o desejo de que a igualdade prevalecesse. Como pai de três filhas talentosas e marido de um estudioso muito talentoso, ele era mais tolerante com as mulheres do que o normal para um árabe ou para um homem ocidental. Mesmo quando ele estava sendo paternal, havia uma qualidade fraternal no monitoramento, e você raramente tinha a sensação de que ele era um tirano — embora ele pudesse afetar uma maneira tirânica, geralmente com um propósito muito bom. Havia um coração gentil por trás da certeza estrondosa.
Como muitos de nós, ele nunca se recuperou realmente da perda da Palestina, e seus primeiros dias como refugiado o marcaram indelevelmente. Memórias daquela época, embora nunca explicitadas, pareciam sempre fazer parte de sua raiva com Israel; e ele entendeu que nossa luta seria longa e complexa e não nos daria autodeterminação em nossa vida. De uma forma ou de outra, "a transformação da Palestina" (o título de sua coleção de ensaios mais conhecida e um eufemismo para o roubo do país pelo sionismo) dominou o trabalho de sua vida, mas ele não era um militante irracional, mas sim um intelectual ferozmente independente, muitas vezes corrosivamente crítico. Apesar do fato de que profissionalmente e pessoalmente ele sempre estava trabalhando pela causa, você nunca poderia descrevê-lo como um profissional. Ele era muito amador, movido por amor e comprometimento.
Ibrahim me apresentou ao assunto e à experiência, por assim dizer, da Palestina. Sete anos mais velho que eu, e mais inserido na vida da Palestina Mandatária, ele despertou em mim e em muitos outros o desejo de recapturar memórias há muito enterradas de nossos primeiros dias, antes que a nakba mudasse tudo. Ele tinha um conhecimento enorme, meticulosamente acumulado e articulado de nossa história, bem como uma memória viva de onde tudo e todos vieram, para onde foram, onde estavam vivendo agora ou quando desapareceram.
Jaffa deve ter sido um lugar notável na década de 1940. A escola de Ibrahim, a Amariye, produziu uma coleção surpreendente de adolescentes, que continuaram como refugiados para levar vidas de distinção como ativistas, acadêmicos e empresários. Ibrahim me apresentou a essas pessoas e elas se tornaram amigas íntimas. Entre eles estão seu amigo aventureiro, o fiel orador e membro da OLP Shafik el-Hout, que nunca deixou seu posto em Beirute, mesmo durante a ocupação israelense da cidade no outono de 1982, mas renunciou ao Comitê Executivo como resultado de seu profundo desacordo com Arafat sobre Oslo; e Abdel Mohsen al Qattan, um empresário bem-sucedido, que gastou grande parte de sua fortuna ajudando os palestinos a construir instituições e, como Shafik e Ibrahim, tem criticado abertamente Oslo.
Ibrahim acompanhou suas vidas com o zelo de um cronista medieval. Em reuniões do Conselho Nacional, ou durante encontros na Associação de Bem-Estar, ele me apresentava a um círculo cada vez maior de palestinos, de cujas vidas ele conseguia extrair, na presença um pouco envergonhada dos próprios indivíduos, uma quantidade incrível de informações aprendidas e homilia útil. Professores, advogados, acadêmicos, bancários e engenheiros o apreciavam como parte concreta da história da Palestina. Você podia senti-lo recusando sua evanescência conforme sua história se desenrolava, outro traço conradiano que dava profundidade a tudo o que ele dizia.
Foi Ibrahim quem apresentou os árabes na América ao mundo das lutas de libertação nacional e da política pós-colonial. Longe de ser um nacionalista palestino provinciano, ele tinha uma ampla perspectiva alimentada por uma ambição invejável de ver o mundo inteiro. Ele falava de forma emocionante sobre lugares que eu nunca tinha pensado em visitar, incluindo Peru, China e Rússia. Ele amava estar na cidade grande e frequentemente passava um tempo em Paris, Cairo e Chicago. Mais importante, ele estava alerta para o potencial — e os limites — da capacidade das pessoas de ajudar a causa da Palestina. Uma década antes de mim, por exemplo, ele entendeu que C.L.R. James se via como um ocidental e não conseguia se identificar facilmente com os árabes. Da mesma forma, como diretor do Programa de Estudos Africanos da Universidade Northwestern, ele tinha um conhecimento impressionante dos movimentos de libertação da África, muitos dos quais ele conhecia e convidou para a Northwestern. Ele estava anos à frente de seu tempo ao apreciar figuras como Amílcar Cabral e Oliver Tambo, ao distinguir seus movimentos e o tipo de colonialismo ou sistema de opressão contra o qual lutavam, bem como ao encontrar paralelos com a situação na Palestina. Por meio dele, também se encontravam as grandes figuras do discurso nacionalista árabe, como Mohammed Hassanein Haykal e Munif el Razzaz.
Foi graças a Ibrahim que, em 1970, conheci Eqbal Ahmad, o outro camarada de armas cuja morte prematura me deixou tão diminuído. Como Ibrahim, Eqbal era (para usar um dos mais altos termos de elogio de Ibrahim) asil, um "autêntico", com o mesmo dom de eloquência infinitamente fértil e incansável. Ficar acordado até tarde da noite com os dois era ser lentamente intimidado ao silêncio, enquanto eles desenvolviam longas dissertações, análises eruditas e até mesmo arcanas, nunca totalmente livres de zelo competitivo. Nenhum dos meus gurus foi mesquinho com seu tempo, e nenhum deles — talvez pelo mesmo motivo — se importava muito com a relativa parcimônia da impressão. Estilistas da palavra proferida, plurilíngues, generosos com ideias e histórias, eles me sustentaram durante minha doença de maneiras que o constrangimento me impede de relatar aqui. O que me consterna é que eles deveriam ter morrido antes de mim — principalmente agora, quando suas vozes teriam sido tão reveladoras e humanamente informativas.
Escrevendo sobre Eqbal na época de sua morte, dois anos atrás, e agora sobre Ibrahim, achei difícil dar conta de suas realizações essencialmente performáticas. Ambos os homens deixaram uma impressão duradoura em todos que conheceram; seu memorial não está incorporado em um corpo de trabalho, no entanto, mas espalhado por várias sociedades, grupos, associações e famílias, todos os quais foram alterados visivelmente, e imperceptivelmente, pela natureza desses homens e suas realizações.
Ambos retornaram para seus últimos anos aos seus países de origem: Eqbal, um nativo de Bihar, para Islamabad; Ibrahim, um nativo de Jaffa, para Ramallah. Mas eles não voltaram para casa de fato. Ao tentar capturar sua memória, alguém a confina e solidifica, e nesse sentido a trai: o que esses homens representavam era energia, mobilidade, descoberta e risco. Na história que se desenrola na Palestina, Ibrahim, eu acredito, permanecerá um modelo do que é ter se dedicado a uma ideia – não como algo a que se curvar, mas a viver e a reexaminar constantemente. Entendê-lo adequadamente é reencenar o drama da luta e do princípio no qual ele estava envolvido, não copiando-o, mas vivendo-o de novo, e ao fazê-lo, deixando-o aberto para revisão futura e reflexão crítica.


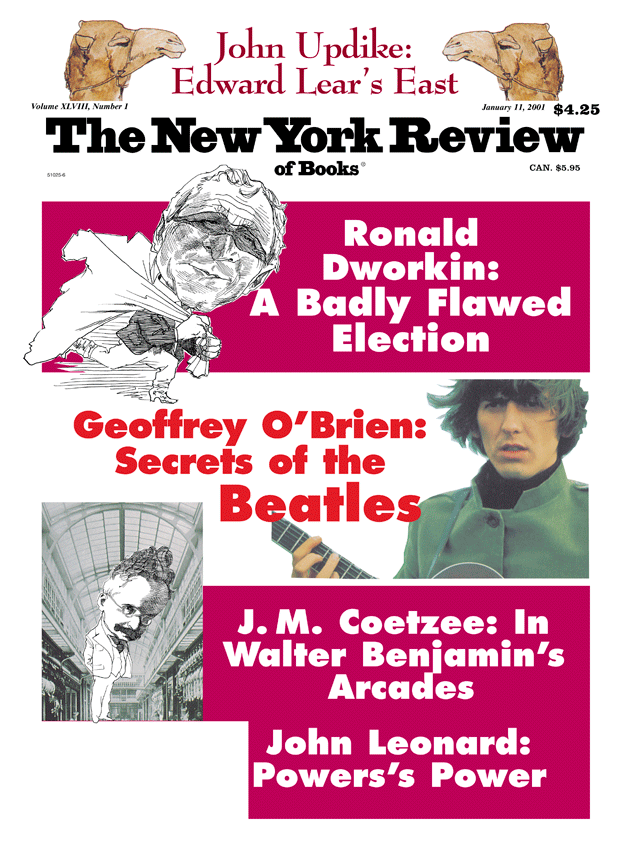

.jpeg)
