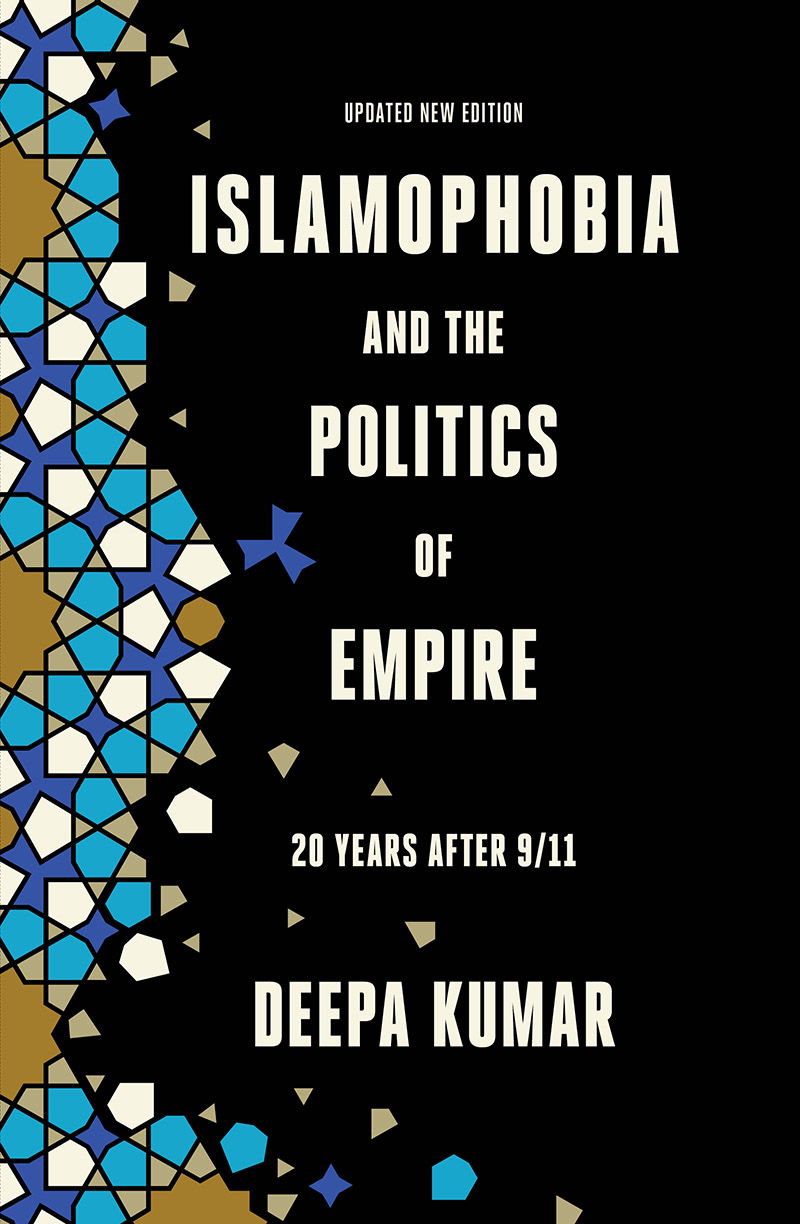Confrontando a perspectiva de classe difundida na esquerda por pensadores como Thomas Piketty e Guy Standing, sociólogo estadunidense explica o que classe, socialismo e marxismo significam no século XXI.
Uma entrevista com
Erik Olin Wright
Entrevistado por
Mike Beggs
 |
| Biblioteca DeGolyer, Universidade Metodista do Sul / Flickr |
Tradução / Quando Erik Olin Wright (1947-2019) “caiu no marxismo” na década de 1970, essa era a única escolha para um intelectual radical sério.
Já na década de 1990 não era mais assim. Entretanto, mesmo com o marxismo recuando para as margens dentro e fora das universidades, Wright escolheu ficar. Ele decidiu reconstruir um marxismo sociológico, tratando-o não como um conjunto de idéias fixas ou como um método idiossincrático, mas como um conjunto distinto de questões e um aparato conceitual para respondê-las.
O marxismo de Wright é uma ciência social comum, mas orientada pela busca do socialismo.
Seu trabalho ao longo de mais de quarenta anos se concentrou em repensar duas partes centrais da tradição marxista: as classes e as estratégias de transformação social. Seu livro de 2015, “
Compreendendo a Classe“, apresenta a sua própria abordagem sobre classe em oposição a intelectuais como Thomas Piketty e Guy Standing; e o ebook
Alternativas ao Capitalismo, em que registra um debate com Robin Hahnel, mostra o seu pensamento sobre as possibilidades socialistas.
Em uma visita à Austrália, Wright conversou com o editor da Jacobin, Mike Beggs, para discutir de tudo – desde Weber e Marx até mercados e suas opiniões sobre estratégias de esquerda.
No começo deste ano, Erik Olin Wright sucumbiu a uma doença grave (leucemia) que interrompeu uma respeitável, e ainda promissora, carreira teórica. A morte de Wright não é o fim da sua crítica ao capitalismo ou à críticas que ele, que não fugia ao debate, pode ainda receber. Esta entrevista não é um epitáfio, destinado ao esquecimento pelo tempo, mas um olhar para um futuro: o fim da exploração de classe e a interrupção da destruição do meio ambiente, que coloca em risco todas as formas de vida. Pensando nisso, publicamos a entrevista na íntegra por entender que este é um grande legado socialista: olhar sempre para a vida.
Mike Beggs:
Vamos começar com a questão de por que a classe é importante. David Grusky coloca essa questão sem rodeios, argumentando que num sentido macro a classe seria apenas uma construção acadêmica. Qual é sua resposta?
Erik Olin Wright: Não concordo com a afirmação de que ela não seria uma categoria real. Acho que a resposta para a pergunta “a classe se trata de uma categoria real?” deveria ser outra pergunta: “ela identifica mecanismos reais que possuem força causal na vida das pessoas, independentemente dos próprios atores reconhecerem ou não essa força causal ou das categorias legais traçarem ou não limites em torno desses mecanismos?”
A alegação marxista é que as relações sociais dentro de um sistema de produção identificam mecanismos reais que dão forma às vidas das pessoas; que elas definem um terreno de conflito; e que o cerne desses mecanismos é uma combinação de exploração e dominação. Estas são as duas palavras usadas para caracterizar os mecanismos específicos que as classes (no sentido marxista) identificam como relevantes num sentido causal.
Assim, a afirmação de Grusky de que a classe não seria real precisa ser a afirmação de que a exploração e a dominação não são reais, de que são apenas invenções da imaginação do analista. Acredito que esse é um diagnóstico palpavelmente incorreto sobre a natureza das sociedades capitalistas.
A afirmação de que a exploração e a dominação são mecanismos existentes é diferente de se dizer que elas explicam toda a gama de fenômenos observáveis e concretos que são do interesse daqueles que fazem análise de classe.
Pegue a consciência das pessoas. Como as pessoas vêem o mundo? Como os atores entendem sua condição? Será que a dominação e a exploração, e a localização das pessoas em relação a esses mecanismos, realmente explicam a consciência das pessoas?
Bem, não. A classe, por si só, nunca explicou a consciência – a consciência é moldada por muitos tipos de outras coisas além dos mecanismos particulares incluídos no conceito de classe.
Se tudo o que te importa for o poder explanatório desses elementos específicos que explicam a consciência, então você teria de dizer: “Não, a classe em si não é o elemento mais importante”. Mas é claro, essa é uma maneira extremamente estreita e limitada de se entender a relevância desses conceitos e o seu poder explicativo.
Mike Beggs:
A ideia de que a classe é importante – ou pelo menos, de que a desigualdade é importante – agora parece ser uma posição dominante novamente, desde a crise de 2008, desde o Occupy Wall Street, desde Piketty. Você é crítico sobre algumas abordagens de “senso comum” sobre a desigualdade, nas quais ela é discutida em termos de como as pessoas são classificadas em determinadas posições. O que você acha que está faltando nessa visão?
Erik Olin Wright: O que está faltando é uma explicação de por que existem esses tipos de posições disponíveis para as pessoas serem classificadas e por que as posições disponíveis possuem as propriedades que possuem.
Uma coisa é dizer que o capital cultural, o capital social e o capital educacional permitem que você se torne um administrador em uma empresa multinacional e que seja promovido até, eventualmente, se tornar um CEO. Mas por que existem cargos de CEO disponíveis para que essa promoção aconteça? E, se esses cargos estão disponíveis, por que eles possuem uma renda anual quatrocentas vezes maior que a renda dos trabalhadores, e não de vinte vezes ou de seis vezes a renda dos trabalhadores?
Como se explica a natureza das posições nas quais as pessoas são classificadas?
Houve um tempo em que um termo específico era usado para descrever esse fato. As posições de classe eram referidas como “espaços vazios” nos quais as pessoas são classificadas – ao contrário da visão de que as pessoas carregam nas costas as suas posições de classe, que seriam um atributo das próprias pessoas.
Agora, é claro, há um entrelaçamento dos atributos das pessoas com os atributos das posições em uma estrutura de classe estável e bem ordenada, mas os atributos das pessoas e os atributos dessas posições são distintos. A análise de classe na tradição marxista é sobre a explicar as próprias posições.
Mike Beggs:
Você sugere que tanto a abordagem marxista quanto a weberiana sobre a classe têm algo a dizer sobre a estrutura das posições em si. No entanto, as abordagens marxista e weberiana têm sido freqüentemente colocadas uma contra a outra.
Erik Olin Wright: Para quem não está familiarizado com Weber, tem uma coisa interessante que pode fazer: ler o apêndice do
seu livro do final dos anos 1890, A Sociologia Agrária das Civilizações Antigas. O apêndice contém um longo ensaio sobre o colapso do Império Romano e sobre porque a economia escravista eventualmente acabou por involuir e minar a reprodução da sociedade romana.
Se eu desse esse ensaio para meus estudantes de doutorado mais espertos e se eles não soubessem quem o escreveu, e eu dissesse: “Me dê um diagnóstico sobre a classificação teórica deste capítulo”, eles diriam: “É claramente marxista”. A visão de Weber sobre classe tem um caráter muito marxista.
Weber em geral enxerga muito bem as classes dentro do capitalismo como sendo sistematicamente estruturadas pelos direitos de propriedade. É isso o que ele vê como eixo central das relações de classe: o capitalista e o trabalhador. Essas duas categorias são o coração da sua análise de classe.
A diferença entre Marx e Weber é que Weber considera que os sistemas de dominação e desigualdade anteriores ao capitalismo eram baseados no status e não em classes, então ele vê a análise de classe como algo apropriado apenas para o capitalismo, e não como uma forma de entender, ao longo dos períodos históricos, as enormes variações na estruturação da dominação e da exploração.
Na análise de classe no interior do capitalismo, há também algumas diferenças importantes entre Marx e Weber, especialmente na maneira como Weber ignora o problema da exploração. Entretanto, a distinção crucial entre essas tradições é que a análise de classe marxista sobre o capitalismo está ancorada em uma proposição muito ousada: de que existe uma alternativa ao capitalismo.
O objetivo central da análise de classe no marxismo é esclarecer as condições para a transcendência do capitalismo e a criação de uma alternativa socialista. Se você abandonar o socialismo como uma alternativa ao capitalismo, quase não há mais sentido em se ser marxista. Ainda haveria algumas idéias marxistas que poderiam ser úteis; mas o anticapitalismo é o objetivo fundamental da análise marxista sobre a classe. Claramente esse não é o caso para Weber.
O propósito da análise de classe em Weber é entender as variações dentro do capitalismo. A análise de Weber é sobre como as classes são constituídas na sociedade capitalista e sobre como vários tipos de direitos de propriedade ajudam a estruturar as relações de classe em termos das chances e oportunidades de vida que estão abertas ou bloqueadas.
Se você estiver interessado nas variedades do capitalismo e em compreender como as estruturas de classe variam dentro desse sistema, as categorias weberianas são bastante flexíveis para isso. Elas possuem muitas possibilidades de subdivisões com base na natureza dos contratos de trabalho, na natureza da formação técnica dos trabalhadores; todas essas subdivisões criam diferentes capacidades de mercado, e diferentes tipos de capitalismo validam ou minam essas capacidades.
Portanto, a análise de classe marxista nos ajuda a entender os grandes contrastes de época e o desafio ao capitalismo a partir da possibilidade de uma alternativa. A análise de classe weberiana nos ajuda a entender as variações dentro do capitalismo.
A razão pela qual acredito que ambas são compatíveis é porque os marxistas também estão preocupados com variações no interior do capitalismo e, quando estudam isso, soam terrivelmente weberianos. Eles invocam os mesmos tipos de questões: capitalismo organizado versus capitalismo desorganizado; capitalismo com um forte movimento trabalhista que oferece direitos trabalhistas garantidos versus capitalismo com um movimento trabalhista desorganizado, e assim por diante.
Mike Beggs: Diversas vezes você tem defendido que o marxismo não deveria ser distinguido por uma metodologia especial. Você pode elaborar sobre isso?
Erik Olin Wright: Não é impensável que os marxistas tenham descoberto alguma nova metodologia que realmente ajude a identificar mecanismos causais reais, sobre a qual ninguém havia falado ainda. É possível. Então, não quero dizer que o marxismo não poderia ter uma metodologia distinta. Mas se ele de fato descobriu uma nova metodologia, ela seria uma nova metodologia científica que todos deveriam adotar.
Não há razão para que exista alguma metodologia esotérica peculiar que seria necessária para se analisar esses problemas, e que não seria necessária para todos os outros.
Assim, se “dialética” significar algo coerente, se ela for útil para se compreender as transformações de sistemas, então ela será útil para se compreender qualquer coisa em que existam sistemas. Quando tento entender ideias como “dialética” ou “contradições” e tento dar precisão a elas, não pode ser algo como: “Para cada tese, há uma antítese, das quais surge uma síntese.”
Por que esse deveria ser o caso? Por acaso existe alguma lei subjacente na natureza que diz que, onde quer que haja uma tese, tem de haver uma antítese das quais surja uma síntese? Não. Onde existem certos tipos de processos causais, eles podem, por razões que precisam ser explicadas, desencadear formas de resistência e de oposição; desse conflito surge algum tipo de nova resolução. Se esse for um bom argumento, é um argumento sobre mecanismos. Isso não fica claro quando se invoca uma expressão como “dialética”.
Penso que todas as teses substanciais do marxismo que possuem credibilidade podem ser formuladas como explicações científicas realistas comuns – como processos causais: Existem mecanismos subjacentes que geram efeitos e esses mecanismos interagem entre si.
Os mecanismos não estão isolados; não estão hermeticamente fechados; eles interagem; a partir dessa interação de processos causais, surgem os fenômenos que observamos no mundo. A complexidade é que tudo isso está ocorrendo no contexto da consciência e da agência humana, no qual as pessoas observam o mundo e o interpretam – isso é parte do processo. O que significa “dialética”, então?
Uma formulação sociológica é aquilo que é chamado de “problema da estrutura-agência“. O problema da estrutura-agência não é um problema esotérico e obscuro; ele significa simplesmente que os seres humanos nascem em mundos sociais já existentes, que restringem suas ações.
Parece óbvio – como alguém poderia se opor a isso? Não há sociólogo que já tenha vivido que não perceba que os bebês nascem em mundos nos quais já existem relações sociais que não são criadas por eles.
No entanto, as pessoas crescem, se tornam agentes conscientes e se engajam em práticas que geram essas mesmas relações. As pessoas são atores condicionados pelas relações, mas suas ações afetam essas relações. Esse não é exatamente o problema da estrutura-agência?
Não é nada demais – é apenas senso comum sociológico. Só que também há algo mais, porque essa é a relação que torna possível as mudanças sociais conscientes e deliberadas, que é o propósito de uma análise marxista.
Para citar Marx, a questão não é apenas interpretar o mundo, mas transformá-lo. Essa afirmação não faria sentido se a estratégia para isso for impossível. Tem que haver agência, mas também não faria sentido se essa ação não confrontasse as estruturas que precisam de transformação. A ideia de que temos que mudar o mundo significa que há um mundo a ser mudado, independente da nossa vontade de mudá-lo. É disso que se trata o problema de estrutura-agência, e acredito que é disso que precisa se tratar a “dialética”- senão não sei o que esse termo significa.
Mike Beggs:
Você pode nos dizer o que significa o “marxismo analítico” para você, e se essa ainda é uma descrição útil de uma tendência viva?
Erik Olin Wright: O termo foi cunhado no início dos anos 80 como uma forma de descrever o que havia em comum entre um grupo de intelectuais marxistas, marxianos, influenciados pelo marxismo ou cripto-marxistas que se reuniam anualmente para discutir idéias marxistas fundamentais.
Acredito que o elenco de personagens é bem conhecido. Acho que a figura mais importante era
G. A. Cohen, o filósofo canadense-britânico. As outras pessoas mais associadas a isso seriam
Robert Brenner,
Adam Przeworski,
John Roemer, eu,
Jon Elster na época e algumas outras pessoas.
Sam Bowles tornou-se parte desse grupo.
Era um grupo de pessoas que se engajavam na interrogação implacável, sistemática e clara de conceitos marxistas amplos. Tome o conceito de exploração: ele foi originalmente formulado por Marx em termos da teoria do valor-trabalho. Tivemos na época uma série de debates que se estenderam por vários anos sobre a melhor maneira de pensar sobre o conceito de exploração. Desenvolvi o que chamei de um relato sociológico sobre a exploração, bastante independente da teoria do valor-trabalho.
Tudo isso era um esforço para dar precisão aos mecanismos subjacentes que esses conceitos identificavam. A designação “analítica” derivava da filosofia analítica – que, penso eu, é apenas uma maneira de falar do uso preciso e claro dos termos, para que você defina tudo de maneira a deixar claro exatamente do que você está falando.
A denominação “analítica” não implica em qualquer afirmação substantiva sobre o conteúdo das ideias, apenas sobre como devemos avaliá-las. Na verdade, o marxismo analítico também não tinha qualquer compromisso particular com a teoria da escolha racional; essa é apenas uma das correntes que os marxistas analíticos levam a sério.
O marxismo analítico é, portanto, sobre clareza e precisão conceitual em torno dos mecanismos em jogo. Agora, a teoria da escolha racional é elegante exatamente porque é tão precisa e clara sobre os mecanismos em jogo, e para certos tipos de problemas, ela te dá uma maneira muito boa de fundamentar um conjunto de argumentos.
E para algumas pessoas do grupo – especialmente John Roemer – essa maneira particular de enquadrar problemas e de buscar soluções de fato domina o seu pensamento. Mas nem mesmo John Roemer insistiria que os modelos de escolha racional seriam o caminho para explicar tudo.
O nome interno que o grupo se dava, talvez de maneira um pouco arrogante, era “grupo de marxismo sem baboseiras”. Essa era a nossa piada interna sobre o que nos definia; e penso que, de certa forma, era a melhor maneira de caracterizar a nossa missão: livrar o marxismo do obscurantismo e identificar o seu núcleo mais robusto e mais defensável.
No meu caso, isso ajudou a consolidar meu compromisso com o marxismo como o terreno no qual eu queria continuar fazendo meu trabalho. Para algumas outras pessoas do grupo, isso os convenceu de que, bem, o marxismo era uma boa área de especialidade, mas já não era mais para eles.
Adam Przeworski e Jon Elster deixaram o grupo. Eles sentiram que haviam esgotado essa tarefa específica de interrogar conceitos de Marx, que não havia muito mais para eles aproveitarem nisso, e que as questões nas quais estavam mais interessados seriam perseguidas de maneira mais frutífera num terreno diferente.
Mike Beggs:
Em “Um Futuro para o Marxismo?”, Andrew Levine escreve como sua própria trajetória – e ele a vê como uma trajetória natural – foi de althusseriano para o marxismo analítico. Isso parece incomum porque a teoria francesa e a filosofia analítica muitas vezes são vistas como pólos opostos. Essa foi a sua trajetória, ou você veio de um lugar diferente?
Erik Olin Wright: O primeiro artigo que escrevi que estava firmemente envolvido com essas questões foi sobre
Poulantzas. Eu li
Althusser quando era estudante de pós-graduação no início dos anos 70, e Poulantzas ainda mais do que Althusser; encontrei em Poulantzas um conjunto de argumentos muito mais rico. Penso, por assim dizer, que o quociente de baboseiras em Althusser ainda era muito alto: muitas vezes ele acenava com a mão e invocava conceitos sem especificação – você tinha de passar por cima disso para realmente chegar ao seu núcleo analítico.
No entanto, tanto Poulantzas quanto Althusser estavam preocupados em especificar conceitos, não em apenas tirá-los da prateleira e depois apresentar argumentos usando esses conceitos reformulados e elucidados.
Aprendi muito com os argumentos de Poulantzas. Meu
primeiro trabalho sobre classe foi uma crítica a Poulantzas. Poulantzas propôs que aquilo que é comumente chamado de classe média seria uma nova “pequena burguesia”. Argumentei sobre porque penso que essa classificação não identificava adequadamente os mecanismos envolvidos – porque a categoria de “trabalho improdutivo” não era uma categoria útil para se compreender as relações de classe.
E então propus um teste empírico para esse debate, para que não ficasse apenas em um debate sobre definições: podemos desenvolver evidências para avaliar se o novo conceito de “pequena burguesia” realmente identificaria os limites de classe melhor do que o meu conceito alternativo, em termos de localizações contraditórias dentro das relações de classe.
Assim, no meu caso pessoal, certamente a leitura de Althusser e Poulantzas veio antes do meu compromisso com aquilo que veio a ser conhecido como Marxismo Analítico, mas penso que a minha posição em relação a Althusser e Poulantzas já era marxista-analítica, e não Althusseriana.
Embora eu ainda não chamasse assim, acho que a maneira como eu os interrogava já era: “Esses conceitos não estão claros o suficiente. Vamos tentar dar precisão aos mecanismos. Vamos ver se há desenvolvimentos empíricos que podemos usar para alimentar de volta o nosso raciocínio teórico”.
Então li
o livro de Jerry Cohen e, claro, como para muitas pessoas, foi uma experiência elucidativa. Quando o li, eu disse: “Aham, agora vejo que é assim que se deve fazer: É assim que se chega até a raiz das explicações e que se dá sentido a elas, tornando coerentes idéias que haviam sido formuladas com menos clareza.” Escrevi uma resenha crítica do livro de Jerry Cohen, que Jerry gostou muito, e então ele me convidou para me juntar a esse grupo de Marxismo Analítico em seu segundo ano.
A pessoa que começou numa perspectiva Althusseriana e que escreveu os melhores trabalhos – e que eu consideraria uma reconstrução marxista analítica de Althusser e Poulantzas – é
Göran Therborn. “
A Ideologia do Poder e o Poder da Ideologia” e “
O que a Classe Dominante Faz Quando Domina?” – para mim esses são os dois melhores livros escritos na tradição althusseriana. Eles são althusserianos no sentido de que levam muito a sério as idéias de Poulantzas e de Althusser, mas dão a elas uma forma coerente e racional que nem Poulantzas e nem Althusser poderiam dar. Acho que esses são livros espantosamente bons.
Esses livros surgiram no final do grande florescimento do marxismo da década de 1970, que terminou no início dos anos 80, e nenhum deles foi tomado como um corpo de ideias centrais para o pensamento marxista subsequente. Acredito que há uma chance razoável de que em algum momento eles serão redescobertos e receberão a notoriedade que merecem.
Mike Beggs:
Você sempre esteve disposto a se envolver seriamente no debate sobre seu trabalho acadêmico e é conhecido por mudar de ideia, às vezes sobre conceitos fundamentais. O que tem permanecido consistente em seu trabalho desde o começo e o que mudou?
Erik Olin Wright: A ideia mais consistente é basicamente a ideia central do marxismo: o propósito de se compreender a estrutura de classes do capitalismo é entender as condições para transformá-lo. As razões para se focar na natureza da exploração capitalista incluem tanto o compromisso normativo de eliminar a exploração capitalista quanto o compromisso sociológico de entender as condições para a transformação do capitalismo ou para a sua transcendência rumo a uma alternativa.
Eu diria que a análise anticapitalista do capitalismo está presente em todo o meu trabalho: a ideia de que o coração do que torna o capitalismo uma estrutura social nociva é a sua estrutura de classes. Há marxistas que acreditam que o verdadeiro culpado é o mercado – que as classes são ruins, mas que o culpado é o mercado. Michael Albert e Robin Hahnel
defendem uma crítica anti-mercado do capitalismo. Eu não concordo. Aquilo que há de condenável nos mercados só é condenável se em qualquer lugar onde existirem mercados, eventualmente houver exploração e dominação capitalistas.
Eu concordaria com a crítica aos mercados se fosse verdade que os mercados necessariamente geram relações de classe capitalistas. Essa é essencialmente a visão de Michael Albert. Ele argumenta que um pouco de mercado é como um pouco de escravidão, ou como um pouco de câncer. Um pouco de mercados em algum momento vai acabar te matando.
Eu simplesmente penso que isso é um equívoco. É possível existir mercados bastante robustos dentro dos quais as concentrações de capital sejam bloqueadas e o controle democrático sobre a alocação dos recursos seja mantido. Robin Hahnel e eu nos engajamos em
um extenso debate sobre essas questões em nosso livro pela Verso, “
Alternativas ao Capitalismo: Propostas para uma Economia Democrática.”
Mike Beggs:
Como seria uma economia socialista? Quais mecanismos existiriam para evitar concentrações de capital?
Erik Olin Wright: Em primeiro lugar, acredito que a noção de uma economia socialista de mercado por completo não é coerente – assim como a noção de uma economia totalmente capitalista não é coerente. Toda economia será um ecossistema de mecanismos de produção e de distribuição heterogêneos e qualitativamente distintos. A questão é: “Quais mecanismos são dominantes?” ou melhor, “Quais mecanismos tomam conta de tudo?”
Em qualquer economia socialista haverá um grande setor público de produtos e serviços de necessidade básica, fornecidos diretamente pela alocação estatal. Se educação, saúde, muitos espaços para a recreação pública e uma série de outras coisas forem fornecidos como bens públicos des-mercadorizados, isso poderia facilmente constituir 60% de toda a economia. Isso não é socialismo de mercado, é apenas socialismo. No máximo, o mercado vai fazer parte da economia.
Em qualquer economia socialista com mercados, parte desse mercado também não será socialista. Não vejo nenhum motivo porque não poderíamos ter pequenos restaurantes que fossem organizados por pessoas que simplesmente queiram operar um pequeno restaurante.
E talvez nem todos pequenos empreendimentos tenham de ser cooperativas. Eu prefiro a posição de que as pequenas empresas deveriam ser cooperativas – e que ainda deveriam ser administradas democraticamente -, mas talvez não precise ser assim. Talvez haja um espaço para certos tipos de propriedade empresarial individual não-cooperativa em uma economia dominada por relações socialistas. Não sei qual deveria ser a combinação ideal dessas diferentes formas.
Mike Beggs:
Os empregados desse restaurante particular hipotético, eles teriam outras opções?
Erik Olin Wright: Com certeza. Você oferece a todos
uma renda básica, para que todos possam se recusar a um trabalho como esse, caso não queiram. Você tem um conjunto extenso de bens públicos, de modo que uma parte significativa do consumo de todos não seja baseada no mercado. O padrão de vida das pessoas não depende apenas dos seus ganhos; depende dos produtos e serviços de necessidade básica que estão disponíveis publicamente, mais os seus ganhos. A combinação de renda básica e o atendimento público de necessidades básicas significa que você pode ter uma vida decente sem
se envolver em relações capitalistas de produção.
Uma economia socialista de mercado teria todo tipo de outros incentivos para diferentes formas de produção cooperativa. Acredito que uma economia socialista de mercado tenderia a priorizar o suporte público para cooperativas em detrimento do empreendedorismo individual. Há muitas formas de se fazer isso – por exemplo, em termos da maneira de organizar os mercados de crédito e o espaço público: criando “espaços
maker” para a tecnologia avançada de fabricação modular em pequena escala e assim por diante.
Como prevenir a concentração de riqueza? Já temos regulação em vigor que supostamente deveria impedir a formação de monopólios, mas que não tem efetividade. Para evitar concentrações de riqueza, você precisa de regras que estabeleçam limites claros sobre a acumulação privada. As empresas acima de um certo número de funcionários precisam tornar-se cooperativas e, se não quiserem, tudo bem – elas podem permanecer pequenas. No fim das contas, não há nenhum imperativo para que elas se tornem grandes.
A concorrência não força as empresas a crescerem, a não ser que dessa maneira elas tenham economias de escalas maiores, certo? Se não houver economias de escala, não há razão alguma para que as empresas tenham que crescer para competir, sua vantagem competitiva não vai aumentar se elas forem maiores.
Penso que as economias de escala estão diminuindo rapidamente em muitas áreas de produção, o que permite a reprodução de empresas de pequena escala e alta produtividade. Essa é a receita para uma economia cooperativa de mercado.
Mike Beggs:
Esse tipo de visão é muito controverso dentro da esquerda radical, né? A presença de mercados vai ofender alguns socialistas e outros se opõem à própria idéia de elaborar “receitas para as cozinhas do futuro”.
Erik Olin Wright: Só me deixe fazer uma rápida intervenção terminológica sobre a expressão “esquerda radical”. Eu diria que os mercados são contestados pela esquerda rígida. “Radical” implica que de alguma forma se está mais à esquerda; mas mais à esquerda não significa ter uma visão mais simplista. Significa estar mais profundamente comprometido com uma alternativa emancipatória democrática, igualitária e sustentável. Considero que estou muito à esquerda; é exatamente por isso que quero a heterogeneidade institucional como parte do nosso objetivo – acredito que essa seja a nossa melhor aposta. Não acho que seja apropriado dizer que isso torne alguém menos de esquerda.
Acho que o princípio fundamental do socialismo é a democracia levada até as últimas consequências, mas não se pode decidir com antecedência qual deverá ser o resultado das decisões democráticas. Isso tem de ficar para as pessoas engajadas na luta democrática descobrir, porque não sabemos quais serão as contingências no caminho.
Minha previsão é que uma sociedade profundamente e robustamente democrática criará espaço para os mercados, porque as pessoas verão nisso uma solução barata para um problema complexo. Dadas todas as inevitáveis situações em que será necessário pesar prós e contras e tomar decisões difíceis, é melhor manter um espaço razoável para os mercados do que tentar planejar tudo.
Mas isso é uma previsão sobre o que o povo vai decidir em deliberação democrática, não uma receita sobre o que eles deveriam fazer. A menos que se acredite que não haverá decisões difíceis a serem tomadas que envolverão abrir mão de certas coisas em nome de outras, então inerentemente haverá ambiguidades no processo de se descobrir precisamente qual deve ser o papel dos mercados em uma economia pós-capitalista.
O desafio que apresentei a Hahnel (que acredita que a economia deveria ser planejada democraticamente, sem qualquer papel para os mercados), que não acho que ele tenha respondido, é: “sim, se você acredita que não será necessário abrir mão de certas coisas em nome de outras, que não haverá o problema de ‘reuniões demais’, que não haverá outras consequências imprevistas em se tentar fazer com que as pessoas definam o seu pacote de consumo para o próximo ano antecipadamente – o que faz parte do seu plano -, então talvez os mercados possam ser eliminados.” Sou cético quanto a isso. Mas, a menos que você acredite que não há escolhas que envolvem abdicar de certas coisas, então não é possível decidir antecipadamente qual será a combinação.
Mike Beggs:
Seu novo livro reúne as duas linhas principais de seu trabalho – a compreensão das classes numa sociedade capitalista e a exploração de “utopias reais” como uma forma de estratégia socialista.
Erik Olin Wright: O título original seria “Desafiar e talvez Transcender o Capitalismo através de Utopias Reais”, mas o novo título, sobre o que estou falando na verdade, é “
Como Ser um Anti-Capitalista no Século XXI”.
Mike Beggs:
Então nos diga como.
Erik Olin Wright: Aqui vai a versão curta e direta. Há quatro maneiras de ser anti-capitalista: esmagando o capitalismo; domando o capitalismo; fugindo do capitalismo; ou erodindo o capitalismo.
Esmagar o capitalismo era a visão do comunismo revolucionário dos séculos XIX e XX. O cenário é familiar para a maioria das pessoas: você organiza um movimento político, com o partido político sendo a forma padrão. Em circunstâncias historicamente contingentes, esse movimento político é capaz de tomar o poder do Estado. Pode ser por meio de um processo eleitoral – isso não está descartado de maneira intrínseca – ou por meio de uma insurreição violenta.
Independentemente de como você toma o poder do Estado, a primeira tarefa é remodelar o próprio Estado para torná-lo um instrumento apropriado de transformação, e a segunda tarefa é esmagar os centros de poder da estrutura social existente.
Isso permite que se inicie o longo processo de construção da alternativa. Pode-se pensar na estratégia de esmagar o capitalismo como “esmagar primeiro, construir depois”. Esse era o ideal revolucionário do século XX.
Acho que a evidência desses experimentos é bastante forte no sentido de que o capitalismo não é o tipo de ordem social esmagável – pelo menos em suas formas complexas. A última linha do hino dos sindicalistas no Trabalhadores Industriais do Mundo, “
Solidariedade Para Sempre”, é “podemos trazer à luz um novo mundo à partir das cinzas do velho mundo”. O que os movimentos revolucionários do século XX mostraram é que é possível construir um novo mundo à partir das cinzas do velho mundo – só que era um mundo que ninguém queria.
Houve conquistas nas Revoluções Russa e Chinesa, é claro, mas elas não criaram um mundo igualitário e democrático que empoderasse as pessoas comuns para que elas fossem capazes de moldar os seus próprios destinos. Não foi isso o que brotou dessas revoluções.
Se isso se deu apenas por causa das
circunstâncias historicamente adversas sob as quais essas revoluções ocorreram ou se essa é uma consequência intrínseca da estratégia de esmagar, queimar e tentar construir sobre as cinzas – essa é uma questão que pode ser debatida.
Minha aposta é que as forças caóticas que são liberadas na estratégia de “esmagamento” são tão perigosas e difíceis de se controlar que levam a respostas repressivas para recriar as condições de integração social. Ordem social e segurança são necessidades tão urgentes que acabam criando formas de dominação na nova sociedade pós-revolucionária, que depois são extremamente difíceis de se expulsar, talvez até impossíveis.
Nós certamente não temos nenhuma evidência de que, se destruirmos a estrutura antiga, seremos capazes de construir um ambiente participativo, democrático, igualitário e emancipatório para o desenvolvimento humano. Acredito que a estratégia de “esmagamento” está fora de cogitação na pauta histórica para as sociedades complexas.
Penso que uma transição democrática é possível e é isso que vou defender. O problema é que o momento de ruptura vai desencadear processos altamente caóticos, mesmo sob condições democráticas. Esse é o problema do Syriza: se eles abandonassem o euro, mergulhariam no caos econômico. Então a questão é, será que eles poderiam, nesse ponto, se engajar em uma ruptura com o capitalismo, sob condições democráticas?
O que aconteceria na próxima eleição? As coisas ficariam terríveis. Alguns partidos diriam: “Vote em nós e vamos trazer a Grécia de volta ao euro”. E o que iria acontecer? Os banqueiros europeus diriam: “Sim, sim, vote nesses caras e vamos ajudá-los”. Então, eles receberiam os recursos. Não há como sobreviver ao número de eleições necessárias, em condições democráticas, para se atravessar o processo de transição, com o declínio das condições materiais e dos padrões de vida.
Em uma sociedade complexa, onde há muita interdependência, a quantidade de sofrimento que é desencadeada por um esforço de ruptura o torna insustentável sob condições democráticas. Já sob condições não-democráticas, o problema é que transições autoritárias não resultam em destinos democráticos e participativos. Não estou preparado para proclamar formalmente um teorema de impossibilidade, isso seria forte demais. Há muitas contingências, mas minha intuição é que uma transformação de ruptura com o capitalismo, num nível sistêmico, é impossível.
As outras opções são domá-lo, escapar dele ou erodi-lo. Domar o capitalismo é a solução social-democrata. Ainda se captura o Estado, se obtém o poder do Estado no sentido formal. Você não tem o poder sobre a sociedade, porque o capitalismo ainda é muito forte – o capital
controla os meios de investimento.
Mas você obtém o poder estatal no sentido governamental, você tem poder político. Você tem mobilização o suficiente na retaguarda do poder político para negociar um acordo com o capital, no qual se cria restrições sobre o capital que são benéficas para os trabalhadores, mas tem de necessariamente haver uma colaboração pelos trabalhadores num projeto de desenvolvimento capitalista. É um compromisso de classe.
Domar o capitalismo é uma estratégia que pretende reduzir e neutralizar os piores danos gerados pelo sistema – os riscos para os indivíduos, os déficits em bens públicos, as externalidades negativas. Você atenua esses males, mas deixa o capitalismo intacto e lida apenas com os sintomas. Domar o capitalismo funciona muito bem – ou pelo menos funcionou por um tempo, mas essa estratégia
não tem estado em suas melhores condições nos últimos tempos.
A ideologia neoliberal diz que as soluções social-democratas estão permanentemente fora do jogo. Isso não passa de auto-justificação de privilégios para uma elite. Mesmo em um mundo relativamente aberto, globalizado e financializado não há razão para acreditar (além do poder político das forças do neoliberalismo) que mecanismos de domesticação não possam ser restabelecidos – eles só não foram restabelecidos ainda.
É possível imaginar que as crises globais sobre as mudanças climáticas vão acabar de vez com o neoliberalismo porque não há como o mercado resolver o problema de adaptação, muito menos o problema de mitigação dessas mudanças. As gigantescas obras públicas necessárias para se lidar com as rupturas causadas pelas mudanças climáticas abrirão espaço para uma nova rodada de
Estados afirmativos fornecendo bens públicos e de justiça social através da mitigação dos efeitos adversos do aquecimento global.
De qualquer forma, essa é a estratégia de domar o capitalismo. Certamente ela não se compara com a força que tinha trinta, quarenta anos atrás, mas ainda
faz parte do cardápio do anticapitalismo.
Escapar do capitalismo é a solução mais individualista. Os hippies se entregaram a ela nos anos 1960 e 1970. Os pioneiros do movimento para o Oeste nos Estados Unidos estavam escapando do capitalismo, esse era o seu impulso principal: se mudar para o oeste, sair das garras dos bancos e dos latifundiários. Movimentos voluntários pela simplicidade ou anti-consumistas são uma espécie de escape do capitalismo – pessoas que querem diminuir a escala, ter vidas mais equilibradas.
Escapar do capitalismo é uma forma interessante de anticapitalismo. Tem muito pouco potencial transformador por sí só; pode, em alguns contextos, fornecer experimentos úteis, modelos úteis para coisas que poderiam ser generalizadas em condições alteradas.
“Erodir o capitalismo” é a opção menos familiar. Ela está mais alinhada, penso eu, com certas tendências anarquistas. Proudhon pode ser visto como um dos seus primeiros entusiastas. Sua visão era: “Você cria cooperativas de trabalhadores; elas serão modos de vida atraentes, os trabalhadores se unirão a elas em massa; o capitalismo entrará em colapso porque não poderá encontrar ninguém para trabalhar”.
É uma visão simplista de como as cooperativas de trabalhadores sobreviveriam e competiriam com os capitalistas. Marx, em seu famoso debate com Proudhon, achava essa ideia ridícula e a descartou junto com projetos socialistas utópicos como pequenos experimentos inúteis. Pior do que inúteis – eles desviariam foco e esforços.
Mais tarde, Marx de fato se tornou bastante favorável às cooperativas de trabalhadores e a outras formas de cooperativas, e sentia que eram demonstrações palpáveis de que os trabalhadores poderiam realmente governar a produção e que o problema com as cooperativas como estratégia era que elas não seriam toleradas – se chegassem a representar uma ameaça para o capital, seriam destruídas.
Há muitos exemplos de iniciativas econômicas atuais que se enquadram no rótulo da opção de “erodir o capitalismo”. O projeto de reforma agrária, ocupações de terra e outras novas formas de produção comunitária e agrícola do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no Brasil, cooperativas de trabalhadores e muitas outras formas de cooperativas. A Wikipedia destruiu em uma década o mercado capitalista de enciclopédias, que durou trezentos anos. Ela representa um modelo muito mais produtivo do que qualquer modelo capitalista, assim como o Linux e outros softwares de código aberto. Isso é erodir o capitalismo.
Agora, erodir o capitalismo, penso eu, é uma opção extremamente atraente e totalmente duvidosa como estratégia para transcender o capitalismo. É atraente porque, mesmo com um ambiente muito hostil, você pode fazer alguma coisa, e penso que os militantes estão sempre desesperados para botar a mão na massa. Meus alunos estão constantemente me perguntando: “O que eu posso fazer? Quero fazer algo construtivo”.
É uma opção que constrói essas alternativas e todas elas tornam a vida melhor, definitivamente são ilustrações de formas melhores de vida. Elas podem ser eficazes, mas será mesmo que o efeito acumulado de hortas comunitárias, cooperativas de trabalhadores, Wikipedia e afins, é minar a possibilidade do capitalismo e transcendê-lo rumo a uma alternativa? Essa conclusão me parece muito forçada.
Não creio que seja plausível que a estratégia anarquista de apenas seguir com o trabalho de construir o mundo que se quer dentro do mundo que existe tenda ao sucesso em transformar o mundo como um todo. No entanto, creio que se a estratégia de “erosão” for combinada com novas maneiras de pensar sobre como domar o capitalismo, então pode ser possível criar uma estratégia política de longo prazo que combine o que há de melhor no lado progressista da social-democracia com as versões mais construtivas do ativismo comunitário anarquista e da criatividade popular da-base-para-o-topo.
Isso significa combinar o anarquismo e a social democracia em uma linha dupla onde você erode o capitalismo para torná-lo mais domável, e você doma o capitalismo para torná-lo mais erodível. Você constrói uma ponte sobre essa divisão política, rejeitando a visão de esmagar o capitalismo pela sua impossibilidade e de escapar do capitalismo por causa do seu narcisismo.
Eu acho que essa linha dupla não é fácil, nem linear. Não é como se, uma vez que você descobrisse a fórmula, pudesse simplesmente deixá-la para que ela cuide de si mesma. Não, ela vai estar cheia de contradições. Isso é intrínseco ao processo: a maneira como você doma o capitalismo é negociando com o capital. Essas negociações e acordos são inerentemente instáveis, dependem do equilíbrio de forças.
Mas qual é a alternativa a isso? Não que eu esteja fazendo uma previsão: “Se você fizer isso, nós vamos vencer”. O que estou dizendo é que não vejo nenhuma outra estratégia que tenha qualquer plausibilidade em ser capaz de transcender o capitalismo.
Mike Beggs:
Alguns podem dizer que “esse é o ‘socialismo evolucionário’ de Bernstein, só que sem a evolução, e sem a certeza de que vai acontecer”.
Erik Olin Wright: Bem, não é o caso, porque Bernstein não enfatizava a mobilização de baixo para cima para construir alternativas nos espaços da sociedade. Sua estratégia era o socialismo parlamentar.
Mike Beggs:
Então, qual é o papel que você vê para a política parlamentar – ou eleitoral? Certamente essa é uma parte essencial da parte da estratégia visando “domar o capitalismo”.
Erik Olin Wright: Uma das armadilhas da democracia parlamentar é a crença de que se deve estar no seu alto comando. Penso que uma arena muito importante para isso são os municípios – a política em nível local – e a construção de movimentos nacionais baseados em
mobilizações locais.
Mike Beggs:
Nos EUA, os governos municipais são particularmente fortes e têm responsabilidades especialmente grandes, enquanto a política nacional costumava ser inacessível, muito bem defendida contra qualquer tipo de estratégia de esquerda. Então, pode ser diferente dependendo das diferentes configurações.
Erik Olin Wright: Em alguns sistemas políticos não há espaço no nível local. Assim, nas democracias capitalistas mais centralizadas, as cidades são mais como unidades administrativas dos governos em nível nacional do que locais autônomos para a luta política. Pode ser que em alguns contextos a luta por mais autonomia municipal seja parte do projeto político necessário para se criar mais espaço.
Penso que o Estado vai desempenhar um papel muito importante, e que é um absurdo a idéia de que você pode influenciar o Estado principalmente como um ator externo causando problemas para forçar o Estado a fazer as coisas. Isso nunca funcionou em lugar nenhum como uma estratégia de longo prazo.
Claro, se você causar o suficiente de problemas e paralisações, pode acabar influenciando o Estado a realizar algumas coisas, mas assim que a sua mobilização diminuir, os ganhos serão revertidos. Uma estratégia que se concentra exclusivamente na pressão e paralisação externas não é robusta. A única maneira de ter uma transformação robusta é ter mudanças nas regras do jogo, e isso exige partidos políticos capazes de contestar o poder e de mudar as regras do jogo.
Mike Beggs:
E, no entanto, nos EUA, tanto se engajar na política através do Partido Democrata quanto fazer surgir um terceiro partido são propostas estratégicas muito difíceis.
Erik Olin Wright: Essa é uma das razões pelas quais os níveis mais baixos de governo são mais eficazes. Um grande Estado continental como os Estados Unidos é um exemplo pesado. Certamente não é o caso em todo o mundo que os partidos convencionais sejam
inacessíveis para os movimentos sociais de maneira tão robusta.
Mas mesmo no Partido Democrata nos Estados Unidos, a ala esquerda tem propostas reais que são genuinamente receptivas a essas coisas. Não se trata de um partido
homogeneamente neoliberal: Uma grande parte do eleitorado democrata e um número não trivial de políticos eleitos são favoráveis a impostos mais altos, mais bens públicos, mais regulação, mais iniciativas ambientais e uma reconstrução do movimento trabalhista para aumentar o poder popular.
Essas questões todas estão na pauta do debate público, se não nas ações imediatas. Por vários motivos, essa pauta tem sido marginalizada no sentido de poder ser traduzida em políticas públicas, mas isso não precisa ser permanente.
No contexto estadunidense, creio que isso tem de ser enfrentado no interior do Partido Democrata, não acho que a ideia de um terceiro partido seja viável. Penso que a tarefa seja tornar a ala progressista do Partido Democrata mais resiliente e descobrir formas de mobilizar o eleitorado para lhe dar credibilidade eleitoral.
É difícil fazer isso, o sistema é fortemente manipulado contra nós. Mas ainda assim, não vejo qual seria a alternativa. Se você disser: “Ok, como ele é tão inacessível, vamos simplesmente abandonar o Estado”, isso significa recuar para o canto da opção “erodir o capitalismo” do meu esquema quádruplo de estratégia, sem tentar o componente sobre “domar o capitalismo”. Mudar o mundo sem tomar o poder, ou mesmo sem contestar o poder, como Holloway
propõe.
Bem, talvez isso seja possível. Não estou dizendo que sei com certeza que você não pode erodir o capitalismo apenas construindo alternativas da base para o topo. Só sou cético que o espaço para essas alternativas estará suficientemente garantido para isso.
Mike Beggs:
E ainda assim você vê muitos desses projetos de maneira muito positiva, certo?
Erik Olin Wright: Com certeza. Eu vejo todos eles de maneira positiva, porque são exemplos que prefiguram uma alternativa emancipatória. A tarefa é generalizar esses exemplos prefigurativos.
Agora há outra parte dessa equação que é um tipo de curinga. É uma idéia bem clássica do marxismo: as novas forças de produção que estão se iniciando no século XXI serão, na minha previsão, extremamente prejudiciais às formas existentes de capitalismo. Já podemos ver isso em alguns setores. E isso poderia abrir novas possibilidades de maneira radical.
O exemplo que dou frequentemente – só porque é fofo – é a Wikipedia destruindo um mercado de enciclopédias de trezentos anos de idade. Você não conseguiria produzir uma enciclopédia de propósito geral, comercialmente viável que qualquer pessoa queira comprar. A Wikipedia é produzida de uma maneira completamente não-capitalista, com algumas centenas de milhares de editores livres e não remunerados ao redor do mundo, contribuindo para o bem comum global e o tornando disponível gratuitamente para todos. Além disso, há uma espécie de economia da doação/dádiva para fornecer os recursos necessários para a infra-estrutura.
A Wikipedia está repleta de problemas, mas é um exemplo extraordinário de cooperação e de colaboração numa escala muito grande, e que é altamente produtiva. Creio que é só a ponta do que será uma fase muito problemática para o capitalismo.
A questão aqui está ligada ao problema das economias de escala. Se você tiver tecnologias cujas economias de escala sejam muito limitadas, de modo que os custos unitários de se produzir pequenos lotes de coisas não seja diferente de se produzir grandes quantidades, então é muito mais difícil para os capitalistas monopolizar os meios de produção. O monopólio depende, de forma significativa, do fato de você precisar de grandes quantidades de capital para produzir qualquer coisa de maneira competitiva.
As
impressoras 3D são um exemplo. Eu não acho que já tenhamos chegado lá, então vamos imaginar que daqui dez, quinze, vinte anos – vamos imaginar que as impressoras 3D sejam capazes de imprimir outras impressoras 3D. Então nós teríamos uma máquina auto-replicadora. Uma máquina auto-replicadora de propósito geral, capaz de produzir um vasto conjunto de bens, minaria completamente a possibilidade de monopolizar os meios de produção, a menos que fossem introduzidos alguns mecanismos muito novos de monopólio capitalista.
Existem, é claro, algumas coisas que não serão produzidas por uma impressora 3D. A terra não será produzida por impressoras 3D, nem o espaço físico onde colocar a sua impressora 3D. Muitos dos materiais usados na impressão 3D – resinas e outros tipos de matérias-primas – não serão fabricados por impressoras 3D. Alguns desses materiais precisam ser desenterrados do solo e processados. Portanto, é possível que o monopólio capitalista dos meios de produção recue para o espaço dos recursos naturais de produção.
Mike Beggs:
Então, não se trata de um argumento sobre pós-escassez, e sim sobre a transformação das relações de produção pelas forças de produção.
Erik Olin Wright: Com certeza. É o que estou dizendo – essa é a tese clássica do marxismo sobre a contradição crescente entre as relações de produção e as forças de produção.
Esse é o x da questão: a
irracionalidade crescente de um sistema de produção baseado na propriedade privada em um contexto em que os meios de produção já não podem mais ser monopolizados: Todos podem ter seus meios de produção, mas não podem usá-los adequadamente devido à monopolização dos recursos naturais pela propriedade privada.
O caráter gritante da contradição entre as forças de produção e as relações de produção num contexto desses torna simples a tarefa de defender a necessidade de transformar as relações de propriedade que impedem o uso adequado das forças de produção.
Se for apenas a terra e os recursos naturais que estiverem sendo monopolizados nesse modo egoísta, acumulador e monopolista, isso se trata de um problema mais simples do que quando estamos falando de complexas cadeias de mercadorias e de enormes complexos de produção, intensivos em capital.
Essas novas forças produtivas – se essas antecipações estiverem corretas – estabelecerão o cenário para um ambiente diferente para a luta política.
Mike Beggs:
E para a propriedade intelectual também.
Erik Olin Wright: E para a
propriedade intelectual, sim. Todos esses desenvolvimentos significam que o capitalismo será mais passível de erosão no futuro do que foi no passado, porque será mais fácil preencher os espaços com formas alternativas de produção. No entanto, ele só será mais erodível se também puder ser mais fácil de ser domado, devido à necessidade de se domar a escalada desenfreada nos direitos de propriedade intelectual e nos direitos de propriedade sobre a terra e afins.
A crise ambiental pode ocasionar uma abertura nesse sentido também. Claramente, a questão de quem controla e regula o acesso aos recursos naturais também estará em pauta no contexto dos problemas ambientais globais.
Só para reiterar meu ponto principal: as utopias reais se tornam viáveis quando abrangem essas duas estratégias, domar e erodir o capitalismo. É por isso que elas diferem do antiquado socialismo evolucionário no estilo de Bernstein. O papel do Estado nesse projeto de transformação é defender e expandir os espaços em que as alternativas serão construídas a partir de baixo, em vez do Estado fornecer e ser o ator principal no atendimento das necessidades das pessoas.
Sobre o entrevistado
Erik Olin Wright é professor de sociologia na Universidade de Wisconsin - Madison e autor de muitos livros. Seu mais recente é
Alternatives to Capitalism: Proposals for a Democratic Economy.
Sobre o entrevistador
Mike Beggs é editor de Jacobin e palestrante em economia política na University of Sydney.