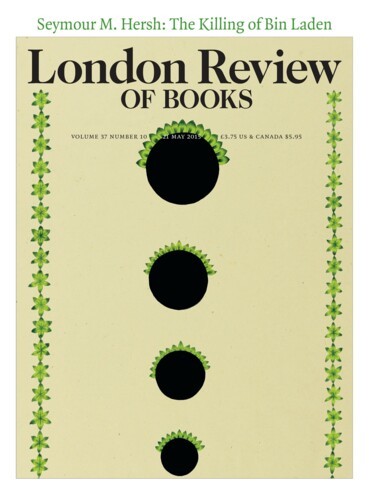Tradução / Passaram quatro anos desde que um grupo de operações especiais da Marinha dos EUA assassinou Osama bin Laden num assalto noturno a um complexo de altas paredes em Abbottabad, no Paquistão. O assassinato constituiu o ponto alto do primeiro mandato de Obama e foi um fator preponderante na sua reeleição. A Casa Branca ainda afirma que a missão foi inteiramente levada a cabo pelos EUA, e que as altas patentes do exército paquistanês e a agência dos Serviços de Informação (ISI) não foram informados da incursão antecipadamente. Isto é falso, como são também muitos outros elementos do relato da administração Obama. A versão da Casa Branca poderia ter sido escrita por Lewis Carroll: poderia bin Laden, alvo de uma massiva caça ao homem a nível internacional, decidir realmente que uma estância a 60 km de Islamabad seria o local mais seguro para viver e comandar as operações da al-Qaida? Escondia-se num sítio onde poderia ser visto. Isto foi o que disseram os EUA.
A mais flagrante mentira foi a afirmação de que as duas mais altas patentes militares do Paquistão, o General Ashfaq Parvez Kayani, chefe do exército, e o General Ahmed Shuja Pasha, diretor geral do ISI, nunca foram informados da missão. Esta continua a ser a posição da Casa Branca, apesar de um rol de relatórios que levantaram questões, incluindo o de Carlotta Gall, publicado no New York Times Magazine de 19 de março de 2014. Gall, que foi durante 12 anos correspondente do Times no Afeganistão, escreveu que lhe fora dito por um “funcionário paquistanês” que Pasha conhecera antes da incursão, que bin Laden estava em Abbottabad. A história foi desmentida por funcionários dos EUA e do Paquistão e ficou por ali. No seu livro Paquistão: Antes e Depois de Osama (2012), Imtiaz Gul, diretor executivo do Centre for Research and Security Studies, um grupo de reflexão em Islamabad, escreveu que falara com quatro agentes secretos de informações que (refletindo uma visão local muito difundida) asseveraram que os militares paquistaneses deveriam com certeza estar ao corrente da operação. O assunto foi trazido novamente em fevereiro, quando um general na reforma, Assad Durrani, que foi chefe do ISI no princípio dos anos 1990, disse a um repórter da al-Jazeera que era “bem possível” que as altas patentes do ISI não soubessem onde bin Laden se escondia, “mas era mais provável que soubessem. E a ideia era que, na altura certa, a sua localização seria revelada. E a altura certa seria quando se conseguisse o necessário quid pro quo; se deténs em teu poder alguém como Osama bin Laden, não vais simplesmente entregá-lo aos EUA.”
Nesta Primavera, contactei Durrani e disse-lhe, em pormenor, o que soubera sobre o assalto, de fontes norte-americanas: que bin Laden fora prisioneiro do ISI no complexo de Abbottabad desde 2006; que Kayani e Pasha haviam sabido da incursão antecipadamente e haviam-se certificado de que os dois helicópteros que traziam os SEALs a Abbottabad poderiam atravessar o espaço aéreo do Paquistão sem despoletar alarmes; de que a CIA não soubera da localização de bin Laden interceptando o seu correio, o que a Casa Branca afirma desde 2011, mas através de um antigo agente de informação paquistanês que revelou o segredo em troca de grande parte dos 25 milhões de dólares oferecidos pelos EUA, e que, enquanto Obama deu ordens para o assalto e os SEALs o levaram a cabo, muitos outros aspectos da versão da administração Obama eram falsos.
“Quando a sua versão for publicada, se decidir fazê-lo, as pessoas no Paquistão ficarão tremendamente gratas”, disse-me Durrani. “Há muito tempo que as pessoas deixaram de confiar no que se publica sobre bin Laden vindo das fontes oficiais. Haverá comentário político negativo e algum ressentimento, mas as pessoas gostam que a verdade lhes seja dita, e o que me disse é essencialmente o que tenho ouvido de antigos colegas que estão numa missão para descobrir os fatos desde que ocorreu este episódio.” Enquanto antigo chefe do ISI, afirmou, fora-lhe dito, pouco depois do assalto, por “pessoas na ‘comunidade estratégica’ que deveriam saber” que houvera um informador que alertara os EUA da presença de bin Laden em Abbottabad, e que depois do seu assassinato as promessas incumpridas dos EUA deixaram Kayani e Pasha a descoberto.
A principal fonte norte-americana para o relato que se segue é um funcionário dos serviços de informação na reforma que tinha conhecimento da informação inicial de que bin Laden estaria em Abbottabad. Também ele foi muito reservado em relação a muitos aspectos do treino dos SEALs para o assalto e a vários relatos posteriores. Duas outras fontes dos EUA, com acesso a informação que confirmava o que aqui é avançado, são de há muito consultores do Comando de Operações Especiais. Também recebi informação do Paquistão sobre o desagrado generalizado entre as altas patentes do ISI e os chefes militares (de que Durrani mais tarde fez eco) por causa da decisão de Obama de trazer a público imediatamente notícias sobre a morte de bin Laden. A Casa Branca não respondeu a pedidos de comentário.
***
Tudo começou com uma denúncia. Em agosto de 2010, um antigo agente dos serviços de informação do Paquistão abordou Jonathan Bank, então chefe do departamento da CIA na embaixada dos EUA em Islamabad. Ofereceu-se para dizer à CIA onde poderia encontrar bin Laden, em troca da recompensa que Washington oferecera em 2001. Geralmente, a CIA não confia nestas denúncias, e a resposta da agência foi enviar por avião uma equipe com um polígrafo. O denunciante passou no teste. Segundo o agente de informações norte-americano reformado, a preocupação da CIA na altura foi: “Portanto agora temos uma história que diz que bin Laden está a viver num complexo em Abbottabad, mas como haveremos realmente de saber de quem se trata?”
Os EUA inicialmente mantiveram o que sabiam dos paquistaneses. “O receio era que, caso a existência da fonte fosse conhecida, os próprios paquistaneses mudariam bin Laden para outra localização. Portanto apenas um pequeno número de pessoas ficou a conhecer a fonte e a sua história”, afirmou o agente. “O primeiro objetivo da CIA era verificar a qualidade da informação”. O complexo foi posto sob vigilância de satélite. A CIA alugou uma casa em Abbottabad para usar como base de observação avançada e aí colocou funcionários paquistaneses e cidadãos estrangeiros. Depois, a base serviria de ponto de contato com o ISI; atraiu pouca atenção porque Abbottabad é uma cidade de veraneio cheia de casas para locações de curto prazo. Foi preparado um perfil psicológico do informador. (O informador e a sua família foram retirados do Paquistão e colocados na área de Washington. É agora consultor da CIA.)
“Em outubro, a comunidade militar e dos serviços de informação discutiam as possíveis opções militares. Bombardeamos o complexo, ou tiramo-lo dali com um ataque de drones? Talvez enviar alguém para o assassinar, um único assassino? Mas assim não teremos provas”, afirmou o agente. “Podemos ver que alguém se movimenta de noite, mas não podemos interceptar ninguém, não detectamos movimentos suspeitos.”
Em outubro, Obama recebeu notícias dos serviços de informação. A sua resposta foi cautelosa, disse o agente na reforma: "Não faz sentido a informação de que bin Laden estava a viver em Abbottabad. Era de loucos. O Presidente foi claro: 'Não me falem mais disto a não ser que tenham provas de que é realmente bin Laden.'" O objetivo imediato do comando da CIA e do Comando de Operações Especiais era obter o apoio de Obama. Pensavam obter este apoio se tivessem a prova do DNA, e se pudessem assegurá-lo de que um assalto noturno ao complexo não traria riscos. A única maneira de conseguir estas duas coisas, disse o agente, “era envolver os paquistaneses”.
No final do outono de 2010, os EUA mantiveram silêncio sobre a denúncia, e Kayani e Pasha continuaram a insistir junto das suas contrapartes norte-americanas que não tinham informação sobre o paradeiro de bin Laden. “O próximo passo seria arranjar uma maneira de envolver Kayani e Pasha; dizer-lhes que temos informação que mostra que há um alvo de grande importância no complexo e perguntar-lhes o que sabem sobre ele”, disse o agente. “O complexo não era um enclave armado; não havia metralhadoras, porque estava sob controle do ISI”. O informador tinha dito aos EUA que bin Laden vivera sem ser detectado desde 2001 a 2006 com algumas das suas mulheres e filhos nas montanhas Hindu Kush, e que o “ISI chegou até ele pagando a pessoas da tribo local para o traírem”. (Relatórios posteriores ao assalto situavam-no noutros locais do Paquistão durante este período.) Bank foi também avisado pelo informador de que bin Laden estava muito doente e que, no princípio do seu confinamento em Abbottabad, o ISI mandara Amir Aziz, médico e major no exército do Paquistão, para ir até lá para providenciar tratamento. “A verdade é que bin Laden era um inválido, mas não podemos dizer isso’, referiu o agente na reforma. “‘Quer dizer que vocês alvejaram um aleijado? Que se preparava para pegar na sua AK-47?’”
“Não demorou muito para conseguir a cooperação que queríamos, porque os paquistaneses queriam garantir a entrega contínua de ajuda militar norte-americana, da qual uma boa percentagem era financiamento antiterrorismo que paga a segurança pessoal, como limusines à prova de bala e seguranças privados e casas para os chefes do ISI”, disse o agente. Acrescentou que também houve “incentivos” pessoais por baixo da mesa pagos por fundos de contingência do Pentágono, não registados. “A comunidade de informação conhecia o ponto em que tinha de haver acordo dos paquistaneses – era esse o isco. E eles morderam-no. Ambos os lados ficariam a ganhar. Também fizemos um pouco de chantagem. Dissemos-lhes que revelaríamos a notícia de que eles tinham bin Laden perto de si. Sabemos quem são os seus amigos e inimigos”; os Talibã e os grupos jihadistas no Paquistão e no Afeganistão “não iriam gostar”.
Um fator de preocupação nesta fase inicial, de acordo com o agente, era a Arábia Saudita, que havia financiado bin Laden desde a sua ruptura com os paquistaneses. “Os sauditas não queriam que a sua presença nos fosse revelada porque ele era saudita, e portanto disseram-lhes para o manterem fora da jogada. Os sauditas receavam que, caso soubéssemos, faríamos pressão sobre os paquistaneses para deixar bin Laden dizer-nos o que os sauditas haviam feito com a al-Qaeda. E deram dinheiro. Muito. Os paquistaneses, por seu turno, estavam preocupados com a possibilidade dos sauditas denunciarem o fato de eles terem bin Laden em seu poder. O receio era de que, caso os EUA soubessem de bin Laden através de Riade, fosse um pandemônio. Saberem da prisão de bin Laden a partir de um informador não foi o pior dos cenários.”
Apesar da oposição constante em público, os exércitos e serviços de informação norte-americano e paquistanês trabalharam juntos e em proximidade durante décadas, em contraterrorismo, no Sul da Ásia. É útil para ambos os serviços a oposição em público, para “protegerem o couro”, como referiu o agente, mas partilham constantemente informação usada para os ataques com drones, e colaboram em operações secretas. Por outro lado, Washington sabe que há elementos do ISI que acreditam que manter uma relação com a liderança talibã é essencial para a segurança nacional. O objetivo estratégico do ISI é equilibrar a influência indiana em Cabul. Os talibã são também vistos no Paquistão como fonte de tropas de choque jihadistas que apoiariam o Paquistão contra a Índia num confronto por Cachemira.
A juntar a esta tensão, estava o arsenal nuclear paquistanês, muitas vezes representado na imprensa ocidental como uma “bomba islâmica”, que poderia ser transferida pelo Paquistão para um país em guerra no Oriente Médio se acontecesse uma crise com Israel. Os EUA olharam para o lado quando o Paquistão começou a construir o seu armamento nos anos 1970 e acredita-se agora em Washington que a segurança dos EUA depende de manter fortes laços militares e de troca de informação com o Paquistão. Esta crença é partilhada com o Paquistão.
“O exército paquistanês vê-se a si mesmo como uma família”, disse o agente reformado. “Os oficiais chamam aos soldados filhos e todos os oficiais são ‘irmãos’. A atitude é diferente no exército norte-americano. As altas patentes paquistanesas acreditam que são uma elite e tem de ter cuidado com todos, enquanto guardiães da chama contra o fundamentalismo islâmico. Os paquistaneses também sabem que o seu trunfo contra a agressão indiana é uma forte relação com os EUA. Nunca irão eliminar os seus laços interpessoais connosco.”
Como todos os chefes de base da CIA, Bank trabalhava em segredo, mas isso acabou no começo de dezembro de 2010, quando foi publicamente acusado de assassinato, numa queixa criminal feita em Islamabad por Karim Khan, jornalista paquistanês cujo filho e irmão, de acordo com notícias locais, foram mortos por um ataque com drones. Permitir que Bank fosse nomeado constituiu uma violação do protocolo diplomático por parte das autoridades paquistanesas e provocou uma onda de publicidade indesejada. Bank recebeu ordens da CIA para abandonar o Paquistão e os agentes da CIA subsequentemente disseram à Associated Press que ele fora transferido por preocupações pela sua segurança. O New York Times relatou que havia a “forte suspeita” de que o ISI desempenhara um papel ao revelar o nome de Bank a Khan. Houve suspeita de que ele fora excluído como pagamento para publicação, numa ação legal, em Nova Iorque, um mês antes, dos nomes dos chefes do ISI em ligação com os ataques terroristas de Mumbai em 2008. Mas houve uma razão colateral, refere o nosso agente, para a CIA querer enviar Bank de regresso aos EUA. Os paquistaneses precisavam de apoio caso a sua cooperação com os norte-americanos para se livrarem de bin Laden se tornasse conhecida. Os paquistaneses poderiam dizer: “Falam de mim? Acabamos de bater no vosso chefe de estação.”
***
O complexo de bin Laden ficava a menos de três quilômetros da Academia Militar do Paquistão, e havia uma base de um batalhão de combate do exército paquistanês a cerca de um quilômetro de distância. Abbottabad fica a menos de 15 minutos de helicóptero de Tarbela Ghazi, uma base importante para operações secretas e a instalação onde os homens que vigiam o arsenal nuclear paquistanês são treinados. “Ghazi é a razão pela qual o ISI pôs bin Laden em Abbottabad”, refere o agente aposentado, “para estar sob vigilância constante.”
O risco era alto para Obama nesta fase inicial, especialmente porque havia um precedente problemático: a tentativa fracassado de resgatar os reféns norte-americanos em Teerã, em 1980. Essa falha representou um fator na derrota de Jimmy Carter para Ronald Reagan. As preocupações de Obama eram realistas, referiu o agente. “Bin Laden esteve alguma vez ali? Seria toda a história uma mentira dos paquistaneses? Quais seriam as implicações políticas deste fracasso?” Afinal de contas, como referiu o agente, “se a missão falhar, Obama será apenas um Jimmy Carter negro, adeus reeleição.”
Obama estava ansioso pela confirmação de que os EUA conseguiriam o homem certo. A prova seria o DNA de bin Laden. Os autores do plano pediram ajuda a Kayani e Pasha, que pediram a Aziz para obter as amostras. Pouco depois do assalto, a imprensa descobriu que Aziz vivera numa casa próximo do complexo de bin Laden: repórteres locais descobriram o seu nome em Urdu numa placa na porta. Funcionários paquistaneses negaram qualquer ligação de Aziz a bin Laden, mas o agente aposentado disse-me que Aziz fora recompensado com uma parte dos 25 milhões de dólares de recompensa dos EUA, porque a amostra de DNA foi conclusiva, era mesmo bin Laden quem estava em Abbottabad (no seu testemunho subsequente a uma comissão paquistanesa que investigava o assalto a bin Laden, Aziz afirmou que testemunhara o ataque a Abbottabad, mas não tivera conhecimento de quem estava a viver no complexo, e que lhe fora ordenado por um superior que se mantivesse afastado da cena).
Continuaram as negociações sobre o modo como a missão seria conduzida. “Kayani acabou por nos dizer que sim, mas afirma que não podem usar uma grande força de ataque. Têm que vir à bruta. E tem de O matar, senão não há acordo”, referiu o agente. O acordo foi selado por fins de janeiro de 2011, e o Comando de Operações Especiais Conjuntas preparou uma lista de perguntas para os paquistaneses responderem: “Como poderemos ter a certeza de que não há intervenções externas? Quais são as defesas dentro do complexo e quais as suas dimensões? Onde são os quartos de bin Laden e quais são exatamente as suas dimensões? Quantos degraus tem a escada? Onde se localizam as portas dos seus quartos? São reforçadas com ferro? Qual a espessura?” Os paquistaneses concordaram em formar uma célula de quatro homens, norte-americanos, um membro dos SEAL, um diretor de casos da CIA e dois especialistas em comunicações, para estabelecer um gabinete de ligação em Tarbela Ghazi para o assalto. Nesse momento, o exército construíra um modelo do complexo em Abbottabad num antigo lugar de testes nucleares no Nevada, e uma equipa de elite dos SEAL começara a ensaiar para o ataque.
Os EUA haviam começado a cortar nos apoios ao Paquistão; a fechar a torneira, nas palavras do nosso agente. A provisão de 18 novos caças F-16 foi atrasada e os pagamentos em dinheiro por baixo da mesa aos líderes de topo foram suspensos. Em abril de 2011, Pasha reuniu-se com o diretor da CIA, Leon Panetta, na sede da agência. “Pasha obteve um compromisso de que os EUA retomariam os pagamentos, e nós obtivemos uma garantia de que não haveria oposição por parte do Paquistão durante a missão”, referiu o agente. “Pasha também insistiu para que Washington parasse de acusar a falta de cooperação do Paquistão na guerra norte-americana contra o terrorismo.” Numa altura dessa Primavera, Pasha deu aos norte-americanos uma explicação cabal da razão pela qual o Paquistão mantinha em segredo a captura de bin Laden, e por que razão era imperativo que o papel do ISI permanecesse um segredo: “precisávamos de um refém para manter o controle sobre a al-Qaida e os Talibã”, referiu Pasha, de acordo com o agente. “O ISI estava a usar bin Laden como alavanca contra atividades dos Talibã e da al-Qaida dentro do Afeganistão e Paquistão. Deixaram os líderes dos Talibã e da al-Qaida saber que, caso levassem a cabo operações que colidissem com os interesses do ISI, entregariam bin Laden aos EUA. Assim, se se soubesse que os paquistaneses haviam trabalhado connosco para apanhar bin Laden em Abbottabad, teríamos sérios problemas”.
Numa das suas reuniões com Panetta, de acordo com o agente aposentado e uma fonte da CIA, um alto funcionário desta agência perguntou a Pasha se ele se veria a si mesmo agindo essencialmente como agente a trabalhar para a al-Qaida e os Talibã. “Ele respondeu que não, mas disse que o ISI precisaria de ter algum controle”. Esta mensagem, como a CIA a viu, de acordo com o agente aposentado, significava que Kayani e Pasha viam bin Laden “como um recurso, e estavam mais interessados na sua [própria] sobrevivência do que estavam nos EUA”.
Um paquistanês com ligações próximas com os líderes do ISI disse-me que “havia um acordo com as vossas altas patentes. Estávamos muito relutantes, mas tinha de ser feito; não devido a enriquecimento pessoal, mas porque todos os programas de ajuda norte-americana seriam cortados. Os vossos disseram-nos que nos fariam passar fome se não cumpríssemos, e o OK foi dado quando Pasha esteve em Washington. O acordo era não apenas para manter os pagamentos, mas também foi dito a Pasha que haveria mais recompensas para nós.” Os paquistaneses disseram que a visita de Pasha também resultou num compromisso dos EUA de dar ao Paquistão mais liberdade no Afeganistão, à medida que este começou a reduzir o seu armamento aqui. “E assim as nossas altas patentes justificaram o acordo dizendo isto é pelo nosso país.”
***
Pasha e Kayani foram responsáveis por garantir que o exército paquistanês e comando de defesa aérea não seguiriam ou interfeririam com os helicópteros norte-americanos utilizados na missão. A célula norte-americana em Tarbela Ghazi foi encarregada da coordenação das comunicações entre o ISI, as altas patentes dos EUA e o seu posto de comando no Afeganistão, e os dois helicópteros Black Hawk; o objetivo era garantir que nenhum caça paquistanês na patrulha de fronteira interceptasse os invasores e entrasse em ação para os parar. O plano inicial dizia que as notícias do assalto não deveriam ser logo divulgadas. Todas as unidades no Comando de Operações Especiais operam sob estrita confidencialidade e a sua liderança acreditava, como Kayani e Pasha, que o assassinato de bin Laden não seria tornado público durante cerca de sete dias, ou talvez mais. Nessa altura, seria lançada uma notícia de primeira página fabricada: Obama anunciaria que a análise do DNA confirmara que bin Laden fora morto num assalto com drones em Hindu Kush, no lado afegão da fronteira. Os norte-americanos que haviam planejado a missão asseguraram Kayani e Pasha que a sua cooperação nunca viria a público. Foi compreendido por todas as partes que, caso o papel do Paquistão fosse conhecido, haveria protestos violentos; bin Laden era considerado um herói por muitos paquistaneses, e Pasha, Kayani e as suas famílias correriam perigo, e o exército paquistanês cairia em desgraça.
Era claro para todos neste momento, referiu o agente aposentado, que bin Laden não sobreviveria: “Pasha disse-nos num encontro em abril que não poderia arriscar deixar bin Laden no complexo quando já se sabia que ele ali estava. Demasiadas pessoas na cadeia de comando do Paquistão têm conhecimento da missão. Ele e Kayani tiveram de contar toda a história aos diretores do comando de defesa aérea e alguns comandantes locais.”
“Claro que eles sabiam que o alvo era bin Laden e que ele estava sob controle do Paquistão”, disse o agente aposentado. “De outro modo, não teriam levado a cabo a missão sem apoio aéreo. Foi clara e inequivocamente um assassinato premeditado”. Um antigo comandante dos SEAL, que dirigiu e participou em dezenas de missões similares na última década, assegurou-me que “não iam manter bin Laden vivo; não permitiriam ao terrorista viver. De acordo com a lei, sabemos que o que estamos a fazer dentro do Paquistão é um homicídio. Aceitamos isso. Cada um de nós, quando levamos a cabo estas missões, diz a si mesmo: ‘vamos encarar a realidade, isto é um assassinato’”. O relato inicial da Casa Branca dizia que bin Laden exibira uma arma; a história tinha como público-alvo aqueles que questionavam a legalidade do programa da administração dos EUA que visava assassinar bin Laden. Os EUA mantêm, apesar dos relatos amplamente difundidos das pessoas envolvidas na missão, que bin Laden teria sido capturado vivo, se se tivesse rendido imediatamente.
***
No complexo de Abbottabad os guardas do ISI vigiavam bin Laden e as suas mulheres e crianças 24 horas por dia. Tinham ordens para abandonar o local logo que ouvissem os helicópteros dos EUA. A cidade estava escura; a eletricidade tinha sido cortada sob ordens do ISI horas antes de o assalto começar. Um dos Black Hawk embateu numa das paredes dentro do complexo, ferindo vários elementos a bordo. “Eles sabiam que o tempo de que dispunham para a operação era curto, porque acordariam a cidade inteira no assalto”, referiu o agente aposentado. A cabine do Black Hawk acidentado, com o seu equipamento de comunicação e navegação, tinha de ser destruída por granadas de concussão, e isto criaria uma série de explosões e um incêndio visível por quilômetros. Dois helicópteros Chinook voaram desde o Afeganistão até uma base paquistanesa de informações próxima, para apoio logístico, e um deles foi imediatamente enviado para Abbottabad. Mas, porque o helicóptero fora equipado com um depósito com combustível extra para os dois Black Hawk, teve primeiro que ser reconfigurado como transportador das tropas. O acidente com o Black Hawk e a necessidade de arranjar um substituto representaram revezes que consumiram tempo e provocaram desgaste emocional, mas os SEAL continuaram a sua missão. Não houve combate aéreo quando chegaram ao complexo; os guardas do ISI tinham partido. “Toda a gente no Paquistão que tem uma posição de relevo tem uma arma, tipos ricos como aqueles que vivem em Abbottabad têm guarda-costas armados, e no entanto não havia armas no complexo”, apontou o agente aposentado. Se tivesse havido alguma oposição a equipe teria ficado muito vulnerável. Em vez disso, referiu o nosso agente, o funcionário conectado com o ISI que voava com os SEALs levou-os à casa escurecida e, subindo umas escadas, à base onde estava bin Laden. Os SEAL haviam sido avisados pelos paquistaneses que havia portas pesadas de ferro a bloquear o acesso às escadas nos patamares do primeiro e segundo andar; os quartos de bin Laden eram no terceiro andar. O esquadrão dos SEAL usou explosivos para abrir as portas, sem magoar ninguém. Uma das mulheres de bin Laden gritava histericamente, e uma bala, talvez uma bala perdida, atingiu-a num joelho. Para além daquelas que atingiram bin Laden, não se dispararam mais (a administração Obama tem outra versão).
“Eles sabiam onde estava o alvo; terceiro andar, segunda porta à direita”, referiu o agente. “Foram lá diretos. Osama estava escondido no quarto. Dois atiradores seguiram-no e abriram fogo. Muito simples, sem obstáculos, muito profissional.” Alguns dos SEAL mostraram-se mais tarde indignados perante a insistência inicial da Casa Branca de que teriam assassinado bin Laden em legítima defesa, referiu o agente. “Seis dos melhores e mais experientes oficiais dos SEAL, face a um civil desarmado teriam de o assassinar em legítima defesa? A casa era frágil e bin Laden vivia numa cela com barras na janela e arame farpado no telhado. As regras de empenhamento diziam que, caso bin Laden oferecesse alguma resistência, estavam autorizados a atirar para matar. Mas, caso suspeitassem que ele poderia ter qualquer espécie de arma escondida, como explosivos por baixo da roupa, também poderiam matá-lo. Portanto, ele aparece numas vestes misteriosas e eles atingem-no. Não que ele estivesse à procura duma arma. As regras davam-lhes absoluta legitimidade para assassinarem o caras.” A versão posterior da Casa Branca, de que apenas uma ou duas balas lhe acertaram na cabeça era “uma besteira”, referiu o agente. “O esquadrão entrou pela porta e perfurou-o. Como dizem os SEAL, ‘limpamos-lhe o sebo.’”
Depois de matarem bin Laden, “os SEAL ficaram ali, alguns com ferimentos do acidente, à espera do helicóptero de socorro”, referiu o agente. “Vinte minutos de tensão. O Black Hawk ainda a arder. Não há luzes na cidade. Não há eletricidade. Não há polícia. Não há carros dos bombeiros. Não têm prisioneiros.” As mulheres e os filhos de bin Laden foram entregues ao ISI para interrogatório e para serem realojados. “Apesar de tudo o que se dizia”, menciona o agente, não havia “sacos de lixo cheios de computadores e dispositivos de armazenamento. Os caras encheram as mochilas com livros e papeis que encontraram no seu quarto. Os SEAL não estavam lá porque pensaram que bin Laden estava à frente dum centro de comando para as operações da al-Qaida, como diria mais tarde a Casa Branca à mídia. E não havia naquela casa especialistas a reunir informação.”
Numa missão normal de assalto, refere o agente, não se esperaria caso um helicóptero fosse abatido. “Os SEAL teriam terminado a missão, guardado as armas e material, corrido para o Black Hawk que restava e đi đi mau (gíria vietnamita para sair com pressa) de lá, com caras pendurados nas portas. Não teriam explodido o helicóptero. Nenhum equipamento vale uma dezena de vidas. A não ser que soubessem que estavam a salvo. Em vez disso, ficaram por ali, no exterior do complexo, à espera que chegasse a camioneta.” Pasha e Kayani tinham cumprido as promessas.
***
A discussão no interior da Casa Branca começou assim que se tornou claro que a missão tinha tido sucesso. O corpo de bin Laden estaria supostamente a caminho do Afeganistão. Deveria Obama manter o acordo com Kayani e Pasha e pretender, cerca de uma semana mais tarde, que bin Laden fora morto num ataque com drones nas montanhas, ou deveria falar ao público imediatamente? O helicóptero abatido facilitou a vida aos conselheiros políticos de Obama para apressarem a segunda opção. A explosão e bola de fogo seriam impossíveis de esconder, e seria provável haver uma fuga de informação. Obama tinha de “adiantar-se em relação à história”, antes que alguém no Pentágono o fizesse; esperar diminuiria o impacto político.
Nem todos estavam de acordo. Robert Gates, secretário da defesa, foi o que mais falou, de quantos insistiram que os acordos com o Paquistão tinham de ser cumpridos. No seu livro de memórias, Duty, Gates não disfarçou a sua revolta:
Antes de a informação vir a público, antes do Presidente subir as escadas para dizer ao público norte-americano o que tinha acontecido, relembrei a todos que as técnicas, táticas e procedimentos que os SEAL tinham utilizado na operação bin Laden, eram utilizadas todas as noites no Afeganistão... era, portanto, essencial, que concordássemos em não revelar quaisquer pormenores do assalto. Só precisamos dizer que o matamos. Todos naquela sala concordaram em não revelar detalhes. Esse compromisso durou cinco horas. As primeiras fugas de informação vieram da Casa Branca e da CIA. Não podiam esperar para começar a dar nas vistas e a reclamar mérito. Os fatos estavam muitas vezes errados... De qualquer modo, a informação continuou a vir cá para fora. Fiquei furioso e às tantas disse a Donilon [Tom Donilon, conselheiro para a segurança nacional], "Porque raio é que não estão calados?" Mas foi em vão.
O discurso de Obama foi escrito às pressas, referiu o agente, e foi encarado pelos seus conselheiros como um documento político, não uma mensagem que precisava de ser submetida para aprovação à burocracia da segurança nacional. Esta série de declarações de interesse próprio e inexatas iriam criar o caos nas semanas seguintes. Obama afirmou que a sua administração descobrira que bin Laden estava no Paquistão através de uma “possível fuga de informação” em agosto passado; para muitos na CIA, a declaração sugeria um acontecimento específico, por exemplo, uma denúncia. Esta nota levou a uma reportagem de capa afirmando que os brilhantes analistas da CIA haviam desmascarado uma rede que lidava com o fluxo de comandos operacionais de bin Laden para a al Qaida. Obama também elogiou “uma pequena equipe de norte-americanos” pela sua preocupação em evitar mortes de civis e disse: “Depois de um tiroteio, mataram bin Laden e mantiveram consigo o cadáver.” Mais dois detalhes tinham de ser fornecidos para a reportagem: a descrição do tiroteio que nunca aconteceu e uma história sobre o que aconteceu ao cadáver. Obama prosseguiu elogiando os paquistaneses: “é importante notar que a nossa cooperação com o Paquistão na luta contra o terrorismo ajudou a levar-nos até bin Laden e ao complexo onde ele se escondia.” Esta afirmação trouxe o risco de expor Kayani e Pasha. A solução da Casa Branca foi ignorar o que Obama dissera e dar ordens a quem falasse com a imprensa para insistir que os paquistaneses não haviam desempenhado nenhum papel no assassínio de bin Laden. Obama deixou a impressão clara de que ele e os seus conselheiros não haviam tido a certeza de que bin Laden estivera em Abbottabad, mas apenas haviam tido informação “acerca da possibilidade”. Isto levou, em primeiro lugar, à história de que os SEAL tinham concluído que haviam assassinado o homem certo, pondo um homem de 1,80 m ao lado do cadáver para comparar (sabia-se bin Laden tinha cerca de um 1,90 m); e depois afirmar que um teste de DNA fora feito ao cadáver e demonstrara conclusivamente que os SEALs haviam morto bin Laden. Mas, de acordo com o nosso agente, não era claro, a partir dos primeiros relatórios dos SEAL, se o corpo de bin Laden, ou parte dele, regressara ao Afeganistão.
Gates não era o único responsável contrariado pela decisão de Obama de falar sem esclarecer antecipadamente o que iria dizer, disse o agente, “mas ele foi o único que protestou. Obama não traiu apenas Gates, mas s todos. Não se tratava de um cenário de guerra. O fato de haver um acordo com os paquistaneses e não haver análise de contingência do que deveria ser tornado público caso alguma coisa corresse mal, nada disso foi discutido. E quando de fato correu mal, tiveram que arranjar outra reportagem de capa em cima do joelho.” Houve uma razão legítima para alguma desilusão: o papel do informador dos paquistaneses tinha de ser protegido.
Foi dito ao grupo de imprensa da Casa Branca, num comunicado pouco depois do anúncio de Obama, que a morte de bin Laden fora “o culminar de anos de trabalho de informação minucioso e altamente avançado” que se concentrou em seguir um grupo de mensageiros, incluindo um que se sabia estar próximo de bin Laden. Foi dito aos repórteres que uma equipe de analistas da CIA e da Agência Nacional de Segurança especialmente reunido tinha localizado o mensageiro num complexo em Abbottabad altamente seguro. Depois de meses de observação, a comunidade de informação norte-americana tinha “confiança elevada” de que um alvo muito valioso estava a viver no complexo, e foi “confirmado que havia uma forte probabilidade de se tratar de Osama bin Laden.” A equipe de assalto norte-americana envolveu-se num tiroteio ao entrar num complexo e três adultos (pensa-se que dois deles eram os mensageiros) foram mortos, com bin Laden. Quando lhe perguntaram se bin Laden se tinha defendido, um dos homens deste grupo de imprensa disse que sim: “Ele resistiu à força de assalto. E foi morto num tiroteio.”
No dia seguinte coube a John Brennan, então assessor principal de Obama para o contra-terrorismo, a tarefa de falar sobre o mérito de Obama, enquanto tentava suavizar os erros no seu discurso. Ele forneceu um relatório mais detalhado mas também com erros sobre a incursão e o seu planejamento. Falando para registo, o que raramente faz, Brennan disse que a missão foi levada a cabo por um grupo de SEAL a quem haviam sido dadas instruções para capturar bin Laden vivo, se possível. Ele disse que os EUA não tinham informação que sugerisse que alguém no governo ou no exército do Paquistão sabia onde estava bin Laden: “Não contactamos os paquistaneses até todos os nossos homens e todos os nossos aviões abandonarem o espaço aéreo paquistanês.” Realçou a coragem da decisão de Obama em ordenar o ataque, e disse que a Casa Branca não tinha informações que confirmassem que bin Laden estava no complexo antes de o assalto começar. Obama, referiu, “fez aquilo que eu considero um dos mais arrojados atos de qualquer presidente nos últimos tempos.” Brennan também aumentou o número de assassinatos levados a cabo pelos SEAL no complexo para cinco: bin Laden, um mensageiro, o seu irmão, um dos seus filhos, e uma das mulheres que se disse terem servido de escudo a bin Laden.
Interrogado sobre se bin Laden tinha disparado sobre os SEAL, como a alguns repórteres havia sido dito, Brennan repetiu o que se tornaria um mantra da Casa Branca: “Envolveu-se num tiroteio com aqueles que entraram na área da casa onde estava. E se realmente houve baixas, muito francamente não sei... Aqui temos bin Laden, que tem reclamado estes ataques... vivendo numa área distante da frente, usando mulheres como escudo para se proteger... Acho que isto demonstra a natureza do indivíduo. ”
Gates também rejeitou a ideia, empurrada por Brennan e Leon Panetta, de que os serviços de informação norte-americanos haviam sabido onde estava bin Laden a partir de informação obtida mediante simulação de afogamento e outras formas de tortura. “Tudo isto acontece à medida que os SEALs regressam a casa da sua missão. Os caras da agência conhecem a história toda”, disse o nosso agente. “Foi um grupo de agentes da CIA aposentados novamente contratados. Haviam sido chamados por alguns dos que haviam planejado a missão na Agência para ajudar a compor a notícia. Nesse momento, os da velha guarda chegam e dizem: ‘porque não admitimos que obtivemos alguma informação sobre bin Laden a partir de interrogatórios sob tortura?’” Na altura, ainda se falava em Washington na possibilidade de se processar os agentes da CIA que haviam sido responsáveis pela tortura.
“Gates disse-lhes que isto não funcionaria”, disse o agente. “Ele nunca fez parte da equipe. Ele soube, na fase final da sua carreira, não fazer parte deste disparate. Mas o Estado, a Agência e o Pentágono tinham comprado a reportagem de capa. Nenhum dos SEAL pensou que Obama iria à televisão anunciar o assalto. O comando de forças especiais ficou apoplético. Orgulhavam-se de manter a segurança operacional. Nas Operações Especiais, referiu o agente, receou-se que, caso a verdadeira história das missões se tornasse conhecida, a burocracia da Casa Branca iria culpar os SEAL.”
A solução da Casa Branca foi manter os SEAL em silêncio. A 5 de maio, cada membro do hit team (eles haviam regressado à base no Sul da Virgínia) e alguns membros da liderança do Comando de Operações Especiais receberam um termo de não divulgação emitido pelo departamento jurídico; garantia penas civis e um processo para quem discutisse a missão, em público ou em privado. “Os SEAL não gostaram”, referiu o agente. Mas a maioria ficou em silêncio, tal como o Almirante William McRaven, que estava então à frente do Comando de Operações Especiais Conjuntas. “McRaven estava apoplético. Ele sabia que tinha sido fodido pela Casa Branca, mas é um SEAL convicto, e não um político, e sabia que do ato de denunciar o presidente não advém qualquer glória. Quando Obama tornou pública a morte de bin Laden, toda a gente teve de procurar uma nova história que tivesse sentido, e os responsáveis pelo plano foram mantidos em silêncio.”
Numa questão de dias, alguns dos exageros e distorções haviam-se tornado óbvios e o Pentágono emitiu uma série de declarações muito claras. Não, bin Laden não estava armado quando foi atingido e assassinado. E não, não usou uma das suas mulheres como escudo. A imprensa aceitou genericamente a explicação de que os erros foram o inevitável efeito colateral do desejo da Casa Branca acalmar os repórteres ansiosos por detalhes da missão.
Uma mentira que persistiu é a de que os SEAL tiveram de lutar até chegar ao alvo. Apenas dois SEAL fizeram declarações públicas: No Easy Day é um relato em primeira mão do assalto por Matt Bissonnette, publicado em setembro de 2012; e dois anos mais tarde, Rob O’Neill foi entrevistado pela Fox News. Ambos se tinham demitido da Marinha; ambos tinham disparado sobre bin Laden. Os seus relatos tinham várias contradições, mas as suas histórias corroboravam a versão da Casa Branca, especialmente no tocante à necessidade de matar ou ser morto, à medida que os SEAL combatiam para chegar a bin Laden. O’Neill disse mesmo à Fox News que ele e os seus companheiros SEAL pensaram “vamos morrer”. “Quanto mais treinávamos, mais pensávamos... esta vai ser uma missão de apenas um sentido.”
Mas o agente disse-me que, nas suas declarações iniciais, os SEAL não fizeram referência a um tiroteio, ou mesmo de qualquer oposição. O drama e o perigo de que falam Bissonnette e O’Neill vem de encontro a uma necessidade vital: “Os SEAL não suportam o fato de que mataram bin Laden sem terem tido oposição, tinha que haver um relato da sua coragem face aos perigos. Então os tipos iam sentar-se à mesa do bar e dizer que foi fácil? Nem pensar.”
Havia outra razão para afirmar que houvera um tiroteio dentro do complexo, disse o nosso agente: evitar a pergunta inevitável que se colocaria perante um assalto sem reposta. Onde estavam os guardas de bin Laden? Certamente, o mais procurado terrorista do mundo teria proteção 24 horas por dia. “E um dos que morreram tinha de ser o mensageiro, porque não existia e tínhamos de o inventar. Os paquistaneses não tiveram escolha senão alinhar.” (Dois dias depois do assalto, a Reuters publicou fotografias dos três mortos que disse ter adquirido de um agente do ISI. Dois dos homens foram mais tarde identificados por um porta-voz do ISI como sendo o alegado mensageiro e o seu irmão.)
***
Cinco dias depois do assalto, foi entregue ao grupo de imprensa do Pentágono uma série de vídeos que agentes dos EUA disseram pertencer a um grande conjunto que os SEAL teriam retirado do complexo, junto com cerca de 15 computadores. Trechos de um dos vídeos mostravam um bin Laden solitário, de aparência pálida, embrulhado num cobertor, a ver o que parecia ser um vídeo dele mesmo na televisão. Um agente não identificado disse aos repórteres que o assalto revelara “um tesouro... a maior coleção de materiais ligados ao terrorismo”, que traria valiosas informações sobre os planos da al-Qaida. O agente disse que o material mostrava que bin Laden “era ainda um líder ativo na al-Qaida, fornecendo instruções estratégicas, operacionais e táticas ao grupo... estava longe de ser um testa-de-ferro e continua a fornecer detalhes sobre a orientação do grupo mesmo do ponto de vista tático e a encorajar a conspiração”, a partir do que foi descrito como um centro de comando e controle em Abbottabad. “Era um membro ativo, o que tornava a operação ainda mais essencial para a segurança do nosso país”, referiu o agente. A informação era tão vital, acrescentou, que a administração estava a preparar um grupo de trabalho entre agências para o levar a cabo: “Ele não era apenas alguém que traçava a estratégia da al-Qaida, mas dava ideias operacionais no terreno e também dirigia especificamente outros membros da al-Qaida.”
Estas afirmações eram fabricadas: não havia muita atividade para bin Laden poder comandar e controlar. O agente de informação aposentado disse que os relatórios internos da CIA mostram que, desde que bin Laden se mudou para Abbottabad em 2006, apenas alguns ataques terroristas podiam ser ligados ao que restava da al-Qaida. “Foi-nos dito ao princípio”, disse o agente, “que os SEALs trouxeram sacos de coisas e que a comunidade gera relatórios de informação diários disto. E depois foi-nos dito que a comunidade está a juntar tudo e precisa de o traduzir. Mas ainda nada resultou daí. Acontece que cada coisa que criaram não corresponde à verdade. É um grande embuste; como o homem de Piltdown.” O agente aposentado afirmou que a maioria dos materiais de Abbottabad foram entregues aos EUA pelos paquistaneses, que mais tarde arrasaram o edifício. O ISI assumiu responsabilidade pelas mulheres e filhos de bin Laden, nenhum deles foi disponibilizado aos EUA para interrogatório.
“Porquê criar a história do tesouro?”, perguntou o nosso oficial? “A Casa Branca tinha de dar a impressão de que bin Laden ainda era importante nas operações. Porque, se assim não fosse, porquê assassiná-lo? Uma reportagem de capa foi criada; dizendo que havia uma corrente de mensageiros que iam e vinham com pen drives e instruções. Tudo para mostrar que bin Laden permanecia importante.”
Em julho de 2011, o Washington Post publicou o que pretendia ser uma súmula dalguns destes materiais. As contradições da história eram evidentes. Referia que os documentos haviam resultado em mais de quatrocentos relatórios de informação em seis semanas; deixou um aviso sobre enredos da al-Qaida não especificados; e mencionou a detenção de suspeitos “que são designados ou descritos em e-mails que bin-Laden recebeu.” O jornal não identificou os suspeitos nem esclareceu a contradição das anteriores declarações da administração, de acordo com as quais o complexo de Abbottabad não tinha ligação à Internet. Apesar das suas declarações dizendo que os documentos haviam gerado centenas de relatórios, o jornal também citou agentes dizendo que o seu principal valor não era a informação que continham, mas o fato de permitirem aos analistas “reconstruir um retrato mais global da al-Qaida.”
Em maio de 2012, o Combating Terrorism Centre, em West Point, um grupo de investigação privado, divulgou traduções que fez ao abrigo de um contrato com o Governo Federal, de 175 páginas de documentos de bin Laden. Os repórteres não encontraram nada do drama que havia sido referido logo a seguir ao assalto. Patrick Cockburn escreveu sobre o contraste entre as afirmações iniciais da administração de que bin Laden era a “aranha no centro de uma teia de conspiração” e o que as traduções mostravam na realidade: que bin Laden fora uma “ilusão” e tinha na verdade “contatos limitados com o mundo exterior ao seu complexo”.
O agente aposentado questionou a autenticidade dos materiais de West Point: “Não há ligação entre estes dois documentos e o centro de contraterrorismo na agência. Não havia análise da informação da comunidade. Quando foi a última vez que a CIA 1) anunciou que tivera uma descoberta significante no que toca a informação relevante; 2) revelou a fonte; 3) descreveu o método para processar os materiais; 4) revelou o cronograma para produção; 5) descreveu quem fazia a análise e onde esta era feita, e; 6) publicou os resultados antes da informação ser utilizada? Nenhum profissional da agência poderia corroborar este conto de fadas.”
***
Em junho de 2011, foi relatado no New York Times, no Washington Post e por todo o lado na imprensa paquistanesa que Amir Aziz tinha sido mantido para interrogatório no Paquistão; ele era, segundo se disse, um informador da CIA que espionara as idas e vindas no complexo de bin Laden. Aziz foi libertado, mas o nosso agente afirma que a espionagem dos EUA não conseguiu saber quem revelou a informação altamente secreta sobre o seu envolvimento na missão. Agentes em Washington decidiram que “não poderiam arriscar tornar conhecido o papel de Aziz na obtenção do DNA de bin Laden.” Era preciso um cordeiro para sacrificar, e o escolhido foi Shakil Afridi, um médico paquistanês de 48 anos e ocasionalmente colaborador da CIA, que fora detido pelos paquistaneses em maio passado e acusado de colaborar com a Agência. “Dissemos aos paquistaneses para irem atrás de Afridi”, disse o agente aposentado. “Tivemos de tratar todo o problema de como obtivemos o DNA.” Foi rapidamente reportado que a CIA organizara um programa de vacinação em Abbottabad com a ajuda de Afridi numa tentativa fracassada de obter o DNA de bin Laden. A operação médica legítima foi feita independentemente das autoridades de saúde locais, foi financiada e oferecia vacinas gratuitas contra a Hepatite B. Posters a anunciar o programa foram afixados pela área. Afridi foi mais tarde acusado de traição e condenado a 33 anos de prisão devido às suas ligações a um extremista.
Notícias do programa financiado pela CIA originaram uma vasta animosidade no Paquistão e conduziram ao cancelamento de outros programas internacionais de vacinação que eram agora vistos como cobertura de espionagem norte-americana.
O nosso agente afirmou que Afridi fora recrutado muito antes da missão de bin Laden como parte de um esforço de espionagem separado para obter informação sobre terroristas suspeitos em Abbottabad e cercanias. “O plano era usar as vacinas como meio para obter o sangue de suspeitos de terrorismo nas aldeias.” Afridi não tentou obter DNA dos residentes do complexo de bin Laden. A informação de que fora ele a fazê-lo foi uma “reportagem de capa da CIA que criava ‘fatos’” numa tentativa atabalhoada de proteger Aziz e a sua verdadeira missão. “Agora temos as consequências”, referiu o agente. “Um grande projeto humanitário para fazer alguma coisa significativa pelos camponeses foi comprometida e passou a ser um cínico embuste.” A condenação de Afridi foi anulada, mas ele continua na prisão, acusado de assassinato.
***
No discurso em anunciava o assalto, Obama disse que, depois de matar bin Laden, os SEAL “mantiveram o cadáver em seu poder”. A declaração causou um problema. No plano inicial deveria ser anunciado, cerca de uma semana depois do acontecimento, que bin Laden fora morto num ataque com drones algures nas montanhas na fronteira Paquistão / Afeganistão e que os seus restos mortais haviam sido identificados com recurso a testes de DNA. Mas com o anúncio de Obama do seu assassinato pelos SEALs, todos agora esperava que fosse revelado um cadáver. Em vez disso, foi dito aos repórteres que o corpo de bin Laden fora levado pelos SEAL para uma base aérea militar em Jalalabad, no Afeganistão, e depois para o USS Carl Vinson, um super porta-aviões em patrulha de rotina no Mar da Arábia. Bin Laden fora enterrado no mar, horas depois da sua morte. O grupo de imprensa mostrara-se cético apenas durante a comunicação de John Brennan em 2 de maio, que tinha que ver com o funeral. As perguntas foram curtas, diretas, e raramente tiveram resposta. “Quando é que foi decidido que ele seria enterrado no mar se fosse morto?”; “Isto fazia parte do plano desde o início?”; “Será que podem dizer-nos porque é que isso foi uma boa ideia?”; “John, consultou um perito em assuntos islâmicos para essa questão?”; “Existe uma gravação de vídeo deste funeral?” Quando esta última questão foi colocada, Jay Carney, Secretário de Imprensa de Obama, veio em socorro de Brennan. “Temos de dar aos outros uma hipótese.”
“Achamos que a melhor maneira de ter a certeza de que o seu cadáver teria um funeral islâmico apropriado”, disse Brennan, “era fazer o que nos permitisse realizar esse funeral no mar.” Ele disse que “foram consultados especialistas e peritos”, e que o exército dos EUA era perfeitamente capaz de levar a cabo o funeral “de acordo com a lei islâmica”. Brennan não mencionou que a lei islâmica diz que o serviço fúnebre deve ser conduzido na presença de um imã, e não houve nota de que estivesse algum a bordo do Carl Vinson.
Numa reconstituição da operação bin Laden para a Vanity Fair, Mark Bowden, que falou com vários altos funcionários da administração, escreveu que o cadáver de bin Laden foi limpo e fotografado em Jalalabad. Mais procedimentos necessários para um funeral muçulmano foram levados a cabo no porta-aviões, escreveu ele, “com o cadáver de bin Laden sendo lavado novamente, e enrolado num lençol branco. Um fotógrafo da marinha registrou o funeral em plena luz do sol, segunda-feira, dia 2 de maio”. Bowden descreveu as fotos:
Uma foto mostra o corpo enrolado num lençol espesso. Outra mostra-o de lado numa rampa, com os pés para fora. Noutra, vemos o corpo a entrar na água. Noutra, vemos-lo logo abaixo da superfície, com bolhas à volta. Os restos mortais de Osama bin Laden despareceram de vez.
Bowden foi cauteloso ao não afirmar que tinha visto realmente as fotografias que descreveu, e recentemente disse-me que não as vira: “Fico sempre desiludido quando não consigo ver as coisas com os meus próprios olhos, mas falei com alguém em quem confio, que disse que as vira e as descreveu em pormenor.” A declaração de Bowden acrescenta-se às questões em aberto sobre o alegado funeral no mar, que provocou uma avalanche de pedidos de informação ao abrigo da Lei de Liberdade de Informação, a muitos dos quais nada foi respondido. Um deles pedia acesso às fotografias. O Pentágono respondeu que uma pesquisa por todos os registos disponíveis não encontrara provas de que quaisquer fotografias haviam sido tiradas no funeral. Pedidos sobre outros assuntos relacionados com o assalto foram igualmente improdutivos. A razão para a ausência de resposta tornou-se clara depois do Pentágono ter feito um inquérito face a alegações de que a administração Obama tinha dado acesso a materiais secretos aos realizadores do filme Zero Dark Thirty. O relatório do Pentágono, que foi posto online em junho de 2013, observava que o Almirante McRaven tinha dado ordens para que os arquivos sobre o assalto fossem apagados de todos os computadores do Exército e movidos para a CIA, onde estariam protegidos de pedidos ao abrigo da Lei de Liberdade de Informação, devido à “isenção operacional” de que a Agência goza.
A ação de McRaven significava que os de fora não poderiam ter acesso à informação proveniente do Carl Vinson. Estes registos são sacrossantos na Marinha, e alguns em separado são mantidos para todas as operações por ar, para o convés, o departamento de engenharia, o gabinete médico, e o comando de informação e controle. Eles mostram a sequência de acontecimentos dia a dia a bordo do navio; se tivesse havido um funeral no mar a bordo do Carl Vinson, teria sido gravado.
Não havia rumores de um funeral entre os marinheiros do Carl Vinson. O navio concluiu o seu destacamento de seis meses em junho de 2011. Quando o navio atracou na sua base em Coronado, na Califórnia, o Contra-almirante Samuel Perez, comandante do grupo de ataque do Carl Vinson, disse aos repórteres que a tripulação recebera ordens para não falar do funeral. O Capitão Bruce Lindsey, comandante do Carl Vinson, disse aos repórteres que não poderia discutir o assunto. Cameron Short, membro da tripulação do Carl Vinson, disse ao Commercial-News de Danville, no Illinois, que nada fora dito à tripulação sobre o funeral. “Tudo o que ele sabe é o que viu nas notícias”, relatou o jornal.
O Pentágono divulgou uma série de e-mails à Associated Press. Num deles, o Contra-almirante Charles Gaouette relatou que o serviço seguiu os “procedimentos habituais dum funeral islâmico” e disse que nenhum dos homens a bordo tinha autorização para observar os procedimentos. Mas não havia indicação de quem lavou e embrulhou o cadáver, ou de que pessoa, de fala árabe, conduziu o serviço.
Semanas depois do assalto, dois consultores de longa data do Comando de Operações Especiais, que têm acesso à informação corrente, disseram-me que não houve nenhum funeral a bordo do Carl Vinson. Um deles disse-me que os restos mortais de bin Laden foram fotografados e identificados depois de terem sido levados de volta para o Afeganistão. O consultor acrescentou: “Nesse momento, o cadáver ficou sob controle da CIA. A reportagem dizia que fora levado para o Carl Vinson.” O segundo consultor concordou que não tivera lugar “nenhum funeral no mar“. Acrescentou que “o assassinato de bin Laden foi teatro político concebido para polir o prestígio de Obama enquanto chefe militar... Os SEAL deveriam ter esperado este aparato político. É irresistível para um político. Bin Laden tornou-se crédito.” No começo deste ano, falando outra vez com o segundo consultor, voltei a mencionar o funeral no mar. Ele riu-se e perguntou: “Quer dizer, ele não chegou à água?”
O nosso agente disse que houve outra complicação: alguns membros dos SEALs gabaram-se aos colegas e a outros de que tinham feito o corpo de bin Laden em bocados com os tiros. Os restos mortais, incluindo a cabeça, que tinha apenas alguns buracos de bala, foram depostos num saco e, durante o voo de helicóptero de regresso a Jalalabad, algumas partes foram atiradas para fora, sobre as montanhas do Hindu Kush, ou pelo menos foi isso que os SEAL disseram. Na altura, referiu o agente, os SEAL não pensaram que a sua missão seria tornada pública por Obama num espaço de poucas horas. “Se o Presidente tivesse avançado com a reportagem, não teria sido necessário um funeral poucas horas depois do assassinato. Depois de a reportagem ter sido queimada, e a morte ter sido tornada pública, a Casa Branca tinha em mãos um problema sério, o paradeiro do corpo. O mundo sabia que as forças dos EUA tinham assassinado bin Laden em Abbottabad. Foi o pânico. Que fazer? Era preciso um “corpo funcional”, porque temos de poder dizer que identificamos bin Laden por meio de uma análise ao DNA. Teriam sido oficiais da Marinha a ter a ideia do “funeral no mar”. Perfeito. Não havia corpo. Um funeral com honras de acordo com a Sharia. O funeral torna-se público em grande pormenor, mas documentos produzidos ao abrigo da Lei da Liberdade de Informação que confirmavam o funeral foram negados por razões de “segurança nacional”. É a desmontagem clássica de uma história mal contada, que resolve um problema imediato, mas, à primeira inspeção, verifica-se que não há provas. Nunca houve um plano, desde o início, para levar o corpo para o mar, e não teve lugar nenhum funeral de bin Laden no mar.” O nosso agente disse que, a acreditar nos primeiros relatos dos SEALs, não sobraria muito de bin Laden para enterrar, em qualquer dos casos.
***
Era inevitável que as mentiras, contradições e traições da administração Obama criassem um efeito de ricochete. “Tivemos um lapso de quatro anos na cooperação”, referiu o agente. “Demorou aos paquistaneses esse tempo para confiarem em nós outra vez na cooperação entre os exércitos contra o terrorismo; enquanto isso, o terrorismo escalava por todo o mundo... eles sentiram que Obama os atraiçoou. Agora estão a regressar porque a ameaça do ISIS, que agora está a aparecer por aqui, é muito maior e bin Laden está suficientemente longe para permitir a alguém como o General Durrani vir a público e falar sobre o assunto.” Os generais Pasha e Kayani reformaram-se e há relatos segundo os quais ambos estão a ser investigados por corrupção pelo tempo que estiveram em funções.
O relatório do Comitê de Informação do Senado sobre tortura da CIA que saiu em dezembro passado, depois de adiado por tanto tempo, atesta instâncias repetidas de mentiras oficiais, e sugere que o conhecimento da CIA sobre os mensageiros de bin Laden não passava de um esboço, na melhor das hipóteses, e era anterior ao uso de tortura por simulação de afogamento e outras formas de tortura. O relatório originou manchetes internacionais sobre brutalidade e simulação de afogamento, com pormenores sórdidos, como tubos de alimentação por via retal, banhos gelados e ameaças de violar ou assassinar membros da família dos detidos que se acreditava estarem na posse de informações. Apesar da má publicidade, o relatório foi uma vitória para a CIA. A sua principal descoberta (que o recurso à tortura não levou ao apuramento da verdade) fora já objeto de debate público ao longo de mais de uma década. Outra descoberta essencial (de que a tortura executada tinha sido mais violenta do que fora comunicado ao Congresso) era risível, considerando a quantidade de relatos e exposições públicas por antigos interrogadores e agentes da CIA aposentados. O relatório descreveu torturas que eram obviamente contrárias à Lei Internacional como violações das normas ou “atividades impróprias”, ou, nalguns casos, “erros de gestão”. Se as ações descritas constituem crimes de guerra ou não, não foi discutido, e o relatório não sugeriu que qualquer dos agentes da CIA ou os seus superiores deveriam ser investigados por atividade criminosa. A Agência não enfrentou consequências significativas como resultado do relatório.
O agente disse-me que as chefias da CIA se tornaram peritas em desviar de si ameaças sérias do Congresso: “Eles arranjam uma coisa horrível, mas não assim tão má quanto isso. ‘Ó meu Deus, estamos a enfiar comida pelo cu de um prisioneiro adentro!’ Entretanto, não falam ao comitê de assassinatos, e outros crimes de guerra, e prisões secretas como as que ainda temos em Diego Garcia. O objetivo era também atrasar o processo o mais possível, o que foi conseguido.”
O tema principal do sumário executivo de 499 páginas é que a CIA mentiu sistematicamente sobre a eficiência do seu programa de tortura para obter informação que impedisse futuros ataques terroristas nos EUA. As mentiras incluíram alguns detalhes essenciais sobre o desmascarar de um operacional da al-Qaida chamado Abu Ahmed al-Kuwaiti, que se disse ser o mensageiro chave da al-Qaida, e a consequente vigilância sobre este último até Abbottabad, no princípio de 2011. A alegada informação da agência, a paciência e perícia para descobrir onde estava al-Kuwaiti tornou-se lendária, depois da dramatização no filme Zero Dark Thirty.
O relatório do Senado levantou repetidamente questões sobre a qualidade e fiabilidade da informação da CIA sobre al-Kuwaiti. Em 2005, um relatório interno da CIA sobre a perseguição a bin Laden observou que os “detidos fornecem poucas ligações funcionais, e nós temos de considerar a possibilidade de que eles estão a criar personagens fictícios para nos distraírem ou se absolverem de conhecimento direto sobre bin Ladin [sic].” Um telegrama da CIA um ano mais tarde dizia que “não tivemos sucesso em extrair informação útil sobre o paradeiro de bin Laden de nenhum dos detidos.” O relatório também destacou várias instâncias em que agentes da CIA, incluindo Panetta, prestaram declarações falsas perante o Congresso e o público sobre o valor das “técnicas de interrogatório forçadas” na procura pelos mensageiros de bin Laden.
Hoje, Obama não encara a reeleição como na primavera de 2011. A sua posição de princípio a favor do acordo nuclear proposto com o Irã diz muita coisa, bem como a decisão de atuar sem o apoio dos republicanos conservadores do Congresso. A mentira de alto escalão mantém-se no entanto o modus operandi da política dos EUA, com prisões secretas, ataques com drones, incursões noturnas de Forças Especiais, sem passar por toda a cadeia de comando, e passando por cima de quem possa dizer que não.