Mike Davis
Tradução / A História foi sabotada. As "impossíveis" vitórias de Donald Trump em junho e em novembro, combinadas com o empolgante desafio feito por Bernie Sanders na campanha das primárias, acabaram por demolir muito da sabedoria política das elites, ao mesmo tempo que destruíram as duas dinastias, os Clinton e os Bush, que dominaram o cenário político americano nos últimos trinta anos. Desde Watergate não houve tanta sensação de incerteza e de uma desordem potencial se alastrando sobre todas instituições, redes e relações de poder, inclusive dentro do campo do próprio Trump.
O que antes era inimaginável, agora se tornou realidade: a Alt-right conseguiu fincar seu pé dentro da Casa Branca, um bando de maníacos cheios de ódio estão no controle da Segurança Nacional, um supremacista branco controla a máquina do Departamento de Justiça, a indústria do carvão tomou conta do Departamento de Comércio, o petróleo comanda a política internacional e uma milionária defensora do ensino em casa está encarregado da educação nacional. Bilionários obscuros como DeVoses e Mercers, que passaram anos
transformando Michigan e Texas em verdadeiros laboratórios das políticas de
direita agora irão receber o retorno por todo apoio que deram ao presidente
eleito, aproveitando-se de um tipo de influência que antigamente fazia parte de
histórias como as de Rockefeller ou Harriman. O carbono venceu a batalha do
Antropoceno e o caso Roe vs. Wade, que garantiu a jurisprudência em prol do
aborto, enfrenta o perigo de ser riscado da história. Numa eleição que estava
marcada pela força das mulheres, dos millenials, dos ambientalistas, dos negros, quem acabou vencendo foi uma extrema-direita geriátrica que distorce a forma
de fazer política.
A vitória de Trump, é claro, pode acabar sendo o último suspiro de uma
moribunda “cultura branca” que rapidamente será sucedida por um retorno ao "obamanismo" e a normalidade globalista ou, ao contrário, podemos estar
diante de uma virada para o mundo insólito do fascismo doméstico. Os
parâmetros para os próximos quatro anos são em grande medida
desconhecidos. Muito disso depende se os Republicanos vão conseguir
incorporar os velhos estados industriais do centro-oeste americano em seu reich
continental conectando-o, assim, aos estados republicanos do sul e do centroleste
do país. Se este for o caso, as vantagens estruturais do novo cenário
eleitoral, como indicou a National Review recentemente, podem acabar
alterando a dinâmica do voto popular por mais uma década.
Mas, independente deste cenário, o tema de maior importância para a esquerda é se a coalizão de Sanders, incluindo os sindicatos progressistas que o apoiaram, pode sobreviver enquanto movimento independente capaz de construir pontes para unificar as diferenças raciais e culturais existentes entre os trabalhadores americanos. Uma extraordinária reestruturação dos campos político, de quadros e de apoio está em andamento, em meio a uma atmosfera de caos e incerteza, mas é preciso entender mais claramente se 2016, de fato, refletiu ou mesmo antecipou um realinhamento fundamental das forças sociais.
Mas, independente deste cenário, o tema de maior importância para a esquerda é se a coalizão de Sanders, incluindo os sindicatos progressistas que o apoiaram, pode sobreviver enquanto movimento independente capaz de construir pontes para unificar as diferenças raciais e culturais existentes entre os trabalhadores americanos. Uma extraordinária reestruturação dos campos político, de quadros e de apoio está em andamento, em meio a uma atmosfera de caos e incerteza, mas é preciso entender mais claramente se 2016, de fato, refletiu ou mesmo antecipou um realinhamento fundamental das forças sociais.
Liberando o mal
"Essa não vai ser uma eleição baseada em gentileza"
— Donald Trump
A narrativa dominante, aceita por muita gente da direita e da esquerda, é
que Trump canalizou uma onda de ressentimento da classe trabalhadora branca,
mobilizando gente que tradicionalmente não participava das eleições, assim
como trabalhadores alienados, Republicanos e Democratas, inclusive alguns que
estavam atraídos por Bernie Sanders. Os analistas políticos, assim como o
próprio Trump, enfatizaram as afinidades da sua campanha para com os
movimentos nacionalistas de direita na Europa, que também afirmam lutar
contra a globalização em nome dos trabalhadores abandonados e dos pequenos
negócios.
Também foram constantemente citadas as pesquisas que mostravam a extraordinária popularidade de Trump dentre os homens brancos sem educação superior, ainda que as mesmas pesquisas indicassem que sua margem maior de vantagem vinha justamente de Republicanos de classe média. (Se acreditarmos nas pesquisas em Wisconsin e outros lugares, cerca de 20% dos eleitores do Trump não tinham opinião favorável para com o candidato e taparam seus narizes quando foram às urnas). De qualquer forma, ele conseguiu cerca de um terço dos distritos em que Obama havia sido eleito e reeleito. Contudo, até que saia o Censo analisando as mudanças demográficas, aos cientistas políticos só resta especular se essas mudanças são em termos de preferências partidárias, ou se as abstenções foram as principais responsáveis pelos resultados.
Mas o que segue, a partir desse quadro, é a interrogação cética acerca dessa narrativa que utiliza dos índices de votação nos distritos para comparar a campanha presidencial de 2016 com a de 2012, especialmente focando nas regiões industriais mais antigas no centro-oeste e nos Appalachia. Um número
considerável de diferentes padrões de votação emergiu, sendo que apenas um
deles realmente corresponde ao estereótipo “Democratas pró-Trump”. O
fenômeno é real, mas está limitado a distritos problemáticos do rustbelt, que
vai de Iowa até Nova York, onde uma nova onda de fechamentos de fábricas e
realocações coincidiu com o aumento de populações imigrantes e de refugiados.
As análises eleitorais associaram de maneira consistente os votos dos operários
conquistados pelos candidatos Republicanos com uma migração mais modesta
e localizada do voto da classe operária dos Democratas para Trump. Foram
centenas de milhares de eleitores brancos e trabalhadores que trocaram seus
votos em Obama, nas eleições passadas, pela visão de Trump de
reindustrialização e comércio justo – mas não foram os milhões que costumava
se afirmar nas narrativas tradicionais. Eu não estou dizendo com isso que essas
brechas substanciais dentro da classe trabalhadora não podem ser expandidas a
partir de apelos a uma identidade branca combinada a um nacionalismo
econômico, mas sim que talvez estejamos dando ênfase demais a essas brechas
como se elas fossem o ponto central da vitória de Trump.
O "milagre" da campanha do magnata, além de seu grande sucesso em
manipular a cobertura negativa que recebia da mídia e torná-la uma arma a seu
favor, foi passar a capturar a totalidade do voto em Mitt Romney, sem grandes
perdas (ou seja, mulheres Republicanas com ensino superior, latinos
conservadores e católicos), algo que as pesquisas antes previam que não
aconteceria e que Hilary Clinton receberia esses votos. Como num mistério de
Agatha Christie, Trump eliminou seus confusos oponentes nas primárias, um
atrás do outro, com comentários mordazes, ao mesmo tempo em que batia nos
temas centrais da corrupção das elites, acordos comerciais traiçoeiros (culpando
Índia e China por serem “os maiores ladrões de empregos da história
mundial”), imigrantes terroristas e o declínio das oportunidades econômicas
para os brancos. Com o apoio da Breitbart News Network e da Alt-right, ele
acabou se tornando o substituto perfeito para o velho Pat Buchanan.
Mas se o nacionalismo visceral e o ódio dos brancos deram a Trump a nomeação para disputar a presidência, ela certamente não era suficiente para garantir que os grandes batalhões do GOP (a cúpula dos Republicanos) não fariam campanha contra ele, especialmente os evangélicos que tinham apoiado Ted Cruz nas prévias. O golpe de gênio de Trump, então, foi deixar a direita religiosa criar o programa Republicano, incluindo apoiadores de Cruz como David Barton e Tony Perkins. E para ter certeza de que teriam eles ao seu lado, Trump permitiu que eles escolhessem um de seus ídolos como vice na chapa. Ao mesmo tempo, Rebekah Mercer, cujo super-PAC (Political Action Committee) controlado pela família Mercer foi um dos apoiadores diretos de Ted Cruz, acabou apoiando Trump na montagem de seu grupo político: entraram aí a pesquisadora Kellyane Conway, o diretor do grupo Citizens United, David Bossie e um dos diretores da Breitbart News, Stephen Bannon. (“É difícil subestimar a influência que Rebekah tem no mundo de Trump nesse momento”, afirmou uma fonte para a revista Politico após as eleições). Essa fusão de duas insurgências republicanas que são, em sua origem, antiestablishment, foi o fator crucial que muitos analistas eleitorais acabaram deixando de lado. Eles exageravam o fator “populista” e seu impacto na classe trabalhadora enquanto subestimavam a força dos movimentos anti-aborto e outros grupos sociais-conservadores na vitória de Trump. Com a Suprema Corte em risco e Mike Pence sorrindo no púlpito, era fácil para a congregação republicana perdoar os pecados do novo líder. Trump, por sua vez, recebeu uma grande porcentagem de votos de evangélicos, maior até que Romney, McCain ou Bush, enquanto Clinton, por sua vez, foi pior do que Obama entre os católicos – especialmente entre os latinos, onde perdeu 8 pontos. E, para além de todas as expectativas, Trump também conseguiu ir melhor do que Romney nos subúrbios.
Mas – e aqui, um importante esclarecimento – ele não conseguiu mais votos que Romney nem no sul e nem no centro-oeste norte-americano. Clinton, por sua vez, recebeu quase um milhão de votos a menos do que Obama no sul e quase três milhões a menos no centro-oeste (ver Tabelas n. 1 e 2). Abdicando de qualquer esforço maior em cidades industriais de pequeno porte, Hilary Clinton concentrou-se quase totalmente nos grandes distritos metropolitanos e nos maiores mercados de mídia. Além disso, ao contrário de Obama, não buscou consolidar uma estratégia para atingir os evangélicos e sua posição em relação ao aborto, ainda que mal interpretada, acabou alienando uma boa parte do eleitorado católico que Barack Obama havia consolidado. Além disso, ela ignorou completamente os pedidos de Tom Vilsack, Secretário de Agricultura, para investir recursos de campanha nas áreas rurais do país. Enquanto Trump foi de fábrica em fábrica no interior do país, o itinerário de Clinton deixou de lado todo o estado de Wisconsin, assim como boa parte dos centros mais disputados, como Dayton (Ohio). O campo de Hilary Clinton obviamente acreditou que o tom agressivo de apoiadores como Obama e Sanders, reforçado por celebridades como Bruce Springsteen e Beyoncé, garantiriam uma virada nos espaços de afro-americanos e millennials nos grandes centros urbanos, enquanto ela arrebanharia os votos de mulheres republicanas nos subúrbios.
Sem explicação alguma, Hilary Clinton ignorou os sinais de perigo que vinham do rustbelt e permaneceu “totalmente calada quando se tratava da economia e de qualquer plano futuro para ajudar as pessoas”. Sua estupefata desatenção sobre o mal-estar dos eleitores em distritos não-metropolitanos dominados pelos Democratas provou ser sua ruína perante o Colégio Eleitoral, apesar das grandes maiorias populares que ela atingiu na costa oeste (ela só conseguiu atingir ou mesmo superar a votação de Obama em Massachusetts, Geórgia, Texas, Arizona e Califórnia – os últimos três, é claro, por conta de uma tremenda mobilização da comunidade latina).
Em três estados-chave (Florida, Wisconsin e Michigan), um fator adicional na derrota de Hilary foi um índice de abstenção das comunidades afro-americanas, que acabou sendo maior do que em 2012. Em outras palavras, a reforma no sistema de previdência, a política de super-encarceramentos e o NAFTA tinham voltado para assombrar Clinton. Além disso, em Wisconsin e Michigan ela não conseguiu chamar para si a juventude que estava em torno de Sanders e em ambos os estados, os votos para Jill Stein – do Partido Verde – acabaram diminuindo ainda mais a margem de votos de Hilary Clinton.
É preciso tomar cuidado, porém, ao despejarmos toda a culpa em Clinton e no seu círculo problemático de influências. Se este tivesse sido o principal problema, os Democratas locais rapidamente dariam um jeito de supera-lo. De fato, isso raramente aconteceu e em muitos estados, seu índice de votação acabou sendo maior do que muitos dos congressistas Democratas que tinham suas bases eleitorais nestes lugares. O mal-estar que se abateu sobre o partido, para dizer francamente, acabou permeando todos os níveis de sua estrutura, incluindo o incrivelmente inapto Comitê Congressista de Campanha Democrata (DCCC, no original). No centro-oeste, em particular, os Democratas vêm enfrentando uma série de derrotas, fracassando ao nomear veteranos como o antigo prefeito de Milwaukee, Tom Barrett (que perdeu para Scott Walker em 2012) e o ex-governador de Ohio, Ted Strickland (que perdeu de lavada para Rob Portman na disputa para o Senado). Enquanto isso, para a equipe de notáveis de Obama que controla a Casa Branca, não reforçar o trabalho dos Democratas locais foi, por vezes, a prioridade exclusiva. Como resultado disso, excetuando a costa oeste, os Estados Unidos viram os Republicanos superarem sua marca de 1920 em termos de assentos legislativos. Vinte e seis estados agora são considerados “trifetas” Republicanas (ou seja, o partido controla ambas as câmaras e o Executivo) versus míseras seis “trifetas” Democratas. Para piorar, iniciativas progressistas de cidades Democratas como Minneapolis (com um sistema de seguro-desemprego) e Austin (que tornou-se uma cidade santuário, recusando-se a deportar imigrantes) enfrentaram o veto de legislaturas reacionárias.
Além disso, como demonstrado recentemente por pesquisadores da Brookings Institution, desde 2000 uma paradoxal dinâmica “centro-periferia” acabou emergindo dentro do sistema político americano. Os Republicanos aumentaram sua força eleitoral nacional, mas acabaram perdendo força nos distritos mais centrais da economia:
Os eleitores de Trump, entendidos numa dinâmica de campo contra as cidades, tornaram-se uma espécie de versão americana do Khmer Vermelho. Algumas partes dessa “outra América”, é bem verdade, já eram territórios Republicanos desde muito tempo, dominadas por grandes fazendeiros, pregadores evangélicos, pequenos capitães de indústrias e banqueiros, assim como por descendentes da Ku Klux Klan. Mas a antiga postura autonomista das cidades pequenas Democratas, com seus distritos fabris e mineradores, não mais existe e hoje essa condição é reflexo tanto da marginalização dos antigos sindicatos do Congresso de Organizações Industriais (CIO, uma das maiores centrais sindicais da história americana) dentro do partido. Aqui, o estereótipo acaba se tornando bastante preciso – o partido priorizou as grandes indústrias: Hollywood, o Vale do Silício e Wall Street. O lado digital dos Estados Unidos vota com os Democratas, mas o lado analógico, apesar de ser mais pobre, vota com os Republicanos.
Por fim, precisamos saber reconhecer o bizarro quadro em que se deu a disputa. Ao comparar outras análises eleitorais, a estrutura do sistema geralmente parte do princípio da ausência de mudança entre os ciclos. E esse definitivamente não foi o caso em 2016. Graças a decisão da Suprema Corte em favor da Citizens United (em 2010), essa foi a segunda eleição presidencial com abundância de doações privadas e, em contraste com 2012, os aparatos nacionais dos partidos perderam o controle das primárias para os chamados “partidos sombra” de Trump e Cruz. No caso dos Democratas, eles perderam o controle para a cruzada sem precedentes de Sanders, com o seu financiamento de base. Essa também foi a primeira eleição conduzida após a o Voting Act Rights ter sido esquartejado no Congresso, o que levou lideranças congressistas Republicanas a adotarem estratégias de “supressão do voto”. Como resultado dessa prática, “14 estados tiveram novas restrições ao direito de voto em 2016, incluindo aqui leis mais restritivas sobre uso de identificação, redução de horários para votar e diminuição no número de locais de votação”. O fechamento arbitrário das seções eleitorais foi absurdamente alto em estados como Arizona, Texas, Louisiana e Alabama.
E, como um apavorado David Brooks enfatizou, essa foi a primeira eleição do termo “pós-verdade”, afogada de forma surreal nas mentiras de Trump e seus apoiadores, com notícias falsas fabricadas na Macedônia, com chatbots invasores, o uso de “dark posts”, histrionismo, teorias conspiratórias e uma enxurrada mortal de revelações via e-mails hackeados. Considerando todos os pesos na balança (incluindo as intervenções de James Comey e Vladmir Putin), contudo, o efeito mais desastroso para a ex-Secretária de Estado foi a decisão da grande mídia em “equilibrar” as reportagens, dando igual cobertura tanto para os seus e-mails vazados como para a série de violências sexuais promovidas por Donald Trump. “No decorrer da campanha de 2016, as três grandes redes de televisão apresentaram programas de notícias que registravam 35 minutos de assuntos políticos variados. Enquanto isso, eles devotaram 125 minutos para os e-mails da ex-senadora Clinton”.
A mítica muralha azul
A “muralha azul” de Clinton rachou em Minnesota, foi sutilmente invadida em Wisconsin, Michigan e Pensilvânia e colapsou totalmente em Ohio (e Iowa, se considerarmos que aquele era um estado dos Democratas). Grande parte dos distritos de Obama em 2012, localizados no noroeste de Illinois, leste de Iowa, oeste de Wisconsin e Minnesota, além do norte de Ohio e de Nova York foram vencidos por Trump em 2016.
A margem de vitória – que é basicamente o percentual da diferença entre os votos de Clinton e Obama – caiu para 15 pontos em Virgínia Ocidental, Iowa e Dakota do Norte; de 9 a 14 pontos no Maine, em Rhode Island, Dakota do Sul, Havaí, Missouri, Michigan e Vermont. Na parte mais ao sul de Wisconsin, no antigo autobelt (nos distritos de Kenosha e Rock), lugares onde Obama havia esmagado Romney em 2012, o voto dos Democratas caiu cerca de 20% e o distrito de Kenosha, antiga fortaleza da União dos Trabalhadores Automotivos (UAW em inglês, a principal central sindical de trabalhadores automotivos nos Estados Unidos), acabou caindo nas mãos de Trump.
Mesmo em Nova York, seu próprio território, Clinton acabou ficando 7% atrás de Obama, graças a uma massiva campanha pelo voto republicano na parte leste de Long Island (mais especificamente no distrito de Suffolk County) e um apoio tímido da classe trabalhadora Democrata nos antigos distritos industriais da parte norte. De acordo com as pesquisas finais, ela conseguiu 51% dos votos das famílias sindicalizadas, um desempenho fraco comparado com os 60% de Obama em 2008 e 2012. Mas isso não é surpreendente, pois Trump derrotou o voto dos sindicalistas que apoiaram os três adversários Republicanos nas prévias e, em Ohio, chegou a conseguir uma maioria definitiva dessa categoria.
Esse padrão é particularmente irônico, pois os Democratas em muitos desses redutos votaram em Hillary Clinton nas primárias de 2008. De fato, essas regiões presumivelmente eram consideradas distritos de Clinton. “Como eles conseguiram perder Michigan com 10 mil votos?”, reclamou o pesquisador veterano Stanley Greenberg, um dos arquitetos mais importantes da vitória de Bill Clinton em 1992.
Mas um fator central determinou esse resultado: os Republicanos assumiram uma estratégia agressiva para ampliar seu domínio no rustbelt, apoiados por uma impressionante infraestrutura de think-tanks regionais, com doadores bilionários locais e verdadeiros magos do gerrymandering[16] nos Comitês de Lideranças Estaduais Republicanas (RSLC, em inglês). Por outro lado, os Democratas em muitos desses lugares, especialmente naquelas regiões industriais não-metropolitanas (que são tão comuns no centro-oeste americano), foram praticamente abandonados pelo DCCC, que não ofereceu nenhum tipo de auxílio para evitar a crescente pauperização dessas comunidades – a parte, claro, dos resgates à General Motors e a Chrysler, em 2009, na esteira da crise de 2008.17
Quem já leu o best-seller de David Daley, Raftf**ed, sabe que Karl Rove e seus asseclas conservadores responderam à crise profunda do poder Republicano em 2008 com um audacioso plano para retomar o poder em Washington lançado mão de uma política de “redistritamento” para a próxima década – sendo o centro-oeste o alvo preferencial. Como Rove escreveu em 2010 no Wall Street Journal,
Neste contexto, como Daley mostra, a bagatela (de cerca de 30 milhões de dólares) gasta nas disputas estaduais em 2010 acabou produzindo uma revolução na estrutura de poder do partido, com os Republicanos vencendo quase todos os 700 assentos desejados e tomando o controle de legislaturas centrais como Wisconsin, Ohio e Michigan, assim como na Florida e na Carolina do Norte. A reengenharia dos distritos produzida por computador produziu um novo mapa dos sonhos que fez não apenas os Republicanos controlarem o Congresso, mas também deixá-los invulneráveis até a publicação do Censo de 2020 – apesar do fato de que demograficamente, os Democratas seriam mais favorecidos.
A piece d’resistance foi o gerrymandering de Ohio, supervisionado pelo conservador John Boemer: “O Comitê Nacional Republicano controlou a reengenharia de 132 distritos de legislativo estaduais e 16 distritos de congressistas. A alteração das áreas distritais resultou numa arrebatadora vitória Republicana em 2012 no Senado e permitiu que uma maioria republicana de 12 a cada 4 deputados no Congresso – apesar de que a maioria dos votos nos candidatos Republicanos foi apenas de 52%.” (Há piores casos: na Carolina do Norte, em 2012, os democratas ganharam a maioria dos votos no Congresso em todo o estado, mas ganharam apenas quatro dos treze assentos da Câmara).
No centro-oeste, as vitórias do Tea Party, em 2010, levaram uma nova geração de ferrenhos Republicanos ao poder, muitos deles cultivados por thinktanks da extrema direita, como o Indiana Policy Review Foundation (que já foi liderada por Mike Pence, atual vice-presidente de Trump), o Michigan’s Mackinac Center, o Wsiconsin’s MacIver Institute e o Minnesota’s Center of the American Experiment, todos eles embrenhados numa luta até a morte contra os sindicatos de servidores públicos dessas regiões, assim como contra os governos progressistas das grandes cidades. Coordenando suas ações por meio da State Policy Network (que controla 65 think-tanks conservadores) e da American Legislative Exchange Council, eles lançaram campanhas para destruir o direito de barganha dos servidores públicos, enfraquecer os sindicatos a partir das chamadas leis right to work e privatizar a educação pública a partir de um sistema de vouchers.
Eles acabaram focando, em outras palavras, o incremento de suas forças legais e estruturais de tal forma que para os Democratas seria difícil, se não impossível, fazer qualquer coisa que não fosse recuar diante da ofensiva conservadora. Sindicatos e estudantes, é claro, conduziram uma resistência épica em Wisconsin em 2011, mas no final foram incapazes de derrotar o governador Republicano Scott Walker em 2016, o que se deve em grande parte a falta de apelo da candidata Democrata. Em Ohio, os sindicatos conseguiram ter mais sucesso e conseguiram repelir o referendo que ia criar um sistema de trabalho banindo a contribuição sindical, mas em Indiana, Michigan e Virgínia Ocidental, as maiorias Republicanas conseguiram estabelecer essesistema, sendo que em Michigan foi estabelecido um sistema de vouchers para as escolas públicos inspirados pelo Mackinac Center.
Essa ideia Republicana de buscar os cargos menos valorizados, seja no Legislativo e no Judiciário, ironicamente foi beneficiada enormemente pela falta de apoio a Trump por parte Irmãos Koch e outros mega-doadores conservadores que acabaram mudando sua orientação e financiando menos a disputa presidencial e focando mais na preservação do Congresso. Pela primeira vez, os super-PACs gastaram mais na disputa para o Senado do que na campanha presidencial. O New York Times, por exemplo, estimou que Trump recebeu 2 bilhões de dólares em publicidade gratuita da mídia e, portanto, foi pouco afetado por isso. Mas a imensa injeção de verbas nas corridas regionais foi algo revolucionário.
Mais de 75% dos fundos das campanhas para o Senado vieram de recursos de fora dos estados de origem dos senadores e, além disso, “apenas três grupos, One Nation (Adelson), Americans for Prosperity (uma rede dos irmãos Koch) e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos foram responsáveis por 67% de todos os gastos em campanha”. O resultado disso, de acordo com alguns cientistas políticos, acabou sendo a “nacionalização” da política regional. “Como resultado da crescente conexão entre corridas presidenciais e disputas regionais, a antiga divisão que existia entre política regional e política nacional acabou desaparecendo em boa parte do país”. Assim, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, em 2016 “não tivemos discrepâncias entre os votos nas corridas para o Senado e para presidente: os 34 estados que elegeram senadores acabaram votando no mesmo partido para os dois cargos.”
Tampouco não é segredo algum que um dos inadvertidos aliados dos Republicanos foi justamente Barack Obama, cuja transloucada concepção de presidência não incluía servir como liderança partidária, ao menos não da forma antiga, com o estilo sempre presente de um Lyndon Johnson ou de um Clinton. Em 2010, 2012 e 2014, os candidatos Democratas reclamaram com amargura da falta de apoio da Casa Branca, especialmente nos estados do sul, como Louisiana e Texas.
Obama terminou a sua presidência com os Democratas depois de perder cerca de mil assentos legislativos ao redor do país. As legislaturas Republicanas agora almejam Missouri e Kentucky – além de possivelmente ter olhos também para Ohio, Pensilvânia e New Hampshire (em Missouri e New Hampshire, as emendas de flexibilização do trabalho foram recentemente aprovadas pelas legislaturas, mas vetadas pelos governantes Democratas. Mas agora ambos estados são governados por Republicanos). É possível chamar isso de sulização [Southernization] ou southernização ou dixieficação [Dixiefication] do centrooeste americano.
Berços do CIO
Os aspectos milenaristas da campanha de Trump – o nativismo mágico e a promessa de um mundo restaurado – não receberam muita atenção, mas curiosamente, junto com a bizarra síndrome de Tourette do presidente, eles são uma de suas principais características. A promessa de Clinton de manter completamente o legado de Obama pareceu incrivelmente juvenil comparada com a segurança que Trump passava, mais sectária do que demagoga, quando falava que “os empregos voltarão, os salários vão aumentar e novas fábricas irão voltar correndo para as nossas terras”.
Dentro do campo dos “Democratas pró- Trump”, especialmente aqueles eleitores da classe trabalhadora branca que votaram em Obama e que mudaram de perspectiva em Ohio e Pensilvânia, cabe destacar que a sua sedução pelo canto do presidente tomou contornos desesperadores, muito semelhantes ao dos cultistas do cargueiro da ilha da Papua. Eles estavam rezando por fábricas mágicas, tal como descrito no clássico de Peter Worsley, The Trumpet Shall Sound [A trompeta soará].
Se Trump é uma mistura de P.T. Barnum e Benito Mussolini, ele também se tornou John Frum, o “misterioso homenzinho [um marinheiro americano?] com cabelo desbotado, voz aguda e jaqueta com botões brilhantes” que alguns melanésios adoravam porque ele supostamente traria um “cargueiro” dos céus até a ilha de Tanna, durante a Segunda Guerra Mundial. No final das contas, o campo dos sonhos “trumpianos” – com a expulsão de mexicanos, rendição dos chineses e fábricas voltando para a casa – não parece muito diferente da ideia de um navio industrial chegando na selva melanésia.
Essa percepção antropológica dotada de condescendência é justamente o que leva pessoas de Dubuque, Anderson e Massena a pegarem seus garfos e tochas contra os “liberais da elite” ou os “conservadores do establishment”. De fato, “deplorável”. Todos esses distritos possuíam o sindicalismo industrial em seu DNA, todas as cidades (ver Tabela n. 4) foram os berços de uma das maiores federações sindicais americanas, a CIO, durante as grandes disputas trabalhistas na época do New Deal. Com algumas poucas exceções (a dizer, 1972 e 1984), essas regiões se mantiveram leais ao Partido Democrata, fizesse chuva ou sol, votando massivamente a favor de Obama em 2008. Sendo assim, diante de indicadores econômicos positivos e do mais baixo índice de desemprego da década, por que esses velhos distritos industriais subitamente desertaram das fileiras Democratas e se deixaram levar pelo “culto cargueiro” do atual presidente e seu chamado à reindustrialização?
Mexendo com as estranhas peças do quebra-cabeça que é a candidatura Trump, a revista The Economist vaticinou, em novembro de 2016, que “o alto grau de ansiedade econômica que motivava os eleitores de Trump tinha sido exagerado”. Mas quando a análise vai para o âmbito micro, começam a emergir muitas razões para entender a emergência de tal ansiedade. Na Tabela n. 5, é possível ver a quantidade de fábricas fechadas durante a corrida eleitoral – evidência gritante de uma nova onda de desindustrialização e fuga de investimentos. Em quase todos os distritos que “viraram a casaca”, poderiam ser encontradas notícias, no jornal local, de uma grande indústria fechando suas portas ou mudando-se para outra cidade: lembranças amargas de que não havia mais um “Obama boom” orientando a economia.
Alguns exemplos podem ser vistos em Ohio. Pouco antes do feriado de Natal, em 2015, a West Rock Paper Company, principal empregadora no distrito de Coshoctin, fechou suas portas. Em maio, a centenária fábrica de locomotivas da General Electric, no distrito de Erie, anunciou que estava transferindo centenas de empregos para a sua nova fábrica em Fort Worth. No dia seguinte após o término da Convenção Republicana, em Cleveland, a First Energy Solutions anunciou que estava fechando sua principal usina nos arredores de Toledo, “a 238ª a fechar as portas nos Estados Unidos desde 2010”.
Ao mesmo tempo, em Lorain, a Republic Steel formalmente descumpriu a promessa de reabrir e modernizar o enorme parque industrial da US Steel, que outrora havia sido o maior empregador de toda a região. Enquanto isso, em agosto, a General Electric declarou que iria fechar suas fábricas de lâmpadas em Canton e em East Cleveland. Simultaneamente, trabalhadores estavam sendo demitidos na fábrica do Commercial Vehicle Group, em Martin’s Ferry, nas proximidades do rio Ohio (em Belmont County).
“Eu acredito que a perda de 172 empregos numa comunidade como a nossa e nos seus arredores é algo devastador” disse o superintendente municipal das escolas. “Esse é outro duro golpe no nosso vale, com as minas de carvão fechando, a usina desativada e agora isso. É só maisuma das muitas más notícias que recebemos, sempre uma depois da outra”.
E a raça? O que informa sobre a vitória de Trump? O candidato Republicano venceu, é óbvio, com o voto dos brancos em âmbito nacional, por uma vantagem de cerca de 21 pontos percentuais (um a mais do que Romney) e seus comícios de campanha foram verdadeiros Woodstocks para racistas. Ainda assim, como comentaristas da esquerda e da direita enfatizaram, esses territórios que “viraram a casaca” votaram – com apenas uma exceção – pelo menos uma vez em Obama. Nacionalmente, Trump conseguiu levar 10% dos antigos apoiadores de Obama. Talvez deva ser feita uma distinção entre os verdadeiros sturmtrumpen, os soldados de Trump que mobilizavam os comícios da extrema-direita, e aqueles que votaram anteriormente em Obama e que agora se converteram ao “culto do cargueiro” melanésio. Como um jornalista britânico apontou, contradizendo a própria linha editorial de seu jornal – que afirmava que a classe trabalhadora branca era o “motor” da insurgência de Trump – “em uma dezena de comícios de Trump, em quase todos os estados, ao longo do último ano, eu encontrei advogados, agentes imobiliários e uma verdadeira horda de aposentados e, de fato, pouquíssimos trabalhadores industriais”.
Por outro lado, há evidências de que houve uma retaliação regional nas eleições, algo que foi longamente costurado pelas forças do Tea Party, especialmente contra imigrantes e refugiados. Em parte, isso pode ser considerado resultado das polícias federais que alocavam refugiados em cidades com custo de vida baixa e moradia baratas, o que fez com que esses imigrantes fossem identificados como competidores em busca das poucas vagas de emprego que o setor de serviços ainda abria, além de se qualificarem para receber benefícios estatais aos quais muitos cidadãos não teriam acessos. Em Erie, cidade onde agora os refugiados constituem 10% da população e um exército industrial de reserva para a indústria dos cassinos local, temos um exemplo bastante paradigmático desse quadro.
Em outras áreas do rustbelt como, por exemplo, Reading, na Pensilvânia, as crescentes comunidades de mexicanos viraram alvos de contínuos ataques das populações locais, encorajadas por figuras do Tea Party e da Alt-right. Num recente estudo sobre as polícias estaduais e seus programas, Ohio foi considerado o pior estado no que diz respeito ao tratamento de imigrantes sem documentação; esse índice acabou sendo ratificado quando os Republicanos da legislatura de Ohio enviaram uma mensagem congratulatória (HCR 11) para o Arizona e para o xerife Joe Arpaio, um dos principais nomes a favor das leis anti-imigração.
Uma nota sobre uma terra esquecida
Newfoundland, Ordinary, Sideway e Spanglin são vilarejos de Elliot, um típico distrito de Appalachia, ao leste de Kentucky. Seus antigos moradores eram agricultores, plantavam tabaco e milho, mas agora muitos deles – os mais “afortunados”, segundo o padrão local – trabalham na prisão estadual de Little Sandy. A grande diferença em Elliot, contudo, é o seu índice de votação: talvez ele tenha sido o último distrito branco no sul a votar nos Democratas.
De fato, ele tem se mantido Democrata em todas as eleições presidenciais desde 1869. George McGovern, Walter Mondale e Michael Dukakis foram vencedores aqui e Obama, em 2008, derrotou McCain com quase o dobro de votos. E em 2012, apesar de Obama ter defendido abertamente os direitos dos homossexuais, ele ainda assim conseguiu superar Romney. Contudo, em 2016, Elliot finalmente acabou com a longa sequência de vitórias dos Democratas, com uma votação de 70% dos votos válidos indo diretamente para Trump e para os conservadores religiosos Republicanos.
Em toda a história política do pós-guerra, a região do Appalachia (composta por 428 distritos de planalto e montanhas que vai do Alabama até Nova York) só foi destaque nacional uma vez. Graças aos livros do socialista nova-iorquino, Michael Harrington (1962), The Other America. Poverty in the United States [A outra América. Pobreza nos Estados Unidos], e do advogado outsider de Kentucky, Harry Caudill, Night Comes to the Cumberlands [A noite chega à Cumberlands], é possível afirmar que a região chegou a obter um maior foco durante a época da “guerra à pobreza” das administrações Roosevelt em diante, mas depois acabou sendo abandonada quando da posse de Richard Nixon.
Esta região rapidamente se tornou a de maior concentração de pobreza branca na América do Norte, sendo abandonada não apenas por Washington D.C., mas também por cidades como Frankfort, Nashville, Charlestown e Raleigh, onde os lobistas da indústria do carvão e as grandes companhias sempre conseguiam ditar prioridades legislativas. Tradicionalmente, esses grupos tinham os capangas das máquinas eleitorais Democratas a seu favor, e essa acabou sendo por muito tempo uma região próxima ao partido. Em 1976, Carter venceu com 68% dos votos na região; em 1996, Clinton caiu para 47%.
Contudo, conforme os Democratas nacionalmente foram identificados cada vezmais com a “guerra contra o carvão”, com o aborto e o casamento gay, os poderosos Democratas locais acabaram sendo abandonados pelo voto popular. Além disso, os sindicatos de mineiros e metalúrgicos, apesar de terem em suas fileiras algumas das melhores lideranças em décadas, tiveram que lutar desesperadamente nos anos 1990 e 2000 para ter iniciativa política capaz de defender os empregos das indústrias e da mineração na região, sendo completamente ignorados pelo Conselho da Liderança Democrata (DLC, em inglês) e pela força ascendente do eixo Nova York/Califórnia de lideranças no Congresso.
Ironicamente, dessa vez Hillary Clinton realmente tinha um plano para os distritos carboníferos, ainda que estivesse nas letras miúdas de seu website e com pouquíssima publicidade. Ela defendeu importantes medidas de segurança para que os trabalhadores tivessem mais benefícios médicos, especialmente aqueles demitidos das empresas de carvão, e ainda propôs um auxílio fiscal para resolver a crise financeira das escolas na região. Tratava-se, na verdade, de um programa padrão: garantia isenções fiscais para novos investimentos, programas sociais para confecção de roupas para promover o empreendedorismo local, subsídios para a limpeza e conversão das minas em grandes centros de negócios (chegou a mencionar centros de dados da Google – algo bem próximo do “culto do cargueiro”). Mas não havia um grande programa para abertura de postos de trabalho, ou iniciativas de saúde pública para lidar com a pandemia devastadora de opiáceos na região.
Em certa medida, seu plano era uma imagem refletida de quão pequenas eram suas promessas para os pobres. Em última instância, este também não fez grande diferença na campanha, já que a única promessa de Clinton que foi lembrada foi: “Nós vamos fechar com as companhias de carvão e demitir os mineiros”. Suas únicas vitórias no Appalachia foram alguns poucos distritos universitários. Enquanto isso, Trump pegou uma carona com Jesus e reconquistou o voto de Romney.
A exceção foi a região de Virgínia Ocidental, onde os Democratas conseguiram tomar uma derrota tão acachapante que certamente irá parar no Guinness Book. O Wyoming, por si só, deu a Trump uma margem percentual de votos maior do que a nacional. Mas, mais impressionante que sua margem de 42 pontos à frente de Clinton, foi o fato de que ela recebeu 54 mil votos a menos do que os demais candidatos das primárias Democratas – uma disputa em que Sanders (que fez 125 mil no total) teria vencido em praticamente todos os distritos da região.
O fracasso em conquistar os votos dados nas primárias foi um índice abissal de quão impopular era a candidatura de Hillary Clinton. Enquanto isso, o Partido da Montanha, partido sui generis vinculado ao Partido Verde na Virgínia Ocidental, acabou focando suas atenções na corrida para governador (que foi vencida pelo bilionário Democrata e autoproclamado populista pró-carvão, Jim Justice) e conseguiu atingir 42 mil votos, um resultado encorajador sem dúvidas. Mas para além disso, os Republicanos dominaram as eleições das legislaturas estaduais e regionais e dos delegados do Congresso, uma vitória nunca antes obtida nesse já famoso estado Democrata.
Entender a política não-linear da Virgínia Ocidental nem sempre é fácil, especialmente desde que o Partido Democrata acabou dedicando a máquina eleitoral ao culto pessoal em torno de Joe Machin (ex-governador e atual senador) e de seu mais novo ajudante, Jim Justice. Contudo, uma coisa deve ficar clara e certamente ela o é para boa parte do Appalachia: uma imensa minoria de trabalhadores, guardiões de uma heroica história da classe operária, estão prontos para apoiarem alternativas radicais, mas apenas se elas simultaneamente se dirigirem à especificidade das crises econômica e cultural da região.
As lutas para manter os sistemas tradicionais de parentesco e o tecido comunitário social em Appalachia, ou até mesmo nos combalidos distritos negros da antiga região do algodão, no sul, devem ser tão importantes para os socialistas como a defesa dos direitos individuais nas escolhas de gênero e de liberdade de reprodução. E, geralmente, elas não andam juntas.
O que as bruxas estão cozinhando
“Se Huey Long estivesse vivo”, escreveu John Gunther, “ele iria levar o fascismo para os Estados Unidos”. Será que Trump está dando mais uma chance ao fascismo sulista de Huey Long?
Da mesma forma que o Long caracterizado por John Gunther, ele também é um “monstro confrontador”, assim como um “demagogo mentiroso, um prodigioso ególatra, vulgar, frouxo... um mestre do abuso político”. Assim como Long, ele “fez todo tipo de promessa aos despossuídos”, aparecendo para eles como “um salvador, um messias altruísta”.
Mas o “Peixe-Rei” [Kingfish] – apelido dado a Long por seus apoiadores – ao menos realizou algumas das coisas que ele prometeu fazer para o povo da Louisiana. Ele de fato trouxe o “navio cargueiro” na forma de serviços e direitos públicos. Ele construiu hospitais, moradias, aboliu os impostos comunitários e fez com que os livros escolares fossem gratuitos. Trump e seu ministério bilionário, por outro lado, estão mais próximos de reduzir o acesso ao sistema de saúde, aumentar a supressão do voto e privatizar a educação pública. O “fascismo”, se é o que nos reserva o futuro, não virá “disfarçado de socialismo”, como previu John Gunther (e, antes dele, Sinclair Lewis), mas sim como uma orgia neorromana de ganância.
A análise aqui apresentada focou apenas em uma parte do quebra-cabeças que se abate sobre os Estados Unidos: ou seja, os velhos distritos industriais e mineradores, que enfrentam um declínio há duas gerações. Ela não chega nem perto de ser uma síntese compreensiva. O quadro regional, por exemplo, pode parecer consideravelmente diferente se olharmos sob a perspectiva de uma grande parcela do serviço público e dos trabalhadores da indústria da saúde. Além disso, a história do rustbelt é, de certa forma, um fator político já debatido em outras ocasiões; a principal novidade na última eleição foi a politização das camadas mais populares de jovens universitários, principalmente aqueles oriundos de famílias de trabalhadores e imigrantes. O “trumpismo”, apesar de seu sucesso temporário, não consegue unificar as angústias econômicas dos millenials com aquelas dos velhos trabalhadores brancos porque, em última análise, ele acaba impondo o geriátrico privilégio branco como centro de todas as suas políticas.
O movimento de Sanders, por outro lado, mostrou que os descontentes da terra podem ser unidos sob um “socialismo democrático” que procura reacender as esperanças de um New Deal em prol de direitos econômicos fundamentais com os objetivos de igualdade e justiça dos movimentos por direitos civis. A verdadeira oportunidade para uma política realmente transformadora (“realinhamento crítico” se tornou até mesmo um arcaísmo) está nas mãos dos “senderistas”, mas somente enquanto se mantiverem rebeldes contra o establishment dos Democratas e apoiarem as resistências que emergem das ruas.
A eleição de Trump despertou uma verdadeira crise de legitimidade e a maioria dos americanos que agora se opõem a ele possuem somente duas saídas políticas possíveis: o movimento político de Sanders ou o ex-presidente Obama e seu séquito. Enquanto nossas esperanças e energias certamente recaem sobre o primeiro, seria tolice subestimar o segundo.
Com a destruição política de Hilary, não há um sucessor para Barack Obama. Ele é a única figura política de alcance mundial que restou e se tornará ainda maior fora da Casa Branca, principalmente quando sua presidência for lembrada com boas doses de nostalgia. (Muitos irão esquecer que a debacle atual, iniciada dentro do partido Democrata em 2010, traz a assinatura do presidente que acabou perdoando as dívidas de Wall Street no mesmo mandato que deportou 2,5 milhões de imigrantes.)
Chicago certamente se tornará a capital de um governo exilado, com a família Obama dirigindo seus esforços para revigorar o Partido Democrata e sua política centralizadora sem fortalecer a esquerda. (Se esse cenário de poder dual parece fantasioso, talvez seja bom lembrar da época do precedente de Teddy Roosevelt, em Sagamore Hill, durante o governo Taft.) Aqueles que acreditam que o núcleo progressista agora está controlando o poder dentro dos Democratas talvez fiquem frustrados quando Obama, mais uma vez, assumir a frente do partido a favor das elites.
Enquanto isso, Trump, seja ele o avatar do fascismo ou não, parece destinado a ser uma espécie de Macbeth americano, espalhando um caos hediondo nas grandes planícies do Potomac. A guerra social e política que virá é inevitável e poderá mudar o caráter do país pelo resto do século, especialmente se sincronizada com erupções similares na União Europeia e com o colapso dos governos populistas de esquerda na América do Sul.
Como o padrinho espiritual de Trump, Pat Buchanan, disse recentemente: “As forças do nacionalismo e do populismo foram despertadas em todo o Ocidente e em todo o mundo. Não há como voltar atrás.” Cenários globais arrepiantes são até fáceis de imaginar. É possível, até mesmo, vislumbrar a furiosa fundação de um regime “trumpista” que reprima duramente os protestos sociais e acabe incitando revoltas como as da década de 1960 nas cidades americanas, enquanto futilmente tenta reconciliar suas políticas econômicas contraditórias e promessas absurdas. A turbulência geoeconômica que se seguiu pode levar os europeus a convidar a China a assumir uma crescente liderança monetária e financeira dentro do bloco da OCDE.
2016, nesse cenário, marcaria o fim do "século americano". O ano de 2016, aqui, marcaria o fim do século americano". Numa visão alternativa, Pequim pode não desejar ter esse papel ou mesmo não conseguir ter a capacidade para alterar a lógica geopolítica global, ou mesmo de impedir essa parcial fratura nas cadeias produtivas transnacionais previstas para o governo Trump. Isso pode gerar tensões que atingem o Pacífico e ir até a Eurásia. Nesse caso, 2016 pode ser lembrado como o começo de uma des-globalização e de um mundo cada vez mais próximo da década de 1930 do que propriamente dos anos 2000.
Mas se o nacionalismo visceral e o ódio dos brancos deram a Trump a nomeação para disputar a presidência, ela certamente não era suficiente para garantir que os grandes batalhões do GOP (a cúpula dos Republicanos) não fariam campanha contra ele, especialmente os evangélicos que tinham apoiado Ted Cruz nas prévias. O golpe de gênio de Trump, então, foi deixar a direita religiosa criar o programa Republicano, incluindo apoiadores de Cruz como David Barton e Tony Perkins. E para ter certeza de que teriam eles ao seu lado, Trump permitiu que eles escolhessem um de seus ídolos como vice na chapa. Ao mesmo tempo, Rebekah Mercer, cujo super-PAC (Political Action Committee) controlado pela família Mercer foi um dos apoiadores diretos de Ted Cruz, acabou apoiando Trump na montagem de seu grupo político: entraram aí a pesquisadora Kellyane Conway, o diretor do grupo Citizens United, David Bossie e um dos diretores da Breitbart News, Stephen Bannon. (“É difícil subestimar a influência que Rebekah tem no mundo de Trump nesse momento”, afirmou uma fonte para a revista Politico após as eleições). Essa fusão de duas insurgências republicanas que são, em sua origem, antiestablishment, foi o fator crucial que muitos analistas eleitorais acabaram deixando de lado. Eles exageravam o fator “populista” e seu impacto na classe trabalhadora enquanto subestimavam a força dos movimentos anti-aborto e outros grupos sociais-conservadores na vitória de Trump. Com a Suprema Corte em risco e Mike Pence sorrindo no púlpito, era fácil para a congregação republicana perdoar os pecados do novo líder. Trump, por sua vez, recebeu uma grande porcentagem de votos de evangélicos, maior até que Romney, McCain ou Bush, enquanto Clinton, por sua vez, foi pior do que Obama entre os católicos – especialmente entre os latinos, onde perdeu 8 pontos. E, para além de todas as expectativas, Trump também conseguiu ir melhor do que Romney nos subúrbios.
Mas – e aqui, um importante esclarecimento – ele não conseguiu mais votos que Romney nem no sul e nem no centro-oeste norte-americano. Clinton, por sua vez, recebeu quase um milhão de votos a menos do que Obama no sul e quase três milhões a menos no centro-oeste (ver Tabelas n. 1 e 2). Abdicando de qualquer esforço maior em cidades industriais de pequeno porte, Hilary Clinton concentrou-se quase totalmente nos grandes distritos metropolitanos e nos maiores mercados de mídia. Além disso, ao contrário de Obama, não buscou consolidar uma estratégia para atingir os evangélicos e sua posição em relação ao aborto, ainda que mal interpretada, acabou alienando uma boa parte do eleitorado católico que Barack Obama havia consolidado. Além disso, ela ignorou completamente os pedidos de Tom Vilsack, Secretário de Agricultura, para investir recursos de campanha nas áreas rurais do país. Enquanto Trump foi de fábrica em fábrica no interior do país, o itinerário de Clinton deixou de lado todo o estado de Wisconsin, assim como boa parte dos centros mais disputados, como Dayton (Ohio). O campo de Hilary Clinton obviamente acreditou que o tom agressivo de apoiadores como Obama e Sanders, reforçado por celebridades como Bruce Springsteen e Beyoncé, garantiriam uma virada nos espaços de afro-americanos e millennials nos grandes centros urbanos, enquanto ela arrebanharia os votos de mulheres republicanas nos subúrbios.
Sem explicação alguma, Hilary Clinton ignorou os sinais de perigo que vinham do rustbelt e permaneceu “totalmente calada quando se tratava da economia e de qualquer plano futuro para ajudar as pessoas”. Sua estupefata desatenção sobre o mal-estar dos eleitores em distritos não-metropolitanos dominados pelos Democratas provou ser sua ruína perante o Colégio Eleitoral, apesar das grandes maiorias populares que ela atingiu na costa oeste (ela só conseguiu atingir ou mesmo superar a votação de Obama em Massachusetts, Geórgia, Texas, Arizona e Califórnia – os últimos três, é claro, por conta de uma tremenda mobilização da comunidade latina).
Em três estados-chave (Florida, Wisconsin e Michigan), um fator adicional na derrota de Hilary foi um índice de abstenção das comunidades afro-americanas, que acabou sendo maior do que em 2012. Em outras palavras, a reforma no sistema de previdência, a política de super-encarceramentos e o NAFTA tinham voltado para assombrar Clinton. Além disso, em Wisconsin e Michigan ela não conseguiu chamar para si a juventude que estava em torno de Sanders e em ambos os estados, os votos para Jill Stein – do Partido Verde – acabaram diminuindo ainda mais a margem de votos de Hilary Clinton.
É preciso tomar cuidado, porém, ao despejarmos toda a culpa em Clinton e no seu círculo problemático de influências. Se este tivesse sido o principal problema, os Democratas locais rapidamente dariam um jeito de supera-lo. De fato, isso raramente aconteceu e em muitos estados, seu índice de votação acabou sendo maior do que muitos dos congressistas Democratas que tinham suas bases eleitorais nestes lugares. O mal-estar que se abateu sobre o partido, para dizer francamente, acabou permeando todos os níveis de sua estrutura, incluindo o incrivelmente inapto Comitê Congressista de Campanha Democrata (DCCC, no original). No centro-oeste, em particular, os Democratas vêm enfrentando uma série de derrotas, fracassando ao nomear veteranos como o antigo prefeito de Milwaukee, Tom Barrett (que perdeu para Scott Walker em 2012) e o ex-governador de Ohio, Ted Strickland (que perdeu de lavada para Rob Portman na disputa para o Senado). Enquanto isso, para a equipe de notáveis de Obama que controla a Casa Branca, não reforçar o trabalho dos Democratas locais foi, por vezes, a prioridade exclusiva. Como resultado disso, excetuando a costa oeste, os Estados Unidos viram os Republicanos superarem sua marca de 1920 em termos de assentos legislativos. Vinte e seis estados agora são considerados “trifetas” Republicanas (ou seja, o partido controla ambas as câmaras e o Executivo) versus míseras seis “trifetas” Democratas. Para piorar, iniciativas progressistas de cidades Democratas como Minneapolis (com um sistema de seguro-desemprego) e Austin (que tornou-se uma cidade santuário, recusando-se a deportar imigrantes) enfrentaram o veto de legislaturas reacionárias.
Além disso, como demonstrado recentemente por pesquisadores da Brookings Institution, desde 2000 uma paradoxal dinâmica “centro-periferia” acabou emergindo dentro do sistema político americano. Os Republicanos aumentaram sua força eleitoral nacional, mas acabaram perdendo força nos distritos mais centrais da economia:
“Os poucos-menos-que-500 distritos que Hillary Clinton defendia nacionalmente eram responsáveis por massivos 64% da atividade econômica dos Estados Unidos segundo os registros de 2015. Para ver esse contraste, os mais-de-2.600 distritos em que Donald Trump venceu, geravam apenas 36% da riqueza do país – um pouco mais do que um terço de toda atividade econômica da nação.”
Os eleitores de Trump, entendidos numa dinâmica de campo contra as cidades, tornaram-se uma espécie de versão americana do Khmer Vermelho. Algumas partes dessa “outra América”, é bem verdade, já eram territórios Republicanos desde muito tempo, dominadas por grandes fazendeiros, pregadores evangélicos, pequenos capitães de indústrias e banqueiros, assim como por descendentes da Ku Klux Klan. Mas a antiga postura autonomista das cidades pequenas Democratas, com seus distritos fabris e mineradores, não mais existe e hoje essa condição é reflexo tanto da marginalização dos antigos sindicatos do Congresso de Organizações Industriais (CIO, uma das maiores centrais sindicais da história americana) dentro do partido. Aqui, o estereótipo acaba se tornando bastante preciso – o partido priorizou as grandes indústrias: Hollywood, o Vale do Silício e Wall Street. O lado digital dos Estados Unidos vota com os Democratas, mas o lado analógico, apesar de ser mais pobre, vota com os Republicanos.
Por fim, precisamos saber reconhecer o bizarro quadro em que se deu a disputa. Ao comparar outras análises eleitorais, a estrutura do sistema geralmente parte do princípio da ausência de mudança entre os ciclos. E esse definitivamente não foi o caso em 2016. Graças a decisão da Suprema Corte em favor da Citizens United (em 2010), essa foi a segunda eleição presidencial com abundância de doações privadas e, em contraste com 2012, os aparatos nacionais dos partidos perderam o controle das primárias para os chamados “partidos sombra” de Trump e Cruz. No caso dos Democratas, eles perderam o controle para a cruzada sem precedentes de Sanders, com o seu financiamento de base. Essa também foi a primeira eleição conduzida após a o Voting Act Rights ter sido esquartejado no Congresso, o que levou lideranças congressistas Republicanas a adotarem estratégias de “supressão do voto”. Como resultado dessa prática, “14 estados tiveram novas restrições ao direito de voto em 2016, incluindo aqui leis mais restritivas sobre uso de identificação, redução de horários para votar e diminuição no número de locais de votação”. O fechamento arbitrário das seções eleitorais foi absurdamente alto em estados como Arizona, Texas, Louisiana e Alabama.
E, como um apavorado David Brooks enfatizou, essa foi a primeira eleição do termo “pós-verdade”, afogada de forma surreal nas mentiras de Trump e seus apoiadores, com notícias falsas fabricadas na Macedônia, com chatbots invasores, o uso de “dark posts”, histrionismo, teorias conspiratórias e uma enxurrada mortal de revelações via e-mails hackeados. Considerando todos os pesos na balança (incluindo as intervenções de James Comey e Vladmir Putin), contudo, o efeito mais desastroso para a ex-Secretária de Estado foi a decisão da grande mídia em “equilibrar” as reportagens, dando igual cobertura tanto para os seus e-mails vazados como para a série de violências sexuais promovidas por Donald Trump. “No decorrer da campanha de 2016, as três grandes redes de televisão apresentaram programas de notícias que registravam 35 minutos de assuntos políticos variados. Enquanto isso, eles devotaram 125 minutos para os e-mails da ex-senadora Clinton”.
A mítica muralha azul
“Olhando para as eleições presidenciais do futuro, a estratégia de Trump aponta para a criação de uma ‘muralha vermelha’ que pode ser muito maior e mais bela do que a ‘muralha azul’ dos Democratas”
A “muralha azul” de Clinton rachou em Minnesota, foi sutilmente invadida em Wisconsin, Michigan e Pensilvânia e colapsou totalmente em Ohio (e Iowa, se considerarmos que aquele era um estado dos Democratas). Grande parte dos distritos de Obama em 2012, localizados no noroeste de Illinois, leste de Iowa, oeste de Wisconsin e Minnesota, além do norte de Ohio e de Nova York foram vencidos por Trump em 2016.
A margem de vitória – que é basicamente o percentual da diferença entre os votos de Clinton e Obama – caiu para 15 pontos em Virgínia Ocidental, Iowa e Dakota do Norte; de 9 a 14 pontos no Maine, em Rhode Island, Dakota do Sul, Havaí, Missouri, Michigan e Vermont. Na parte mais ao sul de Wisconsin, no antigo autobelt (nos distritos de Kenosha e Rock), lugares onde Obama havia esmagado Romney em 2012, o voto dos Democratas caiu cerca de 20% e o distrito de Kenosha, antiga fortaleza da União dos Trabalhadores Automotivos (UAW em inglês, a principal central sindical de trabalhadores automotivos nos Estados Unidos), acabou caindo nas mãos de Trump.
Mesmo em Nova York, seu próprio território, Clinton acabou ficando 7% atrás de Obama, graças a uma massiva campanha pelo voto republicano na parte leste de Long Island (mais especificamente no distrito de Suffolk County) e um apoio tímido da classe trabalhadora Democrata nos antigos distritos industriais da parte norte. De acordo com as pesquisas finais, ela conseguiu 51% dos votos das famílias sindicalizadas, um desempenho fraco comparado com os 60% de Obama em 2008 e 2012. Mas isso não é surpreendente, pois Trump derrotou o voto dos sindicalistas que apoiaram os três adversários Republicanos nas prévias e, em Ohio, chegou a conseguir uma maioria definitiva dessa categoria.
Esse padrão é particularmente irônico, pois os Democratas em muitos desses redutos votaram em Hillary Clinton nas primárias de 2008. De fato, essas regiões presumivelmente eram consideradas distritos de Clinton. “Como eles conseguiram perder Michigan com 10 mil votos?”, reclamou o pesquisador veterano Stanley Greenberg, um dos arquitetos mais importantes da vitória de Bill Clinton em 1992.
Mas um fator central determinou esse resultado: os Republicanos assumiram uma estratégia agressiva para ampliar seu domínio no rustbelt, apoiados por uma impressionante infraestrutura de think-tanks regionais, com doadores bilionários locais e verdadeiros magos do gerrymandering[16] nos Comitês de Lideranças Estaduais Republicanas (RSLC, em inglês). Por outro lado, os Democratas em muitos desses lugares, especialmente naquelas regiões industriais não-metropolitanas (que são tão comuns no centro-oeste americano), foram praticamente abandonados pelo DCCC, que não ofereceu nenhum tipo de auxílio para evitar a crescente pauperização dessas comunidades – a parte, claro, dos resgates à General Motors e a Chrysler, em 2009, na esteira da crise de 2008.17
Quem já leu o best-seller de David Daley, Raftf**ed, sabe que Karl Rove e seus asseclas conservadores responderam à crise profunda do poder Republicano em 2008 com um audacioso plano para retomar o poder em Washington lançado mão de uma política de “redistritamento” para a próxima década – sendo o centro-oeste o alvo preferencial. Como Rove escreveu em 2010 no Wall Street Journal,
“há dezoito legislaturas estaduais”, as quais possuem “quatro assentos ou menos separando os dois partidos e que são essenciais para a reengenharia dos distritos”: “Sete delas são controladas pelos Republicanos e as outras onze são controladas pelos Democratas, incluindo as Câmaras de Ohio, Wisconsin, Indiana e Pensilvânia. Os estrategistas Republicanos então estão focados em 107 assentos de 16 estados. E vencer esses assentos, portanto, daria a eles a oportunidade de redesenhar novas áreas distritais para a disputa de outros 190 assentos no Congresso”.
Neste contexto, como Daley mostra, a bagatela (de cerca de 30 milhões de dólares) gasta nas disputas estaduais em 2010 acabou produzindo uma revolução na estrutura de poder do partido, com os Republicanos vencendo quase todos os 700 assentos desejados e tomando o controle de legislaturas centrais como Wisconsin, Ohio e Michigan, assim como na Florida e na Carolina do Norte. A reengenharia dos distritos produzida por computador produziu um novo mapa dos sonhos que fez não apenas os Republicanos controlarem o Congresso, mas também deixá-los invulneráveis até a publicação do Censo de 2020 – apesar do fato de que demograficamente, os Democratas seriam mais favorecidos.
A piece d’resistance foi o gerrymandering de Ohio, supervisionado pelo conservador John Boemer: “O Comitê Nacional Republicano controlou a reengenharia de 132 distritos de legislativo estaduais e 16 distritos de congressistas. A alteração das áreas distritais resultou numa arrebatadora vitória Republicana em 2012 no Senado e permitiu que uma maioria republicana de 12 a cada 4 deputados no Congresso – apesar de que a maioria dos votos nos candidatos Republicanos foi apenas de 52%.” (Há piores casos: na Carolina do Norte, em 2012, os democratas ganharam a maioria dos votos no Congresso em todo o estado, mas ganharam apenas quatro dos treze assentos da Câmara).
No centro-oeste, as vitórias do Tea Party, em 2010, levaram uma nova geração de ferrenhos Republicanos ao poder, muitos deles cultivados por thinktanks da extrema direita, como o Indiana Policy Review Foundation (que já foi liderada por Mike Pence, atual vice-presidente de Trump), o Michigan’s Mackinac Center, o Wsiconsin’s MacIver Institute e o Minnesota’s Center of the American Experiment, todos eles embrenhados numa luta até a morte contra os sindicatos de servidores públicos dessas regiões, assim como contra os governos progressistas das grandes cidades. Coordenando suas ações por meio da State Policy Network (que controla 65 think-tanks conservadores) e da American Legislative Exchange Council, eles lançaram campanhas para destruir o direito de barganha dos servidores públicos, enfraquecer os sindicatos a partir das chamadas leis right to work e privatizar a educação pública a partir de um sistema de vouchers.
Eles acabaram focando, em outras palavras, o incremento de suas forças legais e estruturais de tal forma que para os Democratas seria difícil, se não impossível, fazer qualquer coisa que não fosse recuar diante da ofensiva conservadora. Sindicatos e estudantes, é claro, conduziram uma resistência épica em Wisconsin em 2011, mas no final foram incapazes de derrotar o governador Republicano Scott Walker em 2016, o que se deve em grande parte a falta de apelo da candidata Democrata. Em Ohio, os sindicatos conseguiram ter mais sucesso e conseguiram repelir o referendo que ia criar um sistema de trabalho banindo a contribuição sindical, mas em Indiana, Michigan e Virgínia Ocidental, as maiorias Republicanas conseguiram estabelecer essesistema, sendo que em Michigan foi estabelecido um sistema de vouchers para as escolas públicos inspirados pelo Mackinac Center.
Essa ideia Republicana de buscar os cargos menos valorizados, seja no Legislativo e no Judiciário, ironicamente foi beneficiada enormemente pela falta de apoio a Trump por parte Irmãos Koch e outros mega-doadores conservadores que acabaram mudando sua orientação e financiando menos a disputa presidencial e focando mais na preservação do Congresso. Pela primeira vez, os super-PACs gastaram mais na disputa para o Senado do que na campanha presidencial. O New York Times, por exemplo, estimou que Trump recebeu 2 bilhões de dólares em publicidade gratuita da mídia e, portanto, foi pouco afetado por isso. Mas a imensa injeção de verbas nas corridas regionais foi algo revolucionário.
Mais de 75% dos fundos das campanhas para o Senado vieram de recursos de fora dos estados de origem dos senadores e, além disso, “apenas três grupos, One Nation (Adelson), Americans for Prosperity (uma rede dos irmãos Koch) e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos foram responsáveis por 67% de todos os gastos em campanha”. O resultado disso, de acordo com alguns cientistas políticos, acabou sendo a “nacionalização” da política regional. “Como resultado da crescente conexão entre corridas presidenciais e disputas regionais, a antiga divisão que existia entre política regional e política nacional acabou desaparecendo em boa parte do país”. Assim, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, em 2016 “não tivemos discrepâncias entre os votos nas corridas para o Senado e para presidente: os 34 estados que elegeram senadores acabaram votando no mesmo partido para os dois cargos.”
Tampouco não é segredo algum que um dos inadvertidos aliados dos Republicanos foi justamente Barack Obama, cuja transloucada concepção de presidência não incluía servir como liderança partidária, ao menos não da forma antiga, com o estilo sempre presente de um Lyndon Johnson ou de um Clinton. Em 2010, 2012 e 2014, os candidatos Democratas reclamaram com amargura da falta de apoio da Casa Branca, especialmente nos estados do sul, como Louisiana e Texas.
Obama terminou a sua presidência com os Democratas depois de perder cerca de mil assentos legislativos ao redor do país. As legislaturas Republicanas agora almejam Missouri e Kentucky – além de possivelmente ter olhos também para Ohio, Pensilvânia e New Hampshire (em Missouri e New Hampshire, as emendas de flexibilização do trabalho foram recentemente aprovadas pelas legislaturas, mas vetadas pelos governantes Democratas. Mas agora ambos estados são governados por Republicanos). É possível chamar isso de sulização [Southernization] ou southernização ou dixieficação [Dixiefication] do centrooeste americano.
Berços do CIO
“Em 1934, um konor previu não apenas a chegada de um navio a vapor de quatro torres com Mansren a bordo, mas um evento que se tornaria o mais importante elemento da ideologia cargueira que orientava os movimentos do norte da Nova Guiné holandesa: a miraculosa chegada de uma fábrica.”
Os aspectos milenaristas da campanha de Trump – o nativismo mágico e a promessa de um mundo restaurado – não receberam muita atenção, mas curiosamente, junto com a bizarra síndrome de Tourette do presidente, eles são uma de suas principais características. A promessa de Clinton de manter completamente o legado de Obama pareceu incrivelmente juvenil comparada com a segurança que Trump passava, mais sectária do que demagoga, quando falava que “os empregos voltarão, os salários vão aumentar e novas fábricas irão voltar correndo para as nossas terras”.
Dentro do campo dos “Democratas pró- Trump”, especialmente aqueles eleitores da classe trabalhadora branca que votaram em Obama e que mudaram de perspectiva em Ohio e Pensilvânia, cabe destacar que a sua sedução pelo canto do presidente tomou contornos desesperadores, muito semelhantes ao dos cultistas do cargueiro da ilha da Papua. Eles estavam rezando por fábricas mágicas, tal como descrito no clássico de Peter Worsley, The Trumpet Shall Sound [A trompeta soará].
Se Trump é uma mistura de P.T. Barnum e Benito Mussolini, ele também se tornou John Frum, o “misterioso homenzinho [um marinheiro americano?] com cabelo desbotado, voz aguda e jaqueta com botões brilhantes” que alguns melanésios adoravam porque ele supostamente traria um “cargueiro” dos céus até a ilha de Tanna, durante a Segunda Guerra Mundial. No final das contas, o campo dos sonhos “trumpianos” – com a expulsão de mexicanos, rendição dos chineses e fábricas voltando para a casa – não parece muito diferente da ideia de um navio industrial chegando na selva melanésia.
Essa percepção antropológica dotada de condescendência é justamente o que leva pessoas de Dubuque, Anderson e Massena a pegarem seus garfos e tochas contra os “liberais da elite” ou os “conservadores do establishment”. De fato, “deplorável”. Todos esses distritos possuíam o sindicalismo industrial em seu DNA, todas as cidades (ver Tabela n. 4) foram os berços de uma das maiores federações sindicais americanas, a CIO, durante as grandes disputas trabalhistas na época do New Deal. Com algumas poucas exceções (a dizer, 1972 e 1984), essas regiões se mantiveram leais ao Partido Democrata, fizesse chuva ou sol, votando massivamente a favor de Obama em 2008. Sendo assim, diante de indicadores econômicos positivos e do mais baixo índice de desemprego da década, por que esses velhos distritos industriais subitamente desertaram das fileiras Democratas e se deixaram levar pelo “culto cargueiro” do atual presidente e seu chamado à reindustrialização?
Mexendo com as estranhas peças do quebra-cabeça que é a candidatura Trump, a revista The Economist vaticinou, em novembro de 2016, que “o alto grau de ansiedade econômica que motivava os eleitores de Trump tinha sido exagerado”. Mas quando a análise vai para o âmbito micro, começam a emergir muitas razões para entender a emergência de tal ansiedade. Na Tabela n. 5, é possível ver a quantidade de fábricas fechadas durante a corrida eleitoral – evidência gritante de uma nova onda de desindustrialização e fuga de investimentos. Em quase todos os distritos que “viraram a casaca”, poderiam ser encontradas notícias, no jornal local, de uma grande indústria fechando suas portas ou mudando-se para outra cidade: lembranças amargas de que não havia mais um “Obama boom” orientando a economia.
Alguns exemplos podem ser vistos em Ohio. Pouco antes do feriado de Natal, em 2015, a West Rock Paper Company, principal empregadora no distrito de Coshoctin, fechou suas portas. Em maio, a centenária fábrica de locomotivas da General Electric, no distrito de Erie, anunciou que estava transferindo centenas de empregos para a sua nova fábrica em Fort Worth. No dia seguinte após o término da Convenção Republicana, em Cleveland, a First Energy Solutions anunciou que estava fechando sua principal usina nos arredores de Toledo, “a 238ª a fechar as portas nos Estados Unidos desde 2010”.
Ao mesmo tempo, em Lorain, a Republic Steel formalmente descumpriu a promessa de reabrir e modernizar o enorme parque industrial da US Steel, que outrora havia sido o maior empregador de toda a região. Enquanto isso, em agosto, a General Electric declarou que iria fechar suas fábricas de lâmpadas em Canton e em East Cleveland. Simultaneamente, trabalhadores estavam sendo demitidos na fábrica do Commercial Vehicle Group, em Martin’s Ferry, nas proximidades do rio Ohio (em Belmont County).
“Eu acredito que a perda de 172 empregos numa comunidade como a nossa e nos seus arredores é algo devastador” disse o superintendente municipal das escolas. “Esse é outro duro golpe no nosso vale, com as minas de carvão fechando, a usina desativada e agora isso. É só maisuma das muitas más notícias que recebemos, sempre uma depois da outra”.
E a raça? O que informa sobre a vitória de Trump? O candidato Republicano venceu, é óbvio, com o voto dos brancos em âmbito nacional, por uma vantagem de cerca de 21 pontos percentuais (um a mais do que Romney) e seus comícios de campanha foram verdadeiros Woodstocks para racistas. Ainda assim, como comentaristas da esquerda e da direita enfatizaram, esses territórios que “viraram a casaca” votaram – com apenas uma exceção – pelo menos uma vez em Obama. Nacionalmente, Trump conseguiu levar 10% dos antigos apoiadores de Obama. Talvez deva ser feita uma distinção entre os verdadeiros sturmtrumpen, os soldados de Trump que mobilizavam os comícios da extrema-direita, e aqueles que votaram anteriormente em Obama e que agora se converteram ao “culto do cargueiro” melanésio. Como um jornalista britânico apontou, contradizendo a própria linha editorial de seu jornal – que afirmava que a classe trabalhadora branca era o “motor” da insurgência de Trump – “em uma dezena de comícios de Trump, em quase todos os estados, ao longo do último ano, eu encontrei advogados, agentes imobiliários e uma verdadeira horda de aposentados e, de fato, pouquíssimos trabalhadores industriais”.
Por outro lado, há evidências de que houve uma retaliação regional nas eleições, algo que foi longamente costurado pelas forças do Tea Party, especialmente contra imigrantes e refugiados. Em parte, isso pode ser considerado resultado das polícias federais que alocavam refugiados em cidades com custo de vida baixa e moradia baratas, o que fez com que esses imigrantes fossem identificados como competidores em busca das poucas vagas de emprego que o setor de serviços ainda abria, além de se qualificarem para receber benefícios estatais aos quais muitos cidadãos não teriam acessos. Em Erie, cidade onde agora os refugiados constituem 10% da população e um exército industrial de reserva para a indústria dos cassinos local, temos um exemplo bastante paradigmático desse quadro.
Em outras áreas do rustbelt como, por exemplo, Reading, na Pensilvânia, as crescentes comunidades de mexicanos viraram alvos de contínuos ataques das populações locais, encorajadas por figuras do Tea Party e da Alt-right. Num recente estudo sobre as polícias estaduais e seus programas, Ohio foi considerado o pior estado no que diz respeito ao tratamento de imigrantes sem documentação; esse índice acabou sendo ratificado quando os Republicanos da legislatura de Ohio enviaram uma mensagem congratulatória (HCR 11) para o Arizona e para o xerife Joe Arpaio, um dos principais nomes a favor das leis anti-imigração.
Uma nota sobre uma terra esquecida
"Nós vamos botar os mineiros de volta em seus empregos!", declarava Trump, nos primeiros minutos de seu discurso. A plateia foi à loucura e Trump sorriu enquanto vários mineiros agitavam seus rudimentares cartazes que diziam "Trump cava carvão!"
Newfoundland, Ordinary, Sideway e Spanglin são vilarejos de Elliot, um típico distrito de Appalachia, ao leste de Kentucky. Seus antigos moradores eram agricultores, plantavam tabaco e milho, mas agora muitos deles – os mais “afortunados”, segundo o padrão local – trabalham na prisão estadual de Little Sandy. A grande diferença em Elliot, contudo, é o seu índice de votação: talvez ele tenha sido o último distrito branco no sul a votar nos Democratas.
De fato, ele tem se mantido Democrata em todas as eleições presidenciais desde 1869. George McGovern, Walter Mondale e Michael Dukakis foram vencedores aqui e Obama, em 2008, derrotou McCain com quase o dobro de votos. E em 2012, apesar de Obama ter defendido abertamente os direitos dos homossexuais, ele ainda assim conseguiu superar Romney. Contudo, em 2016, Elliot finalmente acabou com a longa sequência de vitórias dos Democratas, com uma votação de 70% dos votos válidos indo diretamente para Trump e para os conservadores religiosos Republicanos.
Em toda a história política do pós-guerra, a região do Appalachia (composta por 428 distritos de planalto e montanhas que vai do Alabama até Nova York) só foi destaque nacional uma vez. Graças aos livros do socialista nova-iorquino, Michael Harrington (1962), The Other America. Poverty in the United States [A outra América. Pobreza nos Estados Unidos], e do advogado outsider de Kentucky, Harry Caudill, Night Comes to the Cumberlands [A noite chega à Cumberlands], é possível afirmar que a região chegou a obter um maior foco durante a época da “guerra à pobreza” das administrações Roosevelt em diante, mas depois acabou sendo abandonada quando da posse de Richard Nixon.
Esta região rapidamente se tornou a de maior concentração de pobreza branca na América do Norte, sendo abandonada não apenas por Washington D.C., mas também por cidades como Frankfort, Nashville, Charlestown e Raleigh, onde os lobistas da indústria do carvão e as grandes companhias sempre conseguiam ditar prioridades legislativas. Tradicionalmente, esses grupos tinham os capangas das máquinas eleitorais Democratas a seu favor, e essa acabou sendo por muito tempo uma região próxima ao partido. Em 1976, Carter venceu com 68% dos votos na região; em 1996, Clinton caiu para 47%.
Contudo, conforme os Democratas nacionalmente foram identificados cada vezmais com a “guerra contra o carvão”, com o aborto e o casamento gay, os poderosos Democratas locais acabaram sendo abandonados pelo voto popular. Além disso, os sindicatos de mineiros e metalúrgicos, apesar de terem em suas fileiras algumas das melhores lideranças em décadas, tiveram que lutar desesperadamente nos anos 1990 e 2000 para ter iniciativa política capaz de defender os empregos das indústrias e da mineração na região, sendo completamente ignorados pelo Conselho da Liderança Democrata (DLC, em inglês) e pela força ascendente do eixo Nova York/Califórnia de lideranças no Congresso.
Ironicamente, dessa vez Hillary Clinton realmente tinha um plano para os distritos carboníferos, ainda que estivesse nas letras miúdas de seu website e com pouquíssima publicidade. Ela defendeu importantes medidas de segurança para que os trabalhadores tivessem mais benefícios médicos, especialmente aqueles demitidos das empresas de carvão, e ainda propôs um auxílio fiscal para resolver a crise financeira das escolas na região. Tratava-se, na verdade, de um programa padrão: garantia isenções fiscais para novos investimentos, programas sociais para confecção de roupas para promover o empreendedorismo local, subsídios para a limpeza e conversão das minas em grandes centros de negócios (chegou a mencionar centros de dados da Google – algo bem próximo do “culto do cargueiro”). Mas não havia um grande programa para abertura de postos de trabalho, ou iniciativas de saúde pública para lidar com a pandemia devastadora de opiáceos na região.
Em certa medida, seu plano era uma imagem refletida de quão pequenas eram suas promessas para os pobres. Em última instância, este também não fez grande diferença na campanha, já que a única promessa de Clinton que foi lembrada foi: “Nós vamos fechar com as companhias de carvão e demitir os mineiros”. Suas únicas vitórias no Appalachia foram alguns poucos distritos universitários. Enquanto isso, Trump pegou uma carona com Jesus e reconquistou o voto de Romney.
A exceção foi a região de Virgínia Ocidental, onde os Democratas conseguiram tomar uma derrota tão acachapante que certamente irá parar no Guinness Book. O Wyoming, por si só, deu a Trump uma margem percentual de votos maior do que a nacional. Mas, mais impressionante que sua margem de 42 pontos à frente de Clinton, foi o fato de que ela recebeu 54 mil votos a menos do que os demais candidatos das primárias Democratas – uma disputa em que Sanders (que fez 125 mil no total) teria vencido em praticamente todos os distritos da região.
O fracasso em conquistar os votos dados nas primárias foi um índice abissal de quão impopular era a candidatura de Hillary Clinton. Enquanto isso, o Partido da Montanha, partido sui generis vinculado ao Partido Verde na Virgínia Ocidental, acabou focando suas atenções na corrida para governador (que foi vencida pelo bilionário Democrata e autoproclamado populista pró-carvão, Jim Justice) e conseguiu atingir 42 mil votos, um resultado encorajador sem dúvidas. Mas para além disso, os Republicanos dominaram as eleições das legislaturas estaduais e regionais e dos delegados do Congresso, uma vitória nunca antes obtida nesse já famoso estado Democrata.
Entender a política não-linear da Virgínia Ocidental nem sempre é fácil, especialmente desde que o Partido Democrata acabou dedicando a máquina eleitoral ao culto pessoal em torno de Joe Machin (ex-governador e atual senador) e de seu mais novo ajudante, Jim Justice. Contudo, uma coisa deve ficar clara e certamente ela o é para boa parte do Appalachia: uma imensa minoria de trabalhadores, guardiões de uma heroica história da classe operária, estão prontos para apoiarem alternativas radicais, mas apenas se elas simultaneamente se dirigirem à especificidade das crises econômica e cultural da região.
As lutas para manter os sistemas tradicionais de parentesco e o tecido comunitário social em Appalachia, ou até mesmo nos combalidos distritos negros da antiga região do algodão, no sul, devem ser tão importantes para os socialistas como a defesa dos direitos individuais nas escolhas de gênero e de liberdade de reprodução. E, geralmente, elas não andam juntas.
O que as bruxas estão cozinhando
“Qualquer demagogo que, no futuro, tente tomar o poder nos Estados Unidos – por exemplo, quando vier uma próxima Grande Depressão – quase que certamente irá seguir o caminho de Huey.”
“Se Huey Long estivesse vivo”, escreveu John Gunther, “ele iria levar o fascismo para os Estados Unidos”. Será que Trump está dando mais uma chance ao fascismo sulista de Huey Long?
Da mesma forma que o Long caracterizado por John Gunther, ele também é um “monstro confrontador”, assim como um “demagogo mentiroso, um prodigioso ególatra, vulgar, frouxo... um mestre do abuso político”. Assim como Long, ele “fez todo tipo de promessa aos despossuídos”, aparecendo para eles como “um salvador, um messias altruísta”.
Mas o “Peixe-Rei” [Kingfish] – apelido dado a Long por seus apoiadores – ao menos realizou algumas das coisas que ele prometeu fazer para o povo da Louisiana. Ele de fato trouxe o “navio cargueiro” na forma de serviços e direitos públicos. Ele construiu hospitais, moradias, aboliu os impostos comunitários e fez com que os livros escolares fossem gratuitos. Trump e seu ministério bilionário, por outro lado, estão mais próximos de reduzir o acesso ao sistema de saúde, aumentar a supressão do voto e privatizar a educação pública. O “fascismo”, se é o que nos reserva o futuro, não virá “disfarçado de socialismo”, como previu John Gunther (e, antes dele, Sinclair Lewis), mas sim como uma orgia neorromana de ganância.
A análise aqui apresentada focou apenas em uma parte do quebra-cabeças que se abate sobre os Estados Unidos: ou seja, os velhos distritos industriais e mineradores, que enfrentam um declínio há duas gerações. Ela não chega nem perto de ser uma síntese compreensiva. O quadro regional, por exemplo, pode parecer consideravelmente diferente se olharmos sob a perspectiva de uma grande parcela do serviço público e dos trabalhadores da indústria da saúde. Além disso, a história do rustbelt é, de certa forma, um fator político já debatido em outras ocasiões; a principal novidade na última eleição foi a politização das camadas mais populares de jovens universitários, principalmente aqueles oriundos de famílias de trabalhadores e imigrantes. O “trumpismo”, apesar de seu sucesso temporário, não consegue unificar as angústias econômicas dos millenials com aquelas dos velhos trabalhadores brancos porque, em última análise, ele acaba impondo o geriátrico privilégio branco como centro de todas as suas políticas.
O movimento de Sanders, por outro lado, mostrou que os descontentes da terra podem ser unidos sob um “socialismo democrático” que procura reacender as esperanças de um New Deal em prol de direitos econômicos fundamentais com os objetivos de igualdade e justiça dos movimentos por direitos civis. A verdadeira oportunidade para uma política realmente transformadora (“realinhamento crítico” se tornou até mesmo um arcaísmo) está nas mãos dos “senderistas”, mas somente enquanto se mantiverem rebeldes contra o establishment dos Democratas e apoiarem as resistências que emergem das ruas.
A eleição de Trump despertou uma verdadeira crise de legitimidade e a maioria dos americanos que agora se opõem a ele possuem somente duas saídas políticas possíveis: o movimento político de Sanders ou o ex-presidente Obama e seu séquito. Enquanto nossas esperanças e energias certamente recaem sobre o primeiro, seria tolice subestimar o segundo.
Com a destruição política de Hilary, não há um sucessor para Barack Obama. Ele é a única figura política de alcance mundial que restou e se tornará ainda maior fora da Casa Branca, principalmente quando sua presidência for lembrada com boas doses de nostalgia. (Muitos irão esquecer que a debacle atual, iniciada dentro do partido Democrata em 2010, traz a assinatura do presidente que acabou perdoando as dívidas de Wall Street no mesmo mandato que deportou 2,5 milhões de imigrantes.)
Chicago certamente se tornará a capital de um governo exilado, com a família Obama dirigindo seus esforços para revigorar o Partido Democrata e sua política centralizadora sem fortalecer a esquerda. (Se esse cenário de poder dual parece fantasioso, talvez seja bom lembrar da época do precedente de Teddy Roosevelt, em Sagamore Hill, durante o governo Taft.) Aqueles que acreditam que o núcleo progressista agora está controlando o poder dentro dos Democratas talvez fiquem frustrados quando Obama, mais uma vez, assumir a frente do partido a favor das elites.
Enquanto isso, Trump, seja ele o avatar do fascismo ou não, parece destinado a ser uma espécie de Macbeth americano, espalhando um caos hediondo nas grandes planícies do Potomac. A guerra social e política que virá é inevitável e poderá mudar o caráter do país pelo resto do século, especialmente se sincronizada com erupções similares na União Europeia e com o colapso dos governos populistas de esquerda na América do Sul.
Como o padrinho espiritual de Trump, Pat Buchanan, disse recentemente: “As forças do nacionalismo e do populismo foram despertadas em todo o Ocidente e em todo o mundo. Não há como voltar atrás.” Cenários globais arrepiantes são até fáceis de imaginar. É possível, até mesmo, vislumbrar a furiosa fundação de um regime “trumpista” que reprima duramente os protestos sociais e acabe incitando revoltas como as da década de 1960 nas cidades americanas, enquanto futilmente tenta reconciliar suas políticas econômicas contraditórias e promessas absurdas. A turbulência geoeconômica que se seguiu pode levar os europeus a convidar a China a assumir uma crescente liderança monetária e financeira dentro do bloco da OCDE.
2016, nesse cenário, marcaria o fim do "século americano". O ano de 2016, aqui, marcaria o fim do século americano". Numa visão alternativa, Pequim pode não desejar ter esse papel ou mesmo não conseguir ter a capacidade para alterar a lógica geopolítica global, ou mesmo de impedir essa parcial fratura nas cadeias produtivas transnacionais previstas para o governo Trump. Isso pode gerar tensões que atingem o Pacífico e ir até a Eurásia. Nesse caso, 2016 pode ser lembrado como o começo de uma des-globalização e de um mundo cada vez mais próximo da década de 1930 do que propriamente dos anos 2000.
Sobre o autor
Mike Davis é autor de vários livros, incluindo Planet of Slums e City of Quartz.



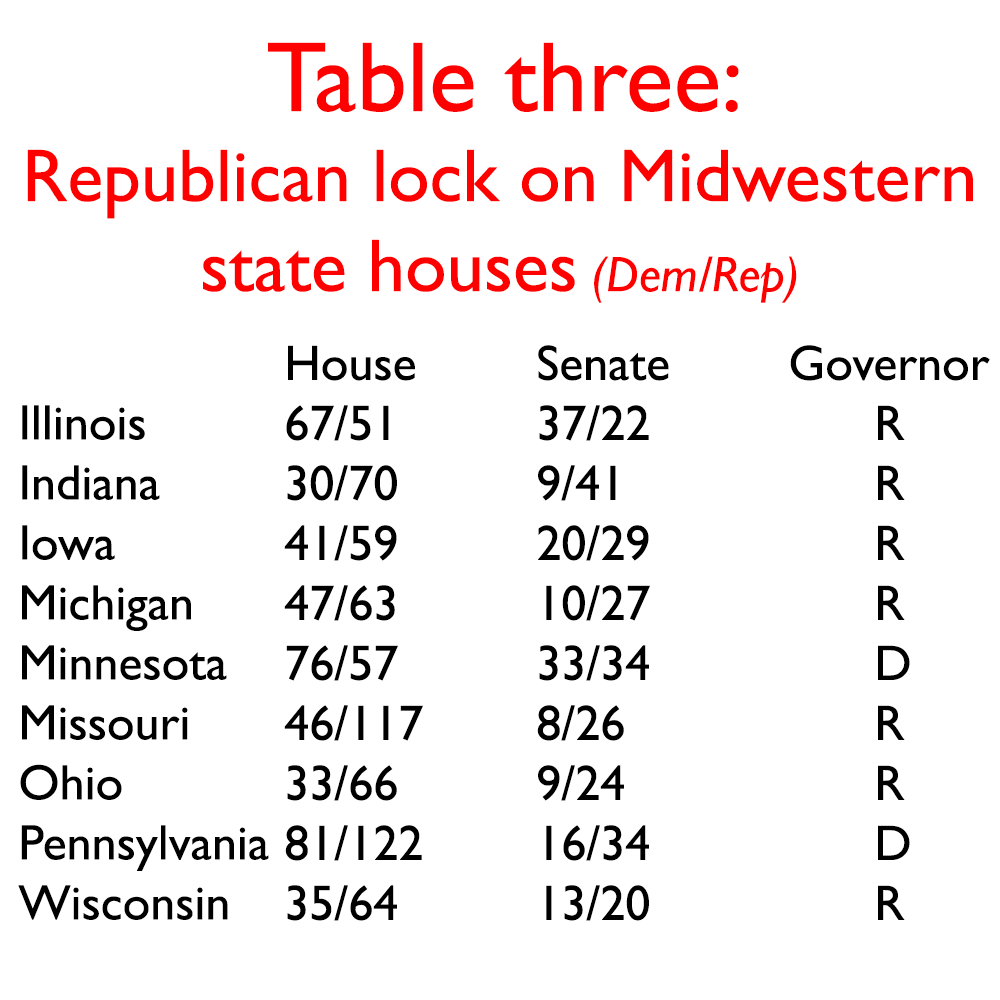





Nenhum comentário:
Postar um comentário