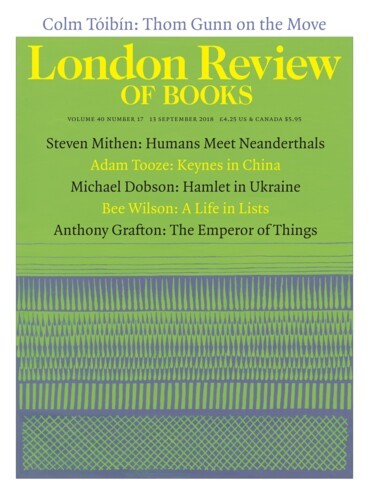A "terceira via" do New Labour prometia acabar com o choque entre esquerda e direita. Mas a fantasia da política sem conflito criou nossa era de raiva?
Andy Beckett
 |
Ilustração: Eleanor Shakespeare |
Tradução / A política está crua na atual Grã-Bretanha. Os Remainers se enraivecem com os Brexiters. Os pensionistas se juntaram contra os millennials; os nacionalistas contra imigrantes; os populistas contra elites; os tradicionalistas rurais contra os liberais urbanos. A política partidária é caracterizada pelo desprezo e pelo dogma. Para seus muitos inimigos, Jeremy Corbyn é um extremista e jamais será um legítimo líder nacional. Para os “corbynistas”, seus críticos internos são maus perdedores e traidores do Partido Trabalhista. Para os eleitores não-conservadores e para muitos parlamentares, o governo da primeira-ministra Theresa May é um experimento imoral e prejudicial ao país.
Para cada questão aparentemente fundamental, a Grã-Bretanha se sente mais dividida do que era nos turbulentos anos de 1970 e 1980. Há furiosos conflitos sobre liberdade de expressão, direitos de minorias, tamanho do Estado, modelos econômicos, valores sociais e culturais, e mesmo sobre a verdade e a seleção dos fatos políticos relevantes. Em muitas democracias, dos Estados Unidos, passando pela Itália até chegar à Austrália, a política se fragmentou em tribos aparentemente fora de controle. As facções em oposição não parecem mais capazes de conversar umas com as outras ou em concordar sobre o que elas mesmas devem falar.
Para os muitos eleitores que não gostam do confronto e acreditam que a democracia deveria ser feita de diálogos e compromissos, a nova desordem política é assustadora. Mesmo os políticos veteranos estão horrorizados e confusos, como expressou o ex-primeiro ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, em uma entrevista ao The Guardian: “Não tenho certeza se entendo completamente a política agora”. Os articulistas repetidamente usam a palavra “tóxico” para descrever o momento.
Há pouco tempo, a política ocidental não era assim. Durante boa parte dos anos 1990 e 2000, nossa política era – por padrões históricos –extraordinariamente ordenada, estável e suave. Havia concordâncias sobre o que era um bom governo. A maioria dos grandes partidos era liderada por figuras não tão claramente ideológicas, mas antes políticos que buscavam o consenso – aparentemente pragmáticos –, como os ex-presidentes dos EUA, Bill Clinton, e da França, Jacques Chirac, o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder e o britânico Tony Blair. Muitos eleitores pareciam satisfeitos com eles: não à toa, os quatro foram reeleitos. A vida política se movia lenta e previsivelmente: muitas democracias ocidentais pareciam iguais ano após ano.
Essa política sem dramas se enraizou no que parecia para muita gente uma análise persuasiva do mundo moderno. Um dos seus textos-chave foi o ensaio Brave New World: The New Context of Politics, publicado pelo sociológico britânico Anthony Giddens em 1994, onde ele argumentava que as sociedades estavam se tornando mais cosmopolitas e individualistas e menos tradicionais e tribais. Esse mundo mais fluido, com suas economias capitalistas interligadas e com crises ambientais compartilhadas, precisava de uma política que fosse calma e não divisora, “uma arena pública em que questões controversas (...) possam ser resolvidas, ou ao menos manipuladas, por meio do diálogo”. O conflito entre ideologias, classes sociais, partidos políticos ou outros grupos de interesse deveriam se tornar uma coisa do passado.
Durante a metade da década de 1990, as ideias de Giddens foram entusiasticamente absorvidas pelo movimento New Labour, do Partido Trabalhista (LP), que se excitou com sua aparente modernidade e viu nelas uma forma de escapar dos conflitos entre esquerda e direita que tinham tomado conta do partido. Giddens se tornou o intelectual favorito de Tony Blair. O reverenciado sociólogo e o jovem líder partidário, que estava procurando uma grande ideia para direcionar seu período à frente do número 10 da Downing Street, destilaram seus pensamentos políticos no que eles acreditavam ser a última filosofia: a “terceira via”.
Essa perspectiva apareceu já no primeiro manifesto do New Labour para as eleições gerais de 1997 da Grã-Bretanha: “Queremos deixar as batalhas políticas para trás (...) que atormentaram nosso país por muitas décadas. Muitos desses conflitos não têm mais relevância no mundo moderno – público versus privado, patrões versus trabalhadores, classe média versus classe trabalhadora”. Ao invés disso, um eventual governo do New Labour unificaria antigos grupos de interesse antagônicos e resolveria os problemas do país sem “paixões”. “O que resolve é o que funciona”, dizia outro trecho do texto. Blair venceu e, no ano seguinte, declarou que a terceira via era a “nova política para o novo século”.
As coisas não aconteceram dessa forma. Desde o referendo do Brexit – um tipo de guerra civil em forma de referendo – e a captura do Partido Trabalhista por Corbyn, um dos mais implacáveis oponentes da terceira via dentro do partido, muitas pessoas que acreditaram em uma política mais consensual durante os anos 1990 e 2000 ficaram incrédulas. Por três anos, a imprensa e as redes sociais expressaram, assim como os políticos centristas, os ativistas e os jornalistas, uma recusa em aceitar que a “nova política” estava obsoleta – e que era um fenômeno passageiro ao invés de uma solução permanente aos problemas do mundo moderno. De alguns outros menos otimistas com o projeto da terceira via, por sua vez, houve apenas um silêncio ensurdecedor. Como um ex-ministro do New Labour que ajudou Giddens a refinar a terceira via me disse: “Uma catástrofe atingiu meu tipo de política”.
O retorno do ódio e da ideologia a uma cultura política que supostamente os havia superado são atribuídos a muitas forças: da crise financeira de 2008 ao referendo de independência da Escócia, em 2014, do Twitter ao escândalo de gastos dos parlamentares britânicos. Muito menos atenção tem sido dada a se a promessa sedutora de uma política sem conflito - e sua realidade na Grã-Bretanha durante os anos 1990 e 2000 - também contribuiu para a queda da terceira via. A tentativa de criar uma política sem conflito ajudou a criar seu oposto?
Em 2005, o ano em que o New Labour venceu sua terceira eleição geral consecutiva, Chantal Mouffe, uma teórica política belga que tinha lecionado na Grã-Bretanha por mais de 30 anos sem atrair muita atenção para além dos muros da academia, publicou um pequeno livro chamado On the Political (Sobre o político, Martins Fontes, 2015). Seu título genérico esconde um argumento original e inquietante que Mouffe estava aperfeiçoando por duas décadas.
Apesar de se declarar uma radical de esquerda, Mouffe definia “o político” de forma similar aos autores geralmente associados com a direita, como Maquiavel: uma arena de competição de interesses e conflitos perpétuos. “Os teóricos liberais são incapazes de reconhecer (...) a realidade primeira do confronto na vida social”, diz um trecho do livro. Em uma democracia, grupos diferentes competem por recursos econômicos e espaços culturais e físicos. O político, portanto, envolve escolhas incompatíveis e dilemas “para os quais soluções racionais” – ou podemos dizer “soluções objetivas” – “podem nunca existir”. Os conflitos resultam apenas em vitórias temporárias; então, o balanço do poder entre os vencedores e os perdedores muda, graças aos rumos sociais ou outro fator de mudança, e o conflito se reinicia.
Cada batalha que não se resolve, diz Mouffe, não significa uma ameaça à democracia, mas o contrário, é sua essência vital. “Para ser capaz de mobilizar paixões”, ela escreve, “para se ter uma troca real dos desejos e fantasias das pessoas (...), a política democrática deve ter um caráter partidário”. Uma democracia saudável requer “campos opostos com os quais as pessoas possam se identificar”: para que todos sejam politicamente engajados, é necessário que existam um “nós” e um “eles”. Além disso, todas as tentativas de erradicar tribalismos por meio do consenso fracassaram – porque nenhum consenso pode incluir todo mundo.
Mouffe relembra a terceira via do New Labour como o primeiro exemplo dessa estratégia equivocada. “Longe de criar as condições para uma forma mais madura e consensual da democracia”, ela escreveu, o projeto levaria “exatamente ao seu oposto”. Ele criaria uma sociedade onde os conflitos que o New Labour tinha tentado suprimir, ou cuja existências tinham sido negadas, voltariam à superfície mais fortes do que antes, porque os antagonistas não veriam mais uns aos outros como competidores legítimos, mas como “inimigos que precisariam ser destruídos”. Na Grã-Bretanha e em todo o Ocidente, ela alertava na obra, “as condições estão maduras para demagogos políticos, (...) para desilusões com os partidos políticos e para o crescimento de outros tipos de identidades coletivas, (...) nacionalistas, religiosas ou étnicas”. Em particular, ela previu o surgimento de um “populismo de direita”.
Com extrema precisão, Mouffe antecipou o mundo político de hoje. Em 2005, no entanto, seu livro foi considerado muito alarmista pelas poucas pessoas que o leram. Ela me contou: “Eu lembro bem que ouvia: ‘Seu modelo não funciona. O centro da política está mudando. Não há partidos políticos populistas levados realmente à sério'”. Até a eleição de 2005, o Ukip[4] tinha conseguido, no máximo, 2% dos votos. “E eu respondia: ‘Não, vocês estão certos, o momento para populistas e inimigos que precisam ser destruídos’ ainda não chegou. Mas todas as condições estão dadas'”.
Mouffe vive em um elegante e ao mesmo tempo austero apartamento no Norte de Londres, uma região onde outros famosos provocadores da esquerda viveram, como Ken Livingstone[5] e Stuart Hall[6]. Quando eu a entrevistei, ela parecia orgulhosa de que suas previsões sobre as consequências da política de consenso estavam recebendo algum reconhecimento. “O que eu disse em 2005”, disse entre um café e outro, “se provou verdadeiro”. Hoje, Mouffe tem 75 anos, mais ainda continua escrevendo e lecionando e, assim como no livro, não costuma medir as palavras.
Apesar dos esforços e de todos os desastres sofridos pelos centristas nos últimos anos, o sonho de uma política menos conflituosa não desapareceu – de fato, o anseio por essa política está crescendo novamente. Esse desejo toma forma na esperança de que a política turbulenta de hoje possa ser acalmada por pessoas racionais e moderadas que apareçam juntas.
Quinze dias depois do meu encontro com Mouffe, em abril, o jornal The Observer – provavelmente o mais simpático, ainda hoje, ao New Labour – publicou uma reportagem dizendo que o lançamento de um novo partido de centro estava sendo considerado na Grã-Bretanha por um grupo endinheirado de ex-doadores dos partidos Trabalhista e Conservador. Eles eram liderados por Simon Franks, co-fundador da extinta produtora de cinema LoveFilm e um antigo conselheiro informal do parlamentar Ed Miliband quando ele era líder do LP. O grupo se dizia desiludido com a “natureza tribal” e a “polarização” da política contemporânea. O plano, dizia o jornal, é ter uma “plataforma política que supere as ideias da esquerda e da direita”. Seu nome provisório tem um caráter consensual, mas sem graça, que remete a Blair: United for Change (“Unidos por Mudança”).
Desde o início do ano, as especulações sobre esse e outros partidos de centro cresceram significativamente na mesma medida dos lamentos constantes na imprensa e em todos os lugares sobre a política de hoje. Enquanto isso, dentro do LP e do Partido Conservador (Conservative Party – CP), no parlamento e em outros partidos que disputam as eleições, a divisão entre aqueles que ainda acreditam em um consenso político e aqueles que creem na confrontação se tornou mais evidente. Por trás das suas brigas sobre o Brexit e o corbynismo urge uma outra grande disputa: qual deveria ser o tom e a substância da política em uma democracia?
Na política e para além dela, a década de 1990 parecia um tempo para recomeços. “Você tem que pensar naquele sentimento de liberação”, disse-me Anthony Giddens. “O comunismo soviético tinha desaparecido e havia um novo mundo”.
Da África do Sul à Irlanda do Norte, reconciliações políticas antes impensáveis sugeriam um novo modelo que havia se espalhado por meio do jornalismo e da academia. “Graças a pessoas como Giddens e [do filósofo político estadunidense] John Rawls, a teoria política basicamente apoiava a ideia de que quanto mais consenso melhor”, lembra Mouffe. Na Grã-Bretanha, o mandato profundamente divisor da ex-primeira ministra Margaret Thatcher tinha terminado em 1990, e as lutas entre esquerda e direita que tinham dominado a política durante os anos 1970 e 1980 pareciam estar no fim.
Em 1991, quando crescia o número de cadeiras do LP no parlamento britânico, Tony Blair analisou o estado da política mundial para a revista Marxism Today. “Todos os pontos fixos no horizonte mudaram”, escreveu excitado. “Tudo e todos podem ser pensados e repensados. Nós começamos outra vez”.
Apesar de ainda ser o veículo oficial do pequeno Partido Comunista da Grã-Bretanha, desde os anos 1980 a revista vinha tentando formular – de forma ambiciosa – uma nova política que, em muitos aspectos, pode ser considerada uma precursora da terceira via. Essa política, esperava-se, seria menos dogmática e tribal, e mais atenta ao que a publicação chamava de “novos tempos”, ou seja, para as imensas mudanças forjadas pela revolução do livre-mercado global dos 20 anos anteriores. Como Giddens, a Marxism Today viu essa revolução como um fenômeno permanente, e acreditou que muitos elementos dele deveriam ser aceitos. Mas a revista também acreditou que remédios precisavam ser encontrados para os danos que essa revolução tinha causado.
A revista considerou que a maior parte da esquerda, dentro e fora do LP, estava ultrapassada em suas visões de mundo e estratégias, comparando-a com os apoiadores de Thatcher – “a cavalaria contra tanques” – e ansiando por um líder do partido que não se inserisse nessa crítica. O editor da Marxism Today, Martin Jacques, identificava Blair como um político talentoso que estava buscando ideias novas e concordava com ao menos algumas das ideias da publicação, e tratou de procurá-lo. “Eu pensei que ele era algo novo”, Jacques me contou. “Não tinha raízes na tradição do partido” – o pai de Blair era do CP – “e quando ele surgiu com argumentos como ‘duro com o crime, duro com as causas do crime’, isso sugeria que ele sabia que estava pensando de forma diferente do LP. Gostei daquilo”.
O sonoro argumento de Blair contra o crime assegurou a ele sua primeira atenção nacional, tornando-o foco tanto da direita quanto da esquerda, e de alguma maneira de nenhuma das duas – respondendo ao crime simplesmente como um problema social que precisava ser resolvido e não como um tipo de ideologia. Ele se tornou líder do LP já no ano seguinte. Apresentar-se quase sempre como uma figura apolítica se tornou fácil para Blair, porque era a forma como ele mesmo costumava se enxergar. “Quando eu era jovem, nunca me interessei realmente por política”, disse em uma entrevista já como primeiro-ministro no ano 2000. “Não me sinto um político mesmo hoje”.
Durante os primeiros anos de sua liderança do partido e de seu mandato à frente da Grã-Bretanha, Blair foi influenciado nesse tipo de pensamento por outro cético político, Geoff Mulgan. Ele era um precoce, intelectualmente impaciente ex-ativista de esquerda que tinha rapidamente se cansado do que chamava de “facciosismo” e “pensamento morto” de muitos socialistas durante os anos 1970 e 1980. Mulgan gravitou em torno da Marxism Today e do New Labour, trabalhando como conselheiro do também ex-primeiro-ministro Gordon Brown (2007-2010) e do próprio Blair. Em 1994, ele transformou suas experiências na Grã-Bretanha e seu vasto conhecimento em política ocidental e tendências sociais em um livro, Politics in an Antipolitical Age (sem tradução para o português), onde afirma que os credos em guerra na política não interessam mais aos eleitores, ou não os atendem bem. “A política precisa retornar à arte de administrar interesses divergentes”, escreveu.
Naquele mesmo ano, Giddens publicou seu próprio livro, rejeitando o socialismo e todas as outras grandes ideologias do século XX, Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics (Para além da esquerda e da direita, Unesp, 1996). Ele argumenta que esses credos eram muito rígidos e fora de moda para resolver os problemas ambientais e sociais do século XXI. Mulgan conhecia Giddens, que apoiou por muito tempo o LP, e o convidou para compartilhar suas ideias no círculo do New Labour.
Ambos costumam escrever de forma esquemática e simples, mas suas certezas e a abrangência de referências podem ser inebriantes para políticos acostumados com a cultura insular de Westminster. Pessoalmente, eles eram diretos e informais. Nos anos 1980, Mulgan tinha dirigido vans de turismo para as bandas que apoiavam o LP. O pai de Giddens tinha sido escriturário na London Transport[7]. Como intelectuais, Mulgan e Giddens eram figuras pragmáticas e eficientes para a hierarquia do New Labour – que via a si mesma nestes termos.
A visão deles de uma política mais harmoniosa, sem as brigas habituais da profissão e as ambições conflitivas, também se juntaram à fé cristã de Blair, o que fez dele um instintivo formador de coalizões. “Tony gosta de inclusão”, Mulgan me contou. “Ele sempre pensa: ‘Consiga colocar todo mundo em uma mesa e nós podemos resolver”. Em uma coleção de ensaios feita por cristãos do partido, em 1993, Blair escreveu que sua política era “baseada em uma visão fundamentalmente otimista. (…) Que há potencial em todos os seres humanos”.
Durante o ano de 1995, Blair começou a empregar a “terceira via” como um lema em seus discursos: esporadicamente, no começo, como uma descrição das políticas particulares do New Labour, então mais regularmente, até chegar ao ponto de ser a explicação para a postura do seu governo. Mas o que isso significava exatamente? Blair, na época um mestre da retórica vaga, nunca explicou direito. Jornalistas políticos fundiram seus cérebros com a frase. Articulistas melhor informados passaram a pontuar as variantes que o termo tinha adquirido nas décadas anteriores por muita gente – dos marxistas dissidentes aos fascistas italianos – que queria simbolizar suas rejeições às ortodoxias políticas existentes.
Por três anos, Blair usou a terceira via como slogan propagandístico, como uma metáfora atrativa, mas quase sem conteúdo, para definir a suposta novidade do New Labour em relação ao caráter estático dos seus oponentes. Então, em 1998, ele e Giddens decidiram definir o termo mais concretamente. Eles publicaram um panfleto e um livro, respectivamente, intitulados The Third Way(Para uma terceira via: a renovação da social-democracia, de Giddens, foi editado no Brasil pela Record em 1998; o texto de Blair não foi traduzido para o português). “Eu reconheci que aquela frase tinha uma leve nocividade histórica”, contou-me Giddens. “Mas a usei para conseguir atenção”.
O panfleto de Blair era enérgico, mas sem foco. Ele variava entre conclusões vagas sobre os valores da sociedade somadas a precisos, mas previsíveis ataques à esquerda “fundamentalista” – que ele continua fazendo atualmente – e alertas de que os “impostos devem ser mantidos sobre controle”. O texto é geralmente lido mais como um padrão retórico da centro-direita – da mesma estirpe dos artigos produzidos pelos vários partidos democrata-cristãos da Europa – do que uma nova fusão política.
O livro de Giddens é mais profundo e matizado. Além de advogar pelo consenso político, ele alertava que os governos de terceira via ainda precisariam tomar decisões controversas: para frear o crescente poder das indústrias financeiras, por exemplo, e para exigir comportamentos socialmente responsáveis de empresas, bem como dos defensores do lucro. Os dois insistiam que aceitar o livre-mercado global em princípio – e, assim, efetivamente removendo-o da política – era uma parte central do projeto da terceira via.
Pelos cinco anos seguintes, de 1998 a 2003, Blair promoveu essas e outras ortodoxias da terceira via regularmente, vastamente reportado pela imprensa e algumas vezes exaltando a si próprio em encontros internacionais na Grã-Bretanha, na Itália, na Alemanha e nos Estados Unidos. A maioria dos participantes era líderes de partidos de centro-esquerda que tinham entrado em territórios políticos ambíguos e, consequentemente, alcançado algum sucesso eleitoral. Giddens também participou de algumas dessas reuniões, mas já naqueles dias ele tentava diminuir seu envolvimento. “Eu nunca fui conselheiro de Tony Blair”, ele argumentou para mim. “Eu era apenas um membro daquelas discussões”.
Em junho de 1999, Blair e Schröder lançaram um manifesto conjunto da terceira via (o chanceler alemão chamava-a de “novo meio”) na Millbank Tower, o quartel-general do mitológico New Labour em Londres, onde o partido tinha orquestrado sua vitória nas eleições gerais dois anos antes. “Os social-democratas estão no governo em quase todos os países da União Europeia”, começava o manifesto. A terceira via parecia ter triunfado.
A eleição geral seguinte, em 2001, sugeria uma nova era de harmonia política e equilíbrio. Quase 95% das cadeiras do parlamento foram preenchidas pelos mesmos partidos de antes, deixando a já imensa maioria do New Labour conquistada em 1997 completamente intacta.
Havia uma única diferença significativa entre os dois contextos. O comparecimento às urnas foi extremamente baixo: o menor em 83 anos. Muitos observadores e membros do LP afirmaram que o fenômeno era consequência da eleição de um único lado. O CP ainda oferecia políticas tchatheristas aos eleitores cansados e tinha a desajeitada liderança de William Hague. “A fraqueza dos conservadores saturou a eleição”, diz David Miliband, uma das figuras mais ponderadas do Partido Trabalhista, que se tornou parlamentar em 2001. “A política era como bater palmas com uma única mão”.
Giddens estava relativamente otimista com a situação. Em 2007, ele argumentou que a “democratização cotidiana” da Internet – uma visão otimista do papel político da web – significava que as eleições estavam se tornando menos importantes para a vida dos eleitores. “Um baixo comparecimento eleitoral não significa necessariamente um sinal de insatisfação com o governo”, postulou.
Mas no começo dos anos 2000 ficou mais claro que algumas pessoas estavam infelizes com a terceira via. “Beyond Left and Right [o livro de Giddens] tinha soado grande e ambicioso, mas não era. Ele era um regresso. Essa noção da política era extremamente pequena”, diz Jacques, editor do Marxism Today. Sem categorias ideológicas, sem uma crítica da economia e do status quo social, sem inimigos definidos – longe do que Blair preguiçosamente se referia como as “forças conservadoras” –, a política do New Labour era fraca. Governar se tornou principalmente competência e formas de mensurá-la. Em 2000, a administração Blair tinha 600 prioridades oficiais. Mesmo ele costuma criticar, em algumas ocasiões, a baixa qualidade do seu governo. “De vez em quando pode parecer que governar é um mero exercício tecnocrático bem ou mau administrado, mas sem nenhum propósito moral dominante”, disse em um discurso em 2002.
As inadequações da vida política ocidental na perspectiva da terceira via se tornaram um foco dos cientistas políticos. Em um ensaio de 2006 chamado Ruling the Void, o cientista político irlandês Peter Mair descrevia o que acreditava ser um “esvaziamento” da política: os eleitores tinham perdido sua função democrática porque muitas das questões antigas haviam sido retiradas da discussão pública pelo New Labour e seus membros estrangeiros. Em 2000, o sociólogo britânico Colin Crouch alertou que os países ocidentais estavam se aproximando de um estado de “pós-democracia”, em que as eleições simplesmente mantinham a mesma elite no governo. Mas a crítica mais vigorosa da terceira via veio do melodramático filósofo conservador alemão Peter Sloterdijk em 2006. “O que é discutido pelos governos se tornou chato. O que se espera deles é que sentem em torno de grandes mesas para chegar à uma fórmula mundial de compromisso”. A política desse tipo foi “o maior monstro sem forma já visto. (…) O que quer que ela toca se torna, como ele mesmo, dócil e sem caráter”.
Ex-ministros do New Labour reclamam que essas críticas radicais ignoram os muitos sucessos dos seus governos, como a introdução de um salário mínimo na Grã-Bretanha e o Acordo de Belfast (Good Friday)[8], na Irlanda do Norte. David Miliband diz: “Nós estávamos tentando mensurar o progresso unidade por unidade’, é assim que as pessoas medem as coisas'”. Mulgan incrementa: “Fazer promessas relativamente pequenas e cumpri-las funcionou muito bem por um tempo”.
Mulgan também pontua que a administração do New Labour não se confinou apenas ao partido. “Tony Blair chegou ao poder em parte porque ele estava alinhado com a visão de mundo do establishment dos negócios”, que era gradativamente mais liberal e cosmopolita e, assim como o movimento, acreditava que muitos problemas podiam ser resolvidos por uma coleta cuidadosa de dados, a customização de grupos focais e boas relações públicas, e então avaliar os resultados a partir deles – “é o que funciona”.
No entanto, o fato de ex-figuras do New Labour geralmente responderem às críticas dos seus governos com detalhes políticos é revelador: sugere que eles pensam que este é o único critério com que os governos devem ser julgados. Mais do que isso, em governos, assim como nos negócios, basear o apelo público em competência e em eficiência é um risco. Quando algumas das políticas mais ambiciosas de Blair, como resolver o abandono e os problemas sociais deixados por Thatcher no Norte do país, tiveram menos progresso do que o esperado, ou falharam totalmente, os eleitores sentiram-se desiludidos, e o New Labour se viu incapaz de apelar para as lealdades emocionais e ideológicas de outrora.
Partidos populistas de direita tinham começado a contabilizar avanços eleitorais na França, na Áustria e na Itália durante a década de 1980 e no começo nos anos 1990. Em cada caso, os populistas entraram nos espaços políticos deixados vazios pelos grandes partidos congregados mais ou menos no centro. Em 1994, Giddens escreveu preocupado sobre a volta de “neo-fascistas às ruas” da Europa. O Ukip tinha sido fundado em 1993 e, apesar de uma vida inicialmente amadora, fora capaz de captar 16% do eleitorado nas eleições de 2004 para o parlamento europeu.
Mas o crescimento das políticas de conflito não atingiram as conversas internas do New Labour. Ed Miliband, que durante os anos 1990 e 2000 estava ocupado demais como conselheiro de Gordon Brown, depois como parlamentar e depois como ministro, relembra: “Qualquer um pensaria que todo o apoio do partido de extrema-direita de Jörg Haider, na Áustria, era ruim. Mas esta ameaça não parecia muito… presente”. Seu irmão David complementa: “Havia um senso de que a Grã-Bretanha estava protegida, parte pelo que nós estávamos alcançando no governo, parte pelo nosso sistema eleitoral”.
Outros no New Labour convenceram a si mesmos que a terceira via tinha sua própria dimensão populista. Blair amava invocar o “povo”. Em uma conferência em 1999 do Partido Trabalhista, ele atacou “as velhas elites (...) que tinham levado nossas profissões e nosso país por muito tempo”. Ele era um educado ex-advogado, e seus parlamentares eram mais de classe média do que qualquer outra bancada trabalhista; mas, em primeiro lugar, esse tom anti-establishment era completamente absurdo. Durante boa parte das décadas de 1980 e 1990, o partido tinha sido bastante evitado pelos antigos centros britânicos do poder, como a City de Londres (o equivalente à Wall Street, nos EUA). Milhões daqueles que votaram no LP em 1997 o fizeram com um vago espírito rebelde: tirar o fracassado partido que estava no poder e eleger um governo reformista.
Mas à medida que o governo de Blair se alongava, e suas principais figuras pareciam muito mais adequadas, o senso do New Labour como um emergente populista diminuiu vigorosamente. Como um dos seus ex-ministros colocou em uma linguagem burocrática: “O governo drena suas narrativas”.
Sempre um político intelectualmente curioso, Ed Miliband leu Sobre o Políticode Mouffe, quando ele foi lançado, em 2005. “Na sua descrição da terceira via como uma tentativa de fazer política sem inimigos, eu lembro de pensar: ‘Ela chegou no ponto exato'”, contou ele. “Há um lado da terceira via que dizia que o que era bom para os negócios era sempre bom para os trabalhadores. Diga isso a um motorista do Uber! Você não pode ignorar este tipo de disputa”.
No entanto, na metade dos anos 2000, Miliband era uma figura nova no New Labour e, além disso, poucas pessoas no governo compartilhavam com suas reflexões. “O blairismo não tinha uma cultura de autocrítica”, diz o cientista político Alan Finlayson, cujo livro Making Sense of New Labour (sem traduções para o português) permanece como um dos estudos mais claros da atmosfera amorfa do governo de Tony Blair. “Os apoiadores dele tinham medo de críticas internas depois de toda a divisão entre esquerda e direita no Partido Trabalhista durante as décadas de 1970 e 1980. E eles eram estranhamente anti-intelectuais de alguma forma, em acreditar que a globalização era como o clima e que eles tinham a única compreensão do mundo moderno”.
As duas convicções significavam que, geralmente, políticos do New Labour viam apenas o que eles esperavam em textos favoráveis, como os da Marxism Today e os dos livros de Giddens – principalmente que a globalização e o thatcherismo tinham transformado a Grã-Bretanha – enquanto ignoravam as mensagens embutidas nestes mesmos textos sobre suas consequências potencialmente explosivas.
“A falha fundamental do New Labour foi aceitar o neoliberalismo”, diz Giddens hoje. “Eles não fizeram o que deveriam fazer para restringi-lo. O contraste é impressionante com o intervencionismo de Blair em questões militares”. David Miliband, apesar de ser um membro mais ortodoxo do New Labour do que seu irmão, concorda em partes. “Nós não gostávamos que a globalização fosse tão desigual, tão instável. Estavam acontecendo coisas mais profundas na economia do que nós notávamos”.
Finlayson argumenta que os pontos cegos da terceira via sobre as desvantagens do capitalismo não eram um acidente, mas uma escolha – um sinal de suposições direitistas por trás da retórica de estar “além da direita e esquerda”. “Nós não devemos levá-los a sério quando eles afirmam que não eram ideológicos”. A ideologia era evidente na administração do partido pelos apoiadores de Blair, que aos poucos foram marginalizando a esquerda do LP. Um dos paradoxos – poderíamos dizer “hipocrisias” – do New Labour era que, em busca de criar uma política mais consensual, ele primeiro necessitou dominar aqueles que não acreditavam nas suas ideias.
Por todo o interesse da terceira via na modernidade e em uma linguagem quase científica, seus arquitetos e verdadeiros seguidores estavam fora de moda. Eles tinham sido projetados, assim como muitos de nós, pela forma como viam a política durante a fase adulta. Tinham crescido com a ideia de que a esquerda havia se tornado forte e agressiva nos anos 1970, e que o thatcherismo, com todas as suas falhas, fora responsável por resgatar a Grã-Bretanha nos anos 1980. Eles não notaram totalmente que, quando o Partido Trabalhista finalmente retornou ao poder em 1997, e quando já governava sozinho na década de 2000, as duas forças tinham sumido. Com seus sindicatos fracos e bancos superpoderosos, a Grã-Bretanha não era um país que precisava de um governo que freasse a esquerda e reverenciasse os negócios.
Porém, o New Labour e seus gurus da terceira via tinham muita confiança em seus próprios julgamentos para ajustar seus pensamentos e políticas para quando a imagem da Grã-Bretanha como uma história de sucesso do livre-mercado se tornasse velha. Eles também nutriam um desprezo pela esquerda – obsoleta, em seu ponto de vista, porque ela ainda acreditava no conflito e na divisão entre esquerda e direita –, para levar em conta suas válidas percepções sobre as fragilidades do capitalismo moderno. “Eles se encantaram por sua própria mitologia”, diz Finlayson. “Ficaram presos nela”.
A terceira via gradualmente saiu de moda, assim como o New Labour na metade dos anos 2000. A guerra no Iraque, em 2003, com seus prelúdios e consequências amargas, e mesmo a disputa óbvia entre Blair e Brown, fizeram ser cada vez mais difícil sustentar a noção que estavam praticando uma política de consenso. Blair deixou o cargo de primeiro-ministro em 2007. Quando ele publicou suas memórias, tempos depois, mencionou a terceira via apenas cinco vezes em 700 páginas. Giddens nem isso.
Nos nossos dias, ex-blairites raramente conversam sobre a terceira via. Sua fé no consenso político, no entanto, permanece. De todos com quem eu falei, exceção feita a Ed Miliband, ninguém está preparado para aceitar que Corbyn está certo ao fazer o LP ser um partido de confronto novamente. “Muitas pessoas estão simplesmente em negação”, Mouffe argumenta. “Eu tenho visto isso na academia: quando as pessoas precisam defender uma teoria por toda a vida, é necessário muita coragem para dizer: ‘Eu estou errado'”.
Surpreendentemente, meus entrevistados elogiaram o presidente da França, Emmanuel Macron, em sua juventude, suas camisas com mangas arregaçadas, e supostamente unificando ecos políticos de um Blair dos anos 1990. “Macron é um modernizador francês”, disse David Miliband. Mouffe concorda. “Macron está tentando fazer o que Blair fez”. No entanto, a popularidade irregular de Macron, apenas um ano depois de sua eleição, sugere que consenso político não seduz mais como antes.
David Miliband insistiu que as políticas de ódio no Ocidente hoje são uma fase passageira. “O populismo é popular até ser eleito”. Mulgan argumenta que o tom da política na Grã-Bretanha – e por implicação, em outras democracias – é cíclica. Era confrontacional nos anos 1970 e 1980, consensual nos anos 1990 e 2000, e agora é confrontacional novamente. Cada fase, ele acredita, eventualmente produz seu oposto: quando o consenso começa a saturar, eleitores e políticos procuram uma ruptura; quando os confrontos se tornam exaustivos, eles procuram a calma. É possível estender seu argumento para dizer que os dois tipos de política estão inseridas na democracia britânica, com as paixões na Câmara dos Comuns e primeiros-ministros ferozes de um lado, e sua reverência pelo “compromisso britânico” e moderação de outro.
Mas Finlayson acredita que qualquer retorno ao consenso vai levar um longo tempo. “A política mudou fundamentalmente. Os centristas sofreram uma derrota de legitimidade profunda por conta do Iraque e da crise financeira. Não haverá retorno ao centrismo até que eles se redirecionem”. Ele também argumenta que as redes sociais fragmentaram a política positivamente, e prevê que a frágil habilidade do capitalismo em prover uma vida boa para a maioria das populações significa que as competições por recursos vão permanecer ferozes.
David Miliband, o menos otimista das antigas figuras do New Labour com quem eu conversei, chama isso de “política da torta que diminui”. “Quando nós estávamos no governo, a torta não estava encolhendo, então, decisões difíceis sobre como dividi-la foram esquecidas”. A terceira via contornava questões antigas, de alguma forma saturadas, sobre quem obtém o poder e a riqueza. Acabou sendo uma abordagem para os bons tempos.
Em seu apartamento no Norte de Londres, Mouffe falou gravemente sobre as perspectivas para a democracia nesses tempos difíceis. Ela não acredita que a política de consenso vai ter um grande papel neste momento. “A principal batalha será entre os populismos de direita e de esquerda”, diz. “Isso poderá abrir o caminho para uma forma mais autoritária de neoliberalismo” – a expansão do estilo Trump de governar por decretos e desregulações – “ou a uma política nova e muito mais democrática”, continuou a autora belga. Mouffe vê agitações dessa segunda possibilidade no Partido Trabalhista de Corbyn.
Mas ela segue: “A democracia em seu pleno funcionamento – com conflito, mas onde as pessoas aceitam a existência dos seus adversários – não é fácil de se estabilizar”. Ela olha novamente para seu café preto. “Eu não sou tão otimista”.