Colin Marshall
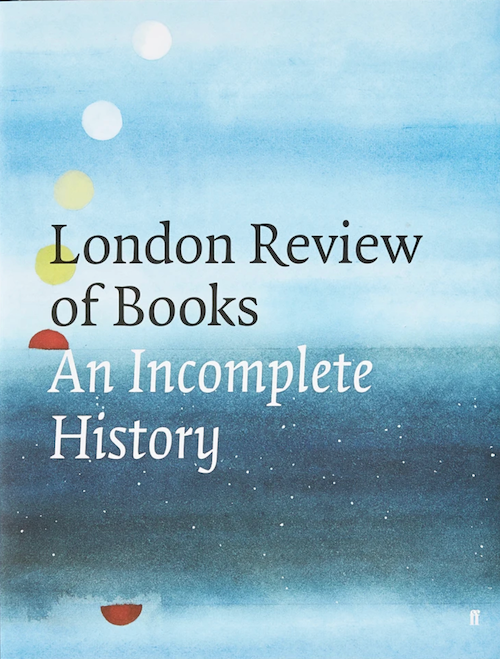 |
| LARB |
London Review of Books: An Incomplete History
SEMPRE PERGUNTO aos leitores sérios quais publicações eles acham confiáveis e interessantes, e a cada ano eles se esforçam mais para encontrar títulos. Aqueles que leem fontes impressas geralmente mencionam a London Review of Books, e uma explicação do que os faz voltar deve, eu suspeito, começar com suas manchetes. Aqui está Frank Kermode sobre The War Against Cliché, de Martin Amis: "Nutmegged". Michael Wood sobre Sabbath's Theater, de Philip Roth: "I Am Disorder". Jenny Turner sobre Outline, de Rachel Cusk: "I Blame Christianity". John Lanchester sobre Mao II, de Don DeLillo: "Oh My Oh My Oh My". A primeira capa da LRB, datada de 25 de outubro de 1979, traz uma manchete desconexa sobre Darkness Visible, de William Golding. Quarenta anos depois, publicou uma reavaliação muito divulgada de John Updike sob o título "Malfunctioning Sex Robot".
Certamente um para os livros de história, essa manchete veio tarde demais para entrar neste livro de história, publicado para celebrar o 40º aniversário do LRB. Por mais que as manchetes do jornal tenham se destacado no final dos anos 1970, completamente analógico, elas se destacam ainda mais em nosso presente digital. Muitas publicações nativas da internet rotulam cada pedaço de "conteúdo" com um título projetado para maximizar as contagens de compartilhamento e as classificações de mecanismos de busca de jogos, e até mesmo publicações legadas fundadas na era impressa agora exibem online as mesmas tendências para explicações mortíferas e provocações formuladas. Algumas revistas e jornais sobreviventes amargam ainda mais a pílula, anexando abaixo da versão digital de um pedaço a manchete menos insultuosa à inteligência sob a qual ele apareceu impresso.
Uma manchete da LRB geralmente vem direto do artigo, muitas vezes de uma citação do livro em análise: Kermode inclui a descrição de Amis de um goleiro parecendo "capaz de ser atingido por uma bola de praia". Às vezes, as palavras são do próprio revisor: Lockwood imagina Updike não apenas como um robô sexual com defeito, mas como alguém "tentando administrar cunilíngua em sua máquina de escrever". A falta de contexto torna as manchetes ainda mais atraentes, assim como a suposição implícita de nossa disposição de ler o artigo inteiro para descobrir esse contexto. A contagem média de palavras dos artigos citados acima excede 3.600, mas outros vão muito mais longe: só nos últimos anos, vimos 9.000 palavras de Lanchester sobre o Facebook, 10.000 de David Bromwich sobre liberdade de expressão e uma edição inteira de 60.000 palavras de Andrew O'Hagan sobre o incêndio da Grenfell Tower.
A escrita de manchetes não figura na London Review of Books: An Incomplete History, mas a arte mais obscura da divisão de palavras sim. “Tentamos seguir a etimologia”, escreve o editor adjunto Jean McNicol, “e assim ‘interesse’ é dividido em ‘inter-’, não ‘in-’ ou ‘int-’.” Palavras com o sufixo “-ion” são divididas após a consoante, como visto no exemplo de “nationalisat-ion” na página manchada de chá do papel de caderno reproduzido ao lado do texto de McNicol. Suas prescrições, que ainda permanecem como política de divisão de palavras da LRB, foram originalmente rabiscadas naquele papel pelo editor fundador Karl Miller. Apesar de ter se aposentado em 1992 (ele morreu em 2014), Miller continua sendo o espírito animador do periódico, e as anedotas envolvendo-o reunidas no livro inspirarão arrependimento em nós, leitores da LRB, que perdemos seus anos lá como uma presença viva e rabugenta.
Se teríamos desejado escrever para ele é uma questão mais complicada. “Ele deu a impressão de que o artigo era uma questão de vida ou morte”, escreve O’Hagan, “só que mais importante”. Em uma coleção de lembranças publicada após a morte de Miller, O’Hagan relembra que “trabalhar com prazos com Karl podia ser bem assustador, mas ele defendia o artigo e as pessoas que trabalhavam nele”. O colaborador regular da LRB, Neal Ascherson, outro colega escocês que conheceu Miller em Cambridge, lembra-se dele como tendo “um estilo de esgrima de Edimburgo na conversa, o avanço de uma espada de ponta seca. Alarmante para alguns. Mas não pretendia ferir, apenas desequilibrá-lo momentaneamente”. Miller conseguia “aceitar o insulto de uma forma que durava décadas”, escreve Ascherson, “mas sua lealdade aos amigos — embora nunca acrítica — era tribal e inabalável”.
Uma manchete da LRB geralmente vem direto do artigo, muitas vezes de uma citação do livro em análise: Kermode inclui a descrição de Amis de um goleiro parecendo "capaz de ser atingido por uma bola de praia". Às vezes, as palavras são do próprio revisor: Lockwood imagina Updike não apenas como um robô sexual com defeito, mas como alguém "tentando administrar cunilíngua em sua máquina de escrever". A falta de contexto torna as manchetes ainda mais atraentes, assim como a suposição implícita de nossa disposição de ler o artigo inteiro para descobrir esse contexto. A contagem média de palavras dos artigos citados acima excede 3.600, mas outros vão muito mais longe: só nos últimos anos, vimos 9.000 palavras de Lanchester sobre o Facebook, 10.000 de David Bromwich sobre liberdade de expressão e uma edição inteira de 60.000 palavras de Andrew O'Hagan sobre o incêndio da Grenfell Tower.
A escrita de manchetes não figura na London Review of Books: An Incomplete History, mas a arte mais obscura da divisão de palavras sim. “Tentamos seguir a etimologia”, escreve o editor adjunto Jean McNicol, “e assim ‘interesse’ é dividido em ‘inter-’, não ‘in-’ ou ‘int-’.” Palavras com o sufixo “-ion” são divididas após a consoante, como visto no exemplo de “nationalisat-ion” na página manchada de chá do papel de caderno reproduzido ao lado do texto de McNicol. Suas prescrições, que ainda permanecem como política de divisão de palavras da LRB, foram originalmente rabiscadas naquele papel pelo editor fundador Karl Miller. Apesar de ter se aposentado em 1992 (ele morreu em 2014), Miller continua sendo o espírito animador do periódico, e as anedotas envolvendo-o reunidas no livro inspirarão arrependimento em nós, leitores da LRB, que perdemos seus anos lá como uma presença viva e rabugenta.
Se teríamos desejado escrever para ele é uma questão mais complicada. “Ele deu a impressão de que o artigo era uma questão de vida ou morte”, escreve O’Hagan, “só que mais importante”. Em uma coleção de lembranças publicada após a morte de Miller, O’Hagan relembra que “trabalhar com prazos com Karl podia ser bem assustador, mas ele defendia o artigo e as pessoas que trabalhavam nele”. O colaborador regular da LRB, Neal Ascherson, outro colega escocês que conheceu Miller em Cambridge, lembra-se dele como tendo “um estilo de esgrima de Edimburgo na conversa, o avanço de uma espada de ponta seca. Alarmante para alguns. Mas não pretendia ferir, apenas desequilibrá-lo momentaneamente”. Miller conseguia “aceitar o insulto de uma forma que durava décadas”, escreve Ascherson, “mas sua lealdade aos amigos — embora nunca acrítica — era tribal e inabalável”.
Lanchester lembra de Miller como "não apenas engraçado, mas a pessoa mais engraçada que já conheci". Ele também se lembra das vezes em que Miller passou por uma lista de colaboradores do jornal e "riscou os nomes que não deveríamos mais usar, traçando uma linha vermelha firme em cada uma das pessoas que foram banidas" (Miller "disse, alarmantemente, que gostava [de fazer isso] mais do que qualquer outra coisa"). Essa vingança manteve a LRB em "uma busca ativa e ansiosa por novos escritores", criando uma agitação à qual Lanchester credita a relevância duradoura de Miller para a cultura literária britânica. Mas Miller reservou um discernimento ainda mais estimulante para o trabalho de escritores não expulsos: "Todos os pontos em que você estava em gelo fino e esperava que ninguém notasse, ele percebeu. Você não tinha escolha a não ser melhorar seu jogo".
Depois de quatro décadas não apenas de existência sustentada, mas de circulação crescente (não que isso tenha significado lucratividade), a LRB deve ter descoberto coisas que outras publicações, agora em dificuldades, não descobriram. Lanchester explica um: “Um artigo tem que ter um tom, e tem que obter esse tom de seu(s) editor(es). O que eles estão ou não interessados, o que eles sabem ou não, é o único filtro confiável para criar uma entidade editorial distinta. Correr atrás do que parece interessante para outras pessoas é uma receita garantida para o fracasso.” Os pontos cegos, ênfases exageradas e erros introduzidos por uma mão tão firme na roda editorial são parte do caráter de um periódico, e “mais artigos dão errado por não ter esse caráter do que por ter muito dele.”
Um artigo também precisa de valores, e o de Miller tinha “a ver com a escrita e a diferença entre uma escrita boa e ruim.” A substância intelectual importava, “mas o que mais importava era uma boa escrita.” Sob a atual editora Mary-Kay Wilmers — que, depois de trabalhar para Miller na revista The Listener da BBC, se juntou a ele e Susannah Clapp na fundação da LRB — o artigo manteve o compromisso de Miller com a boa escrita acima de tudo. Esse tipo de compromisso, abandonado ou nunca assumido pela maioria das publicações tradicionais em língua inglesa, traz os leitores de volta. Alguém pode se opor, como muitos fizeram, aos argumentos feitos ou à visão de mundo implícita nos artigos da LRB, mas não à sua construção e artesanato.
Em muitas publicações até mesmo ostensivamente respeitáveis hoje, garantir uma "boa escrita" envolve nada mais do que consertar a ortografia e a gramática, moldar o artigo em uma forma narrativa reconhecível e aumentar as qualidades que provavelmente o impulsionarão para a circulação online alimentada pela aprovação, aversão ou, idealmente, uma mistura de ambos. A luta para atrair o vasto público de leitores da internet tornou publicações antes bem diferenciadas quase indistinguíveis. O rigor que resta é ideológico: as opiniões expressas em um artigo se enquadram nos parâmetros aprovados, definidos pelo zeitgeist da mídia social do que agora chamamos de "o ano atual"? Mas se perseguir os interesses imaginários dos outros garante o fracasso, fugir do que eles podem achar inaceitável também garante.
"Há pessoas que confiam na LRB e pessoas que confiam em não gostar dela", escreve O'Hagan. De fato, a LRB enfurece não apenas seus leitores, mas também seus escritores, como evidenciado pela correspondência reproduzida em An Incomplete History. Oferecida como uma escolha representativa está a publicação em 1982 de uma resenha das memórias do falecido Al Alvarez, Life after Marriage — escrita por Ursula Creagh, a mesma esposa sobre a qual Alvarez escreve sobre o divórcio. O principal objetor foi Frank Kermode, um amigo de Alvarez, bem como um regular no jornal desde sua primeira edição. "Não tenho nada contra a Sra. Creagh e não estou surpreso que ela não goste do livro", ele escreve para Miller, "mas parece extraordinário que ela tenha sido convidada a revisá-lo em um periódico que depende de comentários imparciais para sua reputação."
“Eu não acredito em revisões ‘sem preconceitos’ — e eu tinha percebido pelos seus escritos que você também não”, responde Miller. “Mas eu acredito em revisões precisas” — neste caso, uma avaliação precisa do “caráter histrionicamente egoísta e tendencioso” da obra de Alvarez. Miller conclui que “chegou a hora de não termos mais nada a ver uns com os outros”; mas, para a sorte dos leitores da LRB, a rejeição não pegou. Kermode se tornou o colaborador mais prolífico do jornal, abordando tudo, do modernismo à Bíblia, de Shakespeare a Thomas Pynchon, até sua morte em 2010, aos 90 anos. Um professor muito elogiado, Kermode “forneceu o modelo perfeito de como pairar como escritor entre a academia e o jornalismo”, escreve o editor da LRB, Daniel Soar.
Embora Kermode tivesse o conhecimento em seu comando, “foi a escrita que fez isso — e o pensamento que estava por trás da escrita”. Criticamente, ele podia "dar com uma mão e tirar com a outra, como quando em sua resenha de On Beauty, de Zadie Smith, ele a elogiou muito e então observou que ela não sabia a diferença entre latim e grego". Soar não chama Kermode de "o último homem de letras", embora isso o colocasse em boa companhia. "Ele poderia ter sido, como um jornal disse outro dia, 'nosso último homem de letras'", escreve O'Hagan em sua homenagem a Miller. Em outro lugar, a editora Joanna Biggs lembra do colaborador de longa data John Sturrock pela "severidade de seu julgamento e a ludicidade de seu intelecto": "Às vezes penso em John como o último homem de letras".
A pilha de cartas descobertas na mesa de Sturrock, missivas de pessoas como Iris Murdoch, Italo Calvino e Jorge Luis Borges, é uma evidência convincente. Elas não aparecem nas páginas de An Incomplete History, mas a correspondência que aparece não é nada impressionante. Consultas e respostas sobre potenciais contribuições vêm de Oliver Sacks, de Angela Carter, de Richard Rorty e Martha Gellhorn e Harold Pinter. Irvine Welsh envia um conto, apenas para ser rejeitado por O'Hagan "cerca de dez minutos" antes do lançamento de Trainspotting. Outros escritores rejeitam a LRB: "Parece que desisti da poesia", escreve Philip Larkin, "ou a poesia desistiu de mim, seja qual for a maneira como você queira ver". David Cornwell (também conhecido como John le Carré) alega uma relutância paranoica em entrar "nos campos minados da cena literária de Londres".
Quem quer que o faça, a consideração à maneira da LRB nem sempre é uma bênção. Kurt Vonnegut escreve para elogiar “o santo Michael Mason” pelos elogios de Mason ao seu trabalho. Niall Ferguson tem uma experiência diferente: “Repito, devo um pedido de desculpas”, ele escreve após uma enumeração de páginas de suas objeções a uma resenha de seu último livro. “A London Review of Books é notória por sua política de esquerda”, ele esclarece. “Não espero encontrar afeição calorosa em suas páginas.” Mas quaisquer que sejam suas diferenças políticas, ele pode muito bem concordar com o dramaturgo Alan Bennett, que escreve que “desde sua criação, a LRB tem mantido uma postura consistentemente radical sobre política e assuntos sociais” — uma descrição que leitores de fora do Reino Unido podem ter dificuldade em aceitar a total sobriedade da aparência e do estilo do jornal.
An Incomplete History coloca de forma diferente: “A LRB ainda é geralmente vista como ‘amplamente esquerdista’, e essa caracterização é precisa o suficiente, mas sempre foi cautelosa em ter uma afiliação muito próxima com qualquer partido político e tentou não restringir seus colaboradores àqueles que detêm posições políticas com as quais se poderia esperar que concordasse.” O’Hagan credita essa qualidade a Wilmers, “guardiã da subjetividade do jornal por quarenta anos”, que escreve como se edita: “O produto final é claro como vodca, uma clareza que é ainda mais impressionante porque Mary-Kay frequentemente está em dúvida sobre as coisas”, escreve Lanchester na introdução de Human Relations and Other Difficulties, a primeira e única coleção de ensaios de Wilmers, publicada no ano passado nos Estados Unidos.
Wilmers, a escritora, “é especialista em ver os dois lados de uma questão”, de acordo com Lanchester, e muitas das peças em Human Relations lidam com “o efeito nas mulheres das expectativas dos homens, do olhar dos homens e do poder dos homens”. Uma face da ambivalência de Wilmers mostra um tipo de lealdade à equipe, e a outra uma consciência aguda das fragilidades dessa equipe. Feministas, ela escreve, "têm argumentado persuasivamente o caso contra a aparência, vendo-a em grande parte como uma questão de vaidade dos homens e conluio das mulheres, mas pode ser que elas façam uma injustiça às mulheres ao ignorar a questão da vaidade das mulheres e do conluio dos homens". Mais tarde, ela se concentra nas consequências dessa vaidade: "Moderação, respeitabilidade, convenção: mulheres bonitas parecem ter alguma dificuldade especial em suportá-las, como se a vida devesse ser feita para corresponder ao reflexo no espelho".
Vários ensaios partem do trabalho de escritoras como Jean Rhys e Marianne Moore, motivadas e atormentadas por sua própria falta de beleza percebida. Em outros, Wilmers assume figuras menos respeitadas sem nenhuma dúvida sobre seus próprios poderes de atração. “Não é fácil dizer pelas fotografias por que ela era considerada um partido, mas ela não teria feito essas caretas nelas se não achasse que tinha algo”, escreve Wilmers sobre Barbara Skelton, memorialista e ex-esposa de Cyril Connolly. Ao analisar o diário de viagem Journeys to the Underworld, de Fiona Pitt-Kethley (cuja poesia explícita era uma constante na LRB na década de 1980), Wilmers sente “algo sombrio — assim como ideologicamente encorajador — sobre a busca de prazer sexual de Pitt-Kethley. (Poderia ter sido diferente se ela gostasse de homens, digamos, metade do que gosta de sexo.)”
A própria atitude de Wilmers em relação aos homens aparece em Bad Character, um Festschrift reunido para celebrar seu 70º aniversário — ou melhor, nas páginas de um de seus capítulos, um glossário de termos wilmerianos composto por Jean McNicol, reproduzido em An Incomplete History. Elas incluem “Bolha autista: ocupada por homens e seus computadores” e “Cruz: as pessoas sobem nela, veja ‘homens’”. A entrada para “colaboradoras mulheres” começa com um gesto na outra direção: elas “tendem a ser pouco confiáveis”, mas apenas porque têm “muitos outros compromissos, diferentemente dos homens”. Na metade de um artigo em Human Relations sobre o equilíbrio de poder entre homens e mulheres, Wilmers admite que “por mais forte que eu me sinta sobre as coisas que tenho dito, duvido que alguém — ou seja, qualquer homem — as ache perturbadoras. Na verdade, eu me pergunto se todas as minhas ironias não são simplesmente mais uma maneira de bajular a classe dominante”. No entanto, em seu artigo não há dúvida de quem governa, e não são os homens.
Escritores que conheço que contribuíram para o LRB relatam duas qualidades salientes sobre a experiência: o pagamento decente e a edição rigorosa, especialmente pela própria Wilmers, que claramente manteve e provavelmente elevou os padrões de seu antecessor. Ela também salvou o artigo do provável esquecimento. Concebido durante uma greve no Times, e portanto durante uma ausência do Times Literary Supplement, o LRB foi lançado pela primeira vez como um suplemento dobrado e financiado pelo The New York Review of Books (ele próprio concebido durante uma greve no The New York Times). O arranjo não estava destinado a durar: "Karl tinha um senso de ironia e a possibilidade de fracasso, que os americanos envolvidos nas negociações acharam inútil", lembra Wilmers. Após "um grau de 'preocupação e tensão' sobre o acúmulo de dívidas, a LRB foi expulsa". Tendo acabado de receber uma herança de seu pai, diretor de uma holding multinacional de serviços públicos, ela "encontrou um uso" para o dinheiro.
“Nós nunca esperamos que a London Review desse lucro”, escreve o editor da NYRB, Robert Silvers, em uma carta enviada a Miller pouco antes da separação das publicações em 1980. “Teríamos ficado muito felizes se ela tivesse empatado, ou mesmo mostrado uma perspectiva razoável de fazê-lo.” A NYRB é celebrada por muitas razões, não menos importante sua capacidade de operar no azul. Assim, também se destacou, durante o reinado do famoso Silvers, pela presença óbvia de uma inteligência orientadora, o papel que Wilmers assumiu de Miller na LRB. Apesar de Silvers ter coeditado a NYRB ao lado de Barbara Epstein até sua morte em 2006, as lembranças de Silvers fizeram pouca ou nenhuma distinção entre a publicação e o homem. “Era uma monarquia”, disse o colaborador Ian Buruma ao The New York Times após sua ascensão ao trono de Silvers. Mas Buruma imaginou sob sua editoria "uma operação um pouco mais democrática", uma colaboração com os "jovens editores muito, muito brilhantes que sabem mais sobre certas coisas do que eu".
Buruma foi substituído por dois desses jovens editores brilhantes um ano depois. Ele renunciou em meio a um furor nas redes sociais sobre um artigo na Review do ex-apresentador da CBC Jian Ghomeshi, um dos primeiros homens proeminentes derrubados pela atual onda de alegações de má conduta sexual de alto perfil. Buruma selou seu próprio destino justificando a decisão em uma entrevista com a Slate, a reação furiosa nas redes sociais para a qual o NYRB pós-Silvers parecia institucionalmente despreparado para absorver. Embora tecnicamente precedente, a instalação subsequente de dois editores no primeiro lugar não inspira confiança. Isso não se deve a nenhuma deficiência por parte desses editores, mas à diferença de caráter — a difusão de responsabilidade e, pior, personalidade — entre decisões individuais e de grupo, por menor que seja o grupo.
É impossível imaginar Silvers explicando suas decisões editoriais para pessoas como a Slate, e o mesmo vale para Wilmers. À crítica mordaz online que saudou "The Tower", a investigação de O'Hagan sobre o desastre da Grenfell Tower, a LRB mal reagiu. O problema para aqueles que postaram essa crítica mordaz, O'Hagan escreveu em um acompanhamento, "não é que eu não mostrei compaixão pelas vítimas, mas que também mostrei compaixão pelos acusados", a burocracia de moradias públicas acusada de negligência na manutenção adequada do prédio em que 72 pessoas morreram. "Recebi algumas das respostas mais generosas da minha vida de escritor e, ao mesmo tempo, fui alvo de calúnias terríveis nas redes sociais. Este foi um dos assuntos do meu artigo, e não é uma surpresa vê-lo se manifestar na resposta."
“The Tower” exemplifica várias virtudes do LRB de Wilmers, não apenas a longa contagem de palavras que ele permite, mas também a liberdade de seus colaboradores de seguir suas ideias onde quer que elas levem. “Eu vim com minha agenda, escrevi para todos e informei meus colegas — ‘Vamos pegar os bastardos que fizeram isso’ — e me senti entusiasmado pela indignação geral e pelas pessoas no local que pareciam estar dizendo a coisa certa”, escreve O’Hagan sobre o início de sua investigação da Grenfell Tower. Mas quanto mais fundo ele se aprofundava, mais ele entendia que “muitas pessoas, muitas delas aparecendo na mídia todos os dias, estavam girando uma série de crenças e desejos em uma grande concatenação de ‘fatos’” — incluindo algumas cujo lado uma publicação “amplamente esquerdista” poderia ser esperada para tomar, e cuja “marca tóxica de compaixão barata ameaçou, desde o início, nos distrair de descobrir o que realmente causou essas mortes”.
Evidentemente não instado a salvar a face com a renúncia da LRB, O’Hagan aparece em An Incomplete History para relembrar suas outras controvérsias passadas, como a “chuva passageira de assinaturas canceladas” que se seguiu a cada peça de Edward Said (em linha com um elemento da imagem esquerdista da LRB, uma consistência atípica sobre a questão de Israel e Palestina). Agora, na internet, essas chuvas se tornaram “uma turba internacional de forcados” que não lê a peça em questão, mas as reações de seus detratores, “cuja mensagem é mais do seu gosto”. Mas a LRB foi forjada por pressões mais severas do que isso, incluindo críticas iniciais do que O’Hagan chama de “serras e gralhas literárias e Auberon Waughs, por tentar ser bom e por tomar as posições que tomou”. E fez isso em condições materiais menos que ideais: “Está chovendo aqui, por dentro e por fora”, diz uma nota enviada a um proprietário de escritório pelo editor Nicholas Spice. “A menos que algo seja feito sobre o teto do nosso escritório em breve, ele desabará. Por favor, nos ajude.”
Sobre o LRB maduro, O’Hagan escreve que “ele se opõe à certeza, favorece a ambivalência, derruba o pensamento de grupo e o orgulho dos eleitos e, sempre que possível, acha o mundo mais questionável do que o próprio mundo.” Ele também exibe um desrespeito senhorial pelas preferências de seus próprios leitores — o que, como leitor, acho imensamente atraente. Isso pode ser devido ao enraizamento do jornal em Londres e, portanto, uma sociedade que, embora politicamente democrática (se não uma “democracia social” do tipo que Miller declarou que o LRB defenderia), é livre dos impulsos culturalmente democráticos que restringem o tom da vida nos Estados Unidos. “O ganho em democracia foi alcançado ao custo costumeiro em estilo e idiossincrasia”, escreve Wilmers sobre o estilo dos obituários do Times na década de 1960, embora ela pudesse estar escrevendo sobre qualquer número de publicações culturais em ambos os lados do oceano.
Apenas uma publicação impressa americana me inspirou da forma como a LRB: a Los Angeles Times Book Review sob Steve Wasserman, que a editou de 1996 a 2005 — um período que se sobrepõe aos anos de faculdade durante os quais pareço ter jurado lealdade ao trabalho do ensaio de formato longo. A Book Review me convidou pela primeira vez para um mundo onde um crítico poderia começar discutindo um título específico e terminar, uma ou duas mil palavras depois, em outro lugar completamente diferente. Na melhor das hipóteses, ela evitou os clichês verbais e intelectuais que atingiram as resenhas de livros na página desde a invenção do formato, e que Wilmers diagnostica em um ensaio de 1980 sobre "a linguagem da revisão de romances". Transtornos persistentes incluem uma moda para “tríades de adjetivos (‘exato, picante e cômico’, ‘rico, misterioso e energético’)” e “adjetivos acoplados a advérbios — ‘assustadoramente penetrante’, ‘letalmente conciso’, ‘habilmente econômico’ — em relacionamentos cujo significado não seria materialmente alterado se os dois parceiros trocassem de papéis.”
Mesmo em seu ponto mais fraco, a Resenha de Livros de Wasserman chamou minha atenção para livros, escritores, críticos e até mesmo áreas de assunto inteiras das quais eu não tinha conhecimento anteriormente. Para os detratores de Wasserman, no entanto, isso era parte do problema: “Um jornal local deve refletir os interesses, a cultura e as questões da comunidade que atende”, diz uma reclamação típica no blog do romancista de suspense Lee Goldberg. “A Book Review entorpecentemente entediante é escrita para uma população mítica de esnobes transplantados da Costa Leste que acreditam que os livros na lista de best-sellers do L.A. Times (que é regularmente dominada por mistérios e thrillers) refletem os gostos de leitura de pagãos analfabetos que precisam ser educados.” Um comentarista pergunta, retoricamente, “Por que você acha que a seção Book Review do L.A. Times só recebe um ou dois anúncios e esses são pequenos anúncios de caixa? É para se curvar [sic].”
Wasserman nunca deu crédito a tais críticas. “Eu queria tratar os leitores como adultos, para evitar a conversa de bebê que passa por conversa fiada sobre livros em muitos jornais americanos”, ele escreve em um ensaio publicado na Columbia Journalism Review dois anos após sua saída de Los Angeles.
Eu sabia que essa ambição provavelmente incorreria na hostilidade incessante dos samurais do politicamente correto, seja da direita ou da esquerda, bem como no desdém palpável dos editores de jornais que se convenceram de que a maneira de ganhar leitores e melhorar a circulação era abraçar o falso populismo do mercado.
Com a cultura "indo mais rápido, mais curto, mais burro, eu estava decidido a ir mais devagar, mais longo, mais inteligente, na presunção talvez imprudente de que havia adultos suficientes lá fora na Terra dos Jornais que ansiavam por serem falados como adultos" — o tipo de "comunidade de leitores informados e interessados", como Miller escreveu mais de um quarto de século antes no LRB, "que costumava estar entre as reivindicações deste país à fama e que não pode ter derretido no mar".
Sempre que eu pescava a Book Review do meio do jornal de domingo, eu me perguntava como eu encontraria meu caminho para seu canto da Terra dos Jornais — um domínio que Wasserman descreveu a si mesmo como organizando da mesma maneira que faria com um jantar. Mesmo quando a seção ficou cada vez mais fina, claramente enjoando até a morte, eu certamente imaginei, em algum limite não reconhecido da minha imaginação, editando a coisa eu mesmo um dia: criando temas estimulantemente conceituais e então encomendando peças exigentes dos meus escritores favoritos para se adequarem a eles. Somente depois que o Los Angeles Times efetivamente matou o Book Review com a decisão, como Wasserman vividamente coloca, "de cortar sua seção tabloide de domingo de doze páginas em duas páginas e enxertar o toco restante em sua seção de opinião de domingo reformulada", eu vim a entender a adversidade sob a qual ele havia sido produzido.
"Durante os anos em que editei o Los Angeles Times Book Review, ele perdeu cerca de um milhão de dólares anualmente", escreve Wasserman. (Digby Diehl, o primeiro editor da seção, afirma que sua Book Review rendia um milhão de dólares anualmente.) Pesquisas de mercado mostraram que a Book Review era a "única seção semanal mais lida produzida pelo jornal", mas "entre os grupos demográficos mais abastados e mais lidos do jornal — cujos membros sem dúvida compõem os leitores ideais de qualquer resenha de livro — a Sunday Book Review estava entre as mais favorecidas". Em teoria, esses leitores podem ser anunciados lucrativamente por "empresas de cinema, fabricantes de café, destiladores de uísque premium, entre outros". Mas quaisquer que sejam seus méritos comerciais, esse argumento não poderia ter conquistado aqueles que passaram a década anterior chamando Wasserman de elitista desatualizado.
Com suas livrarias e confeitarias (e suas sacolas, que há pouco tempo gozavam de status de item essencial na Coreia do Sul, onde eu moro), a LRB estabeleceu uma marca de estilo de vida sem sacrificar sua dignidade. O jornal "ocupa uma posição privilegiada", escreve Wilmers em An Incomplete History. “Implacável em suas críticas às políticas de Y e ao livro de X, ele recebe poucas críticas em troca.” Essas críticas raramente acusam o elitismo, mas, então, nenhum de seus editores parece conceber seu trabalho em termos tão missionários quanto Wasserman fez na Book Review, que buscou “responder a uma única pergunta: a crítica séria é possível em uma sociedade de massa?” A LRB de fato teve sucesso com base em ambições não totalmente diferentes daquelas que renderam a Wasserman o desprezo dos autointitulados defensores do leitor comum e dos altos escalões do L.A. Times: exercer o máximo julgamento editorial, encorajar argumentos sustentados e priorizar a escrita acima de tudo.
Priorizar a escrita envolve o refinamento contínuo do próprio texto. "Você sabe que é inteligente porque está impresso todo próximo", diz um personagem em um episódio de 1990 de Coronation Street, iniciando uma disputa verbal com o intelectual do bairro que lia LRB. Antes que o jornal acumulasse capital cultural suficiente para se tornar o assunto de piadas de novela, os leitores reclamaram sobre o quão próximos estão: "Você não poderia fazer uma pequena concessão ao que o olho humano pode e não pode fazer com colunas infinitas de texto?" A solução envolveu não reduzir o comprimento das peças, mas aumentar a beleza da página, fazendo uso de poemas, ilustrações e anúncios cuidadosamente colocados em meio a fontes bem escolhidas. O resultado permanece "essencialmente austero em design", escreve Ben Campbell, filho do designer e ilustrador original do jornal, Peter Campbell, "e as configurações de fonte e estilo são sua característica mais distinta".
Campbell também cita Fred Smeijers, designer da fonte Quadraat, assinatura do LRB, entusiasmado com uma página do jornal sem anúncios e ilustrações como "uma das páginas de texto mais bonitas que você pode obter hoje em dia, e sai a cada duas semanas!" O LRB nunca, em nenhuma dessas quinzenas, saiu atrasado, apesar da atenção aos detalhes que rotineiramente, como Spice lembrou em um painel de discussão no 40º aniversário do jornal, envia frases como "existência viável" — uma redundância dadas as raízes latinas de "viável" — de volta para uma reescrita. Aqueles que não conseguem conciliar a implacabilidade da edição do jornal com o que veem como o comprimento também implacável de seus artigos publicados não consideraram a possibilidade de que o primeiro produza o último: dizer algo novo, significativo e correto (ou para usar o termo de Miller, "preciso") é impossível no comprimento de uma resenha de livro normal.
Mas os artigos encomendados por Miller e Wilmers nunca foram resenhas de livros normais; a London Review of Books não é mais estritamente uma resenha de livros do que um periódico de Londres. Até mesmo a palavra “piece”, escreve Lanchester, é “linguagem LRB: as coisas que ela publica são sempre conhecidas não como resenhas, ensaios ou artigos, mas peças”. O termo mais descritivo “resenha-ensaio” indica uma forma que exige que os colaboradores avaliem o livro em análise, mas usem a maior parte da contagem de palavras para ir além, buscando temas e fazendo perguntas que vão além do escopo original do autor. Wasserman também sempre pareceu estar tentando cultivar a resenha-ensaio em sua Book Review, mas os leitores que queriam que ele fosse enviado de volta a Nova York criticaram os resultados como instâncias de “intervenção autoral” autoindulgente: Conte-nos sobre o livro logo.
Poucos colaboradores da LRB fizeram tanto com a resenha-ensaio quanto Jenny Diski, que morreu em 2016 após quase um quarto de século escrevendo para o jornal. “Ela escreveu muito sobre si mesma — quase nunca não o fez de uma forma ou de outra”, lembra Wilmers. Mas “ela não sequestrou o assunto ou se intrometeu no meio dele. Ao mesmo tempo, não importava o que ela estivesse escrevendo — canibalismo (‘até agora tão goggable’) ou Martha Freud (‘governanta de uma teoria que destrói o mundo’) — os relatos que ela deu eram aqueles que só ela poderia ter dado.” O trabalho de Diski pode se destacar, mas todas as peças mais fortes da LRB são peças que apenas seus escritores específicos poderiam ter escrito. Isso por si só pode explicar sua extensão: dentro dos limites de algumas centenas de palavras, até mesmo os críticos mais astutos seguem linhas familiares; somente em alguns milhares eles podem encontrar seu próprio caminho — ou perdê-lo — em um território mais promissor.
Como escritora, Diski definiu a LRB assim como Kermode e Sturrock fizeram na geração anterior, ou Lanchester e O’Hagan fizeram na geração seguinte. Mas o “cenário da mídia” do século XXI sendo o que é, a LRB está cada vez mais se distinguindo por ter um estábulo leal de colaboradores. Hoje, não poucas publicações, mesmo aquelas que primeiro fizeram seus nomes sob modelos mais tradicionais, parecem ter desistido do investimento em relacionamentos de longo prazo com escritores individuais em favor de arrastar uma rede através do mar de jornalistas sem dinheiro, acadêmicos estagnados e outros freelancers que provavelmente não exigirão muito em termos de remuneração (se forem passíveis de desaparecer na primeira abertura de um local com bolsos mais fundos). Que essas publicações estão recebendo o que pagam se tornou difícil de ignorar.
Para a minha geração, a “geração millennial”, agora na faixa dos 30 anos, a esperança de uma vaga em uma instituição cultural querida deu lugar a uma mistura enervante de pânico e resignação sobre ser pago. No ano passado, Jacob Silverman expressou suas aflições em um ensaio sobre se formar na Grande Recessão sem “nenhuma habilidade empreendedora, um medo avassalador de que a economia se degradaria em uma forma mais aberta de barbárie e uma adoração desesperada por todas as coisas intelectuais”, junto com as decepções “mesquinhas, frequentes e quase entorpecentemente comuns” da rotina freelance que ele suportou desde então. Como um autodescrito “jornalista fracassado e millennial em decadência”, Silverman olha para trás e vê “uma busca tola por uma vida intelectualmente engajada. À medida que meus amigos se tornavam consultores, designers e especialistas em marketing, pensei que seria um crítico de livros. Parece ridículo, como anunciar que venderia máquinas de escrever.”
O custo mínimo de produção e o potencial não nulo de viralidade permitiram que tais reflexões pessoais sem necessidade de pesquisa florescessem, relativamente falando, na web em meados da década de 2010. Silverman não foi o primeiro cri de coeur de um jovem de vinte ou trinta e poucos anos que descobre que o lugar para o qual passou a vida se preparando desapareceu de alguma forma. Seu título ecoando George Orwell, "Down and Out in the Gig Economy", também o situa em uma tradição que remonta pelo menos ao próprio ensaio de Orwell, "Confessions of a Book Reviewer". Mesmo em 1946, o quase profissional titular faz uma figura lamentável: "Ele é um homem de trinta e cinco anos, mas parece ter cinquenta", vestindo um "vestido comido por traças" e incapaz de encontrar espaço para sua máquina de escrever entre pilhas de papéis que podem conter "um cheque de duas guinéus que ele tem quase certeza de que esqueceu de pagar no banco".
Silverman recebeu US$ 1.000 por “Down and Out in the Gig Economy”, um cheque pelo qual muitos se submeteriam a uma abjeção muito mais permanente. Veio da The New Republic, cuja “contracapa” — páginas de ensaios literários longos supervisionados pelo editor Leon Wieseltier — inspirou outros, assim como a Los Angeles Times Book Review de Wasserman me inspirou. Antes de ser varrido da vida pública pela mesma onda que atingiu Jian Ghomeshi, Wieseltier já havia deixado a TNR por conta própria, após o anúncio da revista sobre a intenção de se transformar em uma “empresa de mídia digital verticalmente integrada”. Foi um episódio importante no reinado tragicômico de Chris Hughes, o cofundador do Facebook que comprou a respeitada, mas quase falida revista em 2012. Imagino Silverman assistindo com o mesmo espanto horrorizado que eu enquanto a New Republic de Hughes prosseguia em pedaços.
Os presentes na época disseram que Hughes parecia promissor no início, com sua origem humilde na Carolina do Norte, suas aspirações culturais bem documentadas (o estudo no exterior na França, a casa cheia de pilhas de livros e revistas cuidadosamente selecionadas), sua preocupação em usar sua riqueza para o bem e sua apreciação quase melodramática do legado da TNR. Ele era um millennial de alto perfil, mas sem a agressividade de postura ou o semblante alienígena dos heróis tecnológicos conquistadores da geração. Ao que tudo indica, ele se lançou em seu trabalho com um nível de envolvimento de nível Silvers, bem como uma prontidão para investir o tipo de dinheiro que a LRB recebeu de Wilmers. Mas logo ele foi superado pela relutância da revista centenária e não lucrativa em se transformar em uma história de crescimento do Vale do Silício, e em quatro anos ela estava de volta ao mercado.
Como um prenúncio do desempenho desta geração como administradores do jornalismo literário, Chris Hughes é um mau presságio. Mas os editores podem levar mais tempo para surgir do que os escritores, e até mesmo as páginas da LRB só recentemente viram contribuições sérias da geração Y. Além de um longo artigo sobre a epidemia de AIDS, o jovem editor Tom Crewe também foi um escritor produtivo de artigos curtos e, ao contrário de contemporâneos em outras publicações tradicionais que tentam se adaptar à internet, ele não foi relegado ao ritmo escasso das tendências e atitudes de sua própria geração. A um pouco mais velha Patricia Lockwood, a do robô sexual com defeito, causou vários grandes impactos, incluindo uma palestra sobre a experiência perturbadora da vida online, cuja publicação é memorializada em An Incomplete History como a época em que "a LRB chegou mais perto do que nunca de quebrar a internet".
Mas a LRB continua sendo a LRB por causa de suas conexões com suas origens pré-internet, especialmente a conexão viva que é Wilmers, de 81 anos. Cada edição credita a ela o envolvimento editorial, e as mais recentes não evidenciam nenhum afrouxamento em seus padrões. Suspeito que novos colaboradores devem se preparar não apenas contra suas edições, mas também contra um armamento de conversação mais assustador do que o florete de Edimburgo de Miller. Em Human Relations, ela cita Jean Rhys, nascida em Dominica, escrevendo que "a maioria dos ingleses mantinha facas sob a língua para me esfaquear", e um gracejo inglês cortante da própria Wilmers certamente destruiria um millennial americano já inseguro. "Sinto falta da sagacidade", disse Martin Amis, agora baseado no Brooklyn (um colaborador ocasional e objeto de sagacidade na LRB), sobre sua Inglaterra natal. Nos Estados Unidos, "ninguém ousará dizer nada por medo de ofender outra pessoa. É por isso que os americanos não são tão espirituosos quanto os britânicos, porque o humor é sobre ofender um pouco. É uma afirmação de superioridade intelectual.”
A LRB tem senso de humor, o que a diferencia não apenas da maioria das publicações literárias em inglês, mas da maioria das publicações de qualquer tipo. “Observe os sem humor de perto: a maneira furtiva e engatilhada com que monitoram todas as conversas, seus lampejos de pânico quando a ironia ou o exagero os iludem, o alívio com que se submetem ao balbucio sem sentido de risadas unânimes”, Amis escreveu em outro lugar. Os sem humor, em sua opinião, são “mentalmente ‘desafiados’, como dizem os americanos (o próprio eufemismo é uma negação do humor).” Isso descreve mais ou menos a atitude de muitos outros jornais, revistas e sites que leio regularmente. Eles se apresentam como se possuíssem senso de humor quando têm algo totalmente diferente — uma propensão ao sarcasmo moralista, uma consciência elevada de memes, colaboradores expressamente contratados para produzir sátira sem graça — e a ausência dificilmente passa despercebida.
Hoje em dia, seria preciso um periódico literário ousado para publicar uma resenha de uma jovem romancista promissora que implique algo errado em sua mistura de latim e grego, duplamente no caso de uma romancista de origem étnica não convencional abordada por um crítico branco na casa dos 80 anos. Pela preponderância geral de homens brancos em suas páginas, a LRB tem sido repetidamente criticada por organizações dedicadas a tabular tais coisas. De acordo com a pesquisa VIDA de 2018, as edições da LRB naquele ano continham 258 peças de mulheres e 504 de homens. No verão passado, um estudo focado em poesia pelo Centro de Escrita Nova e Internacional da Universidade de Liverpool descobriu que, entre 2011 e 2019, a LRB "publicou 70 artigos de 33 críticos diferentes. Todos os 33 eram brancos. Esses 70 artigos revisavam 86 livros diferentes. Todos os 86 eram de poetas brancos".
Para alguns, não será óbvio o que fazer com esses números, mas para outros eles constituem uma acusação autoevidentemente condenatória. O argumento mais plausível de que a LRB deve mudar seus caminhos, na minha opinião, sustenta que a composição de um artigo literário deve refletir a composição da sociedade ao seu redor, embora esse argumento tenha como premissa a ousada suposição de que a inclinação para escrever ensaios de revisão longos é distribuída de forma tão previsível entre as populações quanto dedos das mãos e dos pés. As explicações da LRB geralmente deixam os críticos do artigo mais irritados. Até mesmo um membro da plateia no painel comemorativo do 40º aniversário perguntou como a LRB corrigirá seu desequilíbrio de gênero. "Nem todas as mulheres que são escritoras, na verdade, se pensarem nisso, querem escrever para a London Review of Books", responde Wilmers. "Quando você diz isso, parece tão arrogante, mas você simplesmente fica sem maneiras de lidar com isso."
Wilmers pede que os críticos olhem para "o impacto e a influência no artigo" creditáveis às mulheres. “Eu sou uma mulher. Jean McNicol é uma mulher. Há duas editoras assistentes que são mulheres. Então por que não contamos?” Ela credita a sensibilidade da LRB a escritoras como Anne Enright, Hilary Mantel e Marina Warner. “Quero dizer, os homens contribuem principalmente com opinião” — com isso, uma onda de risos atravessa a sala — mas “o tom vem muito mais de Terry Castle ou Jenny Diski.” Esse argumento pode não persuadir aqueles que estão montando as acusações, que sem dúvida ficariam ainda menos convencidos pelo fato mais gritante de que uma publicação dedicada à boa escrita não pode, por definição, se dedicar a mais nada. Como em qualquer empreendimento, mirar em uma segunda marca compromete sua capacidade de atingir a primeira.
“É a escrita que publica que é o coração da London Review”, declara O’Hagan, uma prioridade que pode parecer a alguns de nós hoje como míope, excessiva, até mesmo anacrônica. A essa última acusação, alguns editores e escritores do jornal certamente se declarariam culpados. As raízes intelectuais da LRB são profundas: em uma carta de 1981 a Miller, o chefe do departamento de literatura da Open University, Graham Martin, elogia o jornal por sua “impressionante gama de assuntos e seu padrão exigente”, chamando-o de “outro fruto fino do Iluminismo escocês”. Predecessores claros do ensaio de revisão literária crítica no estilo LRB tomam forma nas páginas da Edinburgh Review, um periódico influente do século XIX e início do século XX, e seu rival ainda mais duradouro, o Blackwood’s. Em An Incomplete History, Lanchester cita Miller soando não muito diferente de um de seus compatriotas daquele período: “Minha ambição é ter o jornal com o mínimo de absurdo em qualquer lugar do mundo.”
Se uma publicação se beneficia de líderes fora do tempo, firmes contra os ventos da tendência e da moda, ela também se beneficia de líderes fora do lugar. Miller, de quem O’Hagan se lembra como “uma Escócia da mente”, nunca se assimilou a Londres, e Wilmers, apesar de toda a inglesidade que ela exala, é tecnicamente americana. Nascida em Chicago, filha de mãe russa e pai alemão, ela passou a maior parte da infância nos Estados Unidos, saindo apenas quando sua família se mudou para Bruxelas. “Você poderia dizer que um lugar que venera uma estátua indistinta de um garotinho urinando merece ser desprezado”, ela escreve sobre aquela cidade em Human Relations, e entrar em um internato inglês aos 14 anos a libertou daquela “distopia de um tipo brando e não ameaçador”. Ela estudou francês e russo em Oxford com o objetivo de se tornar uma intérprete nas Nações Unidas, mas começou sua vida profissional como secretária na Faber & Faber (editora, quase 60 anos depois, de An Incomplete History) sob T. S. Eliot, outro dos notáveis não exatamente americanos da literatura.
Robert Silvers, nascido em Long Island, é lembrado primeiro por sua perspicácia editorial e, segundo, por suas qualidades pessoais não tipicamente americanas: sua cortesia, seu senso de vestimenta (compartilhado com Steve Wasserman, que em Los Angeles recebeu uma leve desaprovação por isso), seu sotaque do meio do Atlântico, sua tendência a aparecer não apenas em Londres, mas no continente. Enviado para a França pelo Exército dos EUA, ele estudou na Sorbonne e na Sciences Po, editando mais tarde a Paris Review; muito mais tarde, foi nomeado chevalier da Légion d'honneur et de l'ordre national du mérite, confirmando sua base em uma ideia de civilização orientada para a Europa. A França pareceria conectá-lo a Chris Hughes, mas Hughes parece não ter o estilo perfeccionista, mas semi-distante, de Silvers, trabalhando em vez disso sob um excesso de seriedade americana que o teria destruído mais cedo ou mais tarde.
O autointitulado "anglo-americano" Christopher Hitchens foi vítima de um tipo diferente de seriedade americana, ou assim afirma An Incomplete History. Por quase duas décadas, ele escreveu com vigor característico na LRB contra figuras como Henry Kissinger, J. Edgar Hoover, Conrad Black e os Clintons, mas "em ou por volta de 2002, as coisas mudaram". Parece que, "na guerra de Bush contra o terror, na invasão do Afeganistão, na guerra no Iraque: a política do jornal e a política de Hitch divergiram". Mesmo assim, ele continuou a receber elogios perspicazes e mistos da LRB. “Hitchens é um dos melhores exemplos contemporâneos de uma espécie que tendemos a pensar como florescente no século XIX em vez do XXI, o jornalista político como homem de letras”, escreveu Stefan Collini em 2003. “Ele teria se sentido totalmente em casa com o estilo de corte e queima dos primeiros trimestrais partidários, como o Edinburgh ou o Westminster.”
A resenha de Collini do livro de Hitchens sobre George Orwell (“‘No Bullshit’ Bullshit”) traz os dois defensores e mestres do ensaio de resenha para o mesmo quadro. Em “Confessions of a Book Reviewer”, Orwell aconselha os editores “simplesmente a ignorar a grande maioria dos livros e a dar resenhas muito longas — 1.000 palavras é o mínimo — para as poucas que parecem importar”, articulando uma visão que Miller pode ter tido em mente ao elaborar a declaração de intenções do LRB: “A resenha usual de tamanho médio de cerca de 600 palavras está fadada a ser inútil.” An Incomplete History inclui um fax de 1996 de Hitchens para Wilmers (endereçado como "Querido") no qual Hitchens precede um pedido de desculpas por publicar em um jornal de propriedade de Rupert Murdoch com uma explicação de quanto tempo ele levou, escrevendo seu último artigo para a LRB, para encontrar um equilíbrio "entre um artigo para a época e um artigo para 'todos os tempos'".
Escrever para o tempo e para todos os tempos, uma especialidade da LRB há muito tempo, deve prosperar no eterno presente da internet. O acesso ao arquivo do jornal, totalmente digitalizado em 2009, é de fato um retorno mais atraente sobre o preço da assinatura do que até mesmo todas aquelas belas colunas do Quadraat. Essa condição de "imediatismo e permanência" simultâneos, como Lanchester disse uma vez, desviou a ênfase do "jornal" para a "peça", cada uma das quais agora efetivamente sai isolada para o mundo inteiro. No painel do 40º aniversário, O'Hagan lamentou isso: os fundadores da LRB, em sua opinião, "pensavam em si mesmos como jornalistas literários e pensavam na relação entre as peças na revista", a maneira como elas "se relacionam, sugerem umas às outras, talvez se esfreguem umas nas outras", tudo evitado pelos hábitos de leitura na internet. Mas então Wilmers, um desses fundadores, acrescenta nuance ao trazer à tona a "tradição de dizer que ninguém notou".
Seja qual for a terminologia interna, o todo perdeu terreno para a parte na maioria das publicações impressas. Todos sofreram com a grande "desagregação" de conteúdo do século XXI, perdendo nas últimas duas décadas o tempo para investir na curadoria e na embalagem de seleções de peças e o dinheiro para investir em uma escrita decente de formato longo. Novos modelos de negócios viáveis, informam-nos artigos de opinião preocupantes, não surgiram; publicações que pretendem publicar nada além de escrita séria podem simplesmente exigir o apoio de benfeitores ricos. (Até o Los Angeles Times, embora livre do fardo de um milhão de dólares por ano da Book Review, sobrevive hoje graças a Patrick Soon-Shiong, o cirurgião multimilionário que comprou o jornal em 2018.) O ideal é que esses benfeitores tenham ouvido para prosa e a visão editorial consistente de uma Mary-Kay Wilmers, em vez da ambição informe e instável de um Chris Hughes.
Essa inteligência orientadora também deve ser uma formadora de opinião, uma palavra fora de moda em uma era com uma visão de baixo para cima da cultura, fluxos personalizados de entretenimento e uma suspeita de cânones estabelecidos. Mas a LRB dá um exemplo tão fora de moda quanto salutar. "A London Review of Books é algo novo", anunciou Miller em sua primeira edição, e comparada às publicações que se curvaram mais arduamente às atitudes do momento, ainda parece assim. O que O'Hagan chama de seu "espírito de invenção, adstringência e liberdade crítica", juntamente com sua crença na primazia da escrita — não a regra em uma era mais preocupada com rapidez, identidade, relacionabilidade e viralidade — a tornaram uma instituição rara. Enquanto outras publicações não estiverem dispostas ou não puderem aprender com seu exemplo, ela permanecerá uma instituição rara.
Colin Marshall é autor do Los Angeles Review of Books Korea Blog e está atualmente trabalhando no livro The Stateless City: A Walk Through 21st-Century Los Angeles.




Nenhum comentário:
Postar um comentário