O desenvolvimento da China é talvez o fenômeno mais importante do mundo atualmente. O crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) do país nos últimos 35 anos foi de 9,5% ao ano, enquanto a renda per capita no período passou de US$ 250 em 1980 para US$ 9.040 em 2014 (Jabbour e Paula 2018, 14). Diante disso, o crescimento da China — e a própria natureza de seu sistema — tem sido objeto de diversos graus de controvérsia.
Entre outros elementos, a polêmica não é sobre o “modelo” em si, mas o fato de que esse processo se dá negando o deus ex machina que condiciona o dinamismo econômico à existência de instituições que garantam a primazia da propriedade privada. Pelo contrário, uma de suas especificidades é — por exemplo — a existência de um Estado que assume o papel de “tanto o de credor de última instância quanto o de investidor de primeira instância” (Burlamaki 2015, 737).
O objetivo deste artigo é desenvolver o seguinte argumento:
A citação acima demonstra a interessante e recente tendência ascendente do papel do Estado sobre a estrutura de propriedade chinesa. Na esteira dessa observação, trabalhos recentes demonstraram a diferença significativa entre a estrutura de propriedade na China em comparação com outras partes do mundo (grandes conglomerados estatais, sociedades de capital misto, propriedade acionária). Esse processo é evidenciado pela expansão contínua, desde a segunda metade da década de 1990, do controle governamental sobre os fluxos de renda nacional (Jabbour e Dantas 2018). Essa tendência também é observada na queda da taxa de investimento do setor privado (de 34,8% do total de investimentos em 2011 para 2,8% em junho de 2016). Os lucros das empresas estatais cresceram de 15,2% (patrimônio líquido líquido) em 2016 para 23,5% em 2017 (Centro de Pesquisa Macroeconômica da Universidade de Xiamen 2018).
Tendo isso em mente, nosso trabalho busca demonstrar que o fenômeno recente marcado por uma maior liderança estatal, especialmente após 2009, nos permite diagnosticar que a “dinâmica chinesa” é algo que se distancia tanto de uma espécie de “modelo liberal” quanto de um “capitalismo de Estado”, em sentido estrito. Em nossa visão, uma Nova Formação Socioeconômica (NSEF) está emergindo na China, que chamamos de “socialismo de mercado”. Em outras palavras, o “socialismo de mercado” deixou de ser uma abstração para se tornar algo real, concreto.
Em uma nota relacionada, corroborando a observação sobre a ascensão do protagonismo estatal pós-2009 está o pacote de investimentos de US$ 589 bilhões, mediado pelo sistema financeiro estatal e executado – essencialmente – por empresas estatais. Esse alcance do poder estatal chinês também se evidencia, por exemplo, na implementação da “Nova Rota da Seda”: basicamente financiada e executada por bancos e empresas estatais chinesas.
Em vista do exposto, o caráter original do presente trabalho reside na constatação de que esse FNE que está surgindo na China possui natureza complexa, ou seja, envolve a coexistência (e combinação) de distintos modos de produção. O grande desafio intelectual que propomos neste artigo é compreender a natureza dessa coexistência e coabitação de diferentes modos de produção em uma mesma formação social e como essa dinâmica confere características singulares a um processo cuja essência ainda demanda pesquisa e compreensão. Buscaremos também avançar em algumas lógicas de funcionamento como forma de dar maior consistência ao argumento central. De fato, a própria essência do argumento sugere a demonstração das lógicas de funcionamento que dão a esse FNE contornos próprios. A intenção deste artigo é, portanto, dar um importante passo adiante na já mencionada busca e compreensão da essência do fenômeno chinês, utilizando uma abordagem teórico-metodológica não convencional, abordagem essa que não se encontra nem mesmo entre os marxistas em geral.
Além desta introdução, o artigo está dividido em cinco seções. Na seção 2, a categoria Formação Socioeconômica (FSE) será exposta como um elemento indispensável de validação teórica. O uso dessa categoria não apenas serve para ir além da superfície da natureza do processo em curso na China, mas também auxilia a diferenciar nosso trabalho das escolas dominantes nos debates em torno das características do fenômeno em questão. Na seção 3, apresentaremos nossa interpretação particular do socialismo, ao mesmo tempo em que apresentaremos argumentos alternativos que sugerem uma correção à tese central deste artigo. Na seção 4, demonstraremos as cinco lógicas gerais tanto do desenvolvimento histórico quanto do próprio funcionamento da economia chinesa. Na seção 5, buscaremos rebater alguns argumentos comuns que envolvem, desde a construção do socialismo, até mesmo sua concepção em face dos fundadores clássicos do materialismo histórico. Ao final, apresentaremos algumas conclusões.
2. Socialismo de Mercado: Episteme e Critérios de Validação Teórica
O ponto central da nossa discussão não é responder se a China é, de acordo com sua constituição e seus líderes, um Estado socialista ou se é — no mais generoso juízo de valor — uma variante asiática do capitalismo de Estado. Nesse sentido, infelizmente, a opinião predominante sobre o que está ocorrendo na China é uma "restauração capitalista" na forma de "capitalismo de Estado". Não é surpreendente que um autor da estatura de David Harvey, que coloca Deng Xiaoping no mesmo pedestal neoliberal de Reagan e Thatcher, ainda observe que "a ascensão espetacular da China como potência econômica global após 1980 foi, em parte, uma consequência não intencional da virada neoliberal no mundo capitalista avançado" (Harvey 2005, 121).
Esta é uma observação típica de um esquema pronto, modelo e fotográfico da realidade que se alinha estreitamente com o relativismo pós-moderno, em detrimento da objetividade histórica característica das análises baseadas no materialismo histórico (Jabbour 2012, 78). De fato, no debate de ideias, encontramo-nos em um campo diferente dos postulados dominantes das ciências sociais — incluindo o positivismo clássico, que se expressa na forma de “uma certa moda intelectual pós-moderna — que concebe a teoria social como mera narrativa com um propósito moral” (Fernandes 2000, 17). Portanto, “[...] a teoria e a prática do relativismo são colocadas no cerne do processo de construção da subjetividade humana, como a bússola norteadora da teoria do conhecimento” (Jabbour 2012, 81).
De nossa parte, acreditamos que a objetividade e, consequentemente, a visão do processo histórico continuam sendo os critérios essenciais de validação teórica.
Seguindo adiante, dentro do quadro epistemológico exposto acima, se aceitarmos que a China, e seu “socialismo de mercado”, é uma formação social complexa, para Harvey, por exemplo, ela serve à relação feita por Marx entre o desenvolvimento das formações geológicas e o processo de desenvolvimento da sociedade, como sugere uma carta enviada a Vera Zasulich:
A formação arcaica ou primária do nosso próprio globo contém uma série de camadas de várias eras, uma sobreposta à outra. Da mesma forma, a formação arcaica da sociedade exibe uma série de tipos diferentes [que juntos formam uma série ascendente], que marcam uma progressão de épocas. A comuna rural russa pertence ao tipo mais recente dessa cadeia. O produtor agrícola já possui, em caráter privado, a casa em que vive, juntamente com o jardim que a complementa. Este é o primeiro elemento desconhecido dos tipos mais antigos que dissolve a forma arcaica [e que pode servir como uma transição da forma arcaica para]. (Marx [1881] 2017, 17)
Uma tipologia diagnóstica requer sólidos fundamentos teóricos e conceituais. Assim, nosso principal elemento de validação teórica reside em um conceito mal compreendido, o que, consequentemente, resulta em problemas relacionados às próprias questões de validação teórica. Referimo-nos ao conceito de FSE. O termo FSE foi usado pela primeira vez nos escritos de Marx, no Prefácio de "Uma Contribuição à Crítica da Economia Política".
Em linhas gerais, os modos de produção asiático, antigo, feudal e burguês moderno podem ser designados como épocas progressivas na formação econômica da sociedade. As relações de produção burguesas são a última forma antagônica do processo social de produção — antagônicas não no sentido de antagonismos individuais, mas decorrente das condições sociais de vida dos indivíduos; ao mesmo tempo, as forças produtivas que se desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam as condições materiais para a solução desse antagonismo. Essa formação social encerra, portanto, a pré-história da sociedade. (Marx [1859] 2008, 48)
Segundo Sereni, é em Lênin que ocorre uma verdadeira “restauração” do significado da categoria FSE, como podemos ver:
Trata-se, em síntese, por parte dos maiores expoentes do “Marxismo da Internacional I”, da total incompreensão (se não, da rejeição sistemática) de uma das categorias fundamentais da concepção materialista marxista da história; e quando se considera o fato de que observações semelhantes poderiam ser feitas para a maioria dos outros expoentes do mesmo “Marxismo da Internacional I” — com as duas únicas exceções significativas, se não nos enganamos, sendo Antonio Labriola e Franz Mehring —, a importância central que Lênin atribui, desde suas primeiras obras, a essa noção de formação socioeconômica se manifestará melhor, supondo-se que haja valor em uma verdadeira restauração, não apenas neste campo, mas na teoria e na prática do marxismo revolucionário, sem mencionar seu aprofundamento. (Sereni [1971] 2013, 314)
Segundo Silva (2012, 1), o conceito de ESF tem em Emilio Sereni
“sua compreensão mais completa e rica”, citando a seguinte passagem de Sereni: [...] a noção [...] situa-se inequivocamente no plano da história, que é [...] a totalidade e a unidade de todas as esferas (estruturais, supraestruturais e outras) da vida social na continuidade e, ao mesmo tempo, na descontinuidade de seu desenvolvimento histórico. (Sereni [1971] 2013, 316)
Althusser e Balibar discutem essa categoria em dois níveis. O primeiro, que segue, aproxima-se mais de um esboço para a construção de uma “teoria do tempo histórico”. Segundo eles: Teoria do tempo histórico que permite estabelecer a possibilidade de uma história dos diferentes níveis considerados em sua autonomia “relativa”. [...] a forma de existência histórica peculiar a uma formação social decorrente de um modo de produção determinado. (Althusser e Balibar 1970, 104)
Eles também chegam a uma definição mais clara e coerente do conceito de FSE (Althusser e Balibar 1970, 209), sendo a “totalidade de instâncias articuladas com base em um modo de produção determinado”.
Agora, para relacionar as observações de Marx, Althusser, Balibar e Sereni ao uso da categoria FSE como instrumento de validação teórica, as palavras de Roberts são relevantes, sobre as quais, em um artigo recente, podemos ler o seguinte: Isso nos leva à questão de saber se a China é um Estado capitalista ou não? Acredito que a maioria dos economistas políticos marxistas concorda com a teoria econômica dominante ao assumir ou aceitar que a China o seja. No entanto, eu não sou um deles. A China não é capitalista. A produção de mercadorias com fins lucrativos, baseada em relações espontâneas de mercado, governa o capitalismo. A taxa de lucro determina seus ciclos de investimento e gera crises econômicas periódicas. Isso não se aplica à China. Na China, a propriedade pública dos meios de produção e o planejamento estatal permanecem dominantes, e a base de poder do Partido Comunista está enraizada na propriedade pública. (Roberts 2017)
A base do raciocínio que leva a maioria dos marxistas a se alinhar aos economistas impetuosos de nossa época (os neoclássicos), que assumem posições baseadas em modelos estáticos e para os quais a China é um país capitalista, reside nesse tratamento estático: um desejo de classificar e demarcar fenômenos dentro de estruturas e categorias previamente aceitas. Hobsbawn é mais perspicaz ao afirmar:
[...] o desejo de classificar cada sociedade ou período firmemente em uma ou outra das categorias aceitas produziu disputas de demarcação, como é natural quando insistimos em encaixar conceitos dinâmicos em conceitos estáticos. Assim, tem havido muita discussão na China sobre a data da transição da escravidão para o feudalismo [...]. No Ocidente, uma dificuldade semelhante levou a discussões sobre o caráter dos séculos XIV a XVIII. (Hobsbawn 1985, 63)
Este é exatamente o ponto: os níveis estático e dinâmico da análise estão sendo misturados, e o resultado é uma interpretação enganosa da história. Na realidade dos modos de produção, devemos seguir o caminho sugerido por Ignacio Rangel para perceber que o grau de complexidade de uma sociedade — onde sua famosa expressão “contemporaneidade do não contemporâneo” (Rangel [1957] 2005, 498) é regra geral — exige que nos empenhemos na difícil busca apenas pelo essencial, pelo necessário.
Como Lênin fez em sua época, é necessário ir além do conceito de modo de produção. Nas palavras de Sereni:
O que foi que a maioria dos “marxistas da Internacional II” [...] falsificou e que Lênin restaurou, aprofundou e desenvolveu na noção marxiana de formação socioeconômica? O material mais confiável para responder a essa pergunta nos é oferecido pelo próprio Lênin, que desde suas primeiras obras — em seu ensaio Quem são os amigos do povo?, escrito e publicado em 1894 — começa a colocar não apenas a noção, mas também o termo formação socioeconômica em primeiro plano. o cerne de uma categoria fundamental do materialismo histórico, assim como Marx havia feito. Enfatizou-se [...] que esta categoria expressa a unidade (e, acrescentaremos, a totalidade) das diferentes esferas econômicas, sociais, políticas e culturais da vida de uma sociedade, e a expressa, além disso, na continuidade e, ao mesmo tempo, na descontinuidade de seu desenvolvimento histórico. (Sereni [1971] 2013, 314)
Classificamos a República Popular da China como uma sociedade liderada por uma força política determinada a fazer a transição para o socialismo, o que não significa — de forma alguma — reconhecer a ordem econômica atual como socialista. Samir Amin nos lembra muito bem: Mao descreveu a natureza da revolução realizada na China por seu Partido Comunista como uma revolução anti-imperialista/anti-feudal voltada para o socialismo. Mao nunca presumiu que, depois de lidar com o imperialismo e o feudalismo, o povo chinês tivesse “construído” uma sociedade socialista. Ele sempre caracterizou essa construção como a Primeira fase do longo caminho para o socialismo. (Amin 2013, 35)
Um exemplo interessante de análise totalizante pode ser visto na passagem a seguir, onde Mamigonian reconhece no "Marxismo de Mao Tsé-tung" o nível de consequências que pode proporcionar um bom uso das categorias do materialismo histórico para uma formação social complexa. Em suas palavras:
Ao contrário do marxismo soviético, herdeiro do marxismo ocidental, brilhantemente adaptado por Lenin às condições da sociedade russa e à nascente fase imperialista mundial, o marxismo de Mao, adotando o leninismo, caracterizou-se por uma preocupação obsessiva e profunda com os destinos da China, que precisava se libertar de qualquer dominação estrangeira, incluindo a Internacional Comunista, para recuperar sua antiga grandeza, o que significava restaurar o papel crucial dos camponeses na vida chinesa, como Li Dazhao ensinou a seus discípulos. (Mamigonian 2008, 53)
O raciocínio desenvolvido acima é complementado da seguinte forma:
A preocupação com o destino da China permitiu: (1) a retirada da China Continental do comando da Revolução Chinesa (1935); (2) uma aliança com o Kuomintang para combater a invasão japonesa (1937-45), tornando o PCC o principal depositário dos interesses nacionais; (3) a ofensiva militar na guerra civil de 1946-49 contra o Kuomintang, apoiada pelos EUA; (4) a participação decisiva na Guerra da Coreia (1950-53), [...]; (5) a ruptura das relações da China com os soviéticos (1960); e (6) a aproximação com os EUA (1972), que garantiu a reinserção da China na economia mundial, gerida sob a liderança de Deng Xiaoping na década de 1980. (Mamigonian 2008, 70)
3. Socialismo de Mercado
Samir Amin e Armen Mamigonian nos ajudam a esclarecer que o sinônimo que sustenta a percepção do socialismo de mercado como uma formação social complexa é assumir, segundo a proposta de Ignacio Rangel, que estamos tratando a unidade de análise como uma formação social complexa. Isso significa que o socialismo de mercado é uma formação que associa — por meio da coexistência e da coabitação — os modos de produção de diferentes períodos históricos em uma unidade dialética de opostos. Não se trata de uma sociedade estruturada no mais alto nível possível de desenvolvimento humano, ou seja, o socialismo em sua plenitude. Do processo descrito por Amin e Mamigonian até hoje, a China passou por todo um processo histórico que, com as reformas econômicas iniciadas em 1978, é um processo típico que combina continuidade e ruptura.”5
Surge a pergunta: qual modo de produção é dominante? A resposta exige a interposição de outras perguntas: qual classe e/ou força política tem controle sobre fatores objetivamente estratégicos, sejam eles políticos (a força política que representa a classe social que exerce o controle do poder estatal) ou econômicos (o modo de produção que detém o poder real tanto sobre as ferramentas fundamentais do processo de acumulação — juros, taxa de câmbio e sistema financeiro estatal — quanto na promoção da realocação e concentração do próprio setor produtivo em indústrias-chave e na viabilização do crescimento e desenvolvimento a partir da geração de efeitos em cadeia industrial para outros modos de produção)? Para responder a isso, oferecemos a seguinte passagem:
A base socialista do sistema econômico da China é a supremacia incondicional do Partido Comunista Chinês. Consistente com a tradição marxista-leninista, o Partido dirige a lei. Regulamentos, leis e decisões administrativas são aplicados. De acordo com a política atual do Partido. Assim como uma posição no Partido corresponde diretamente a cada posição-chave no governo, a hierarquia do Partido é paralela à governança corporativa em bancos, empresas estatais, empresas não estatais listadas, empresas híbridas, joint ventures e empresas privadas suficientemente grandes. As células do Partido em todas as empresas constituem sistemas internos de responsabilização paralelos aos estabelecidos pelas próprias empresas, mantendo o Secretário e o Comitê do Partido da empresa atualizados e capazes de fornecer aconselhamento oportuno ao seu CEO e conselho. Regulamentos importados de governança corporativa, que exigem diretores independentes e similares, ignoram essencialmente o envolvimento do Partido na governança empresarial. (Fan, Morck e Yeung 2011, 11)
Por outro lado, há uma grande diferença entre classificar a China como um país capitalista e reconhecer que o capitalismo, seja ele privado ou estatal, existe no país como um importante — e poderoso — modo de produção, juntamente com outros.
Nesse sentido, fazer a transição em uma formação social complexa como a chinesa significa reconhecer que a unidade dialética dos opostos mencionada acima se expressa na coexistência dos seguintes modos de Produção:7
(1) Economia natural de subsistência: esta estrutura, apesar de estar em rápida decomposição, ainda concentra toda a população chinesa que vive abaixo da linha da pobreza. A maior parte desta estrutura é composta por grupos étnicos minoritários. No entanto, o número absoluto da população que vive em extrema pobreza não é claro.
(2) Pequena produção de commodities: Caracteriza-se pela produção agrícola em pequena escala (familiar) voltada para o mercado. Embora seja encontrada principalmente em cidades de médio porte, é muito comum ver este setor nas periferias das grandes cidades. Apesar dos avanços na mecanização da produção agrícola na China, estima-se que existam 300 milhões de agricultores neste setor em 2012.
(3) Capitalismo privado: Este setor foi formado e conduzido sob a tutela do Partido Comunista Chinês (PCC). A existência dessa estrutura/formação social na China é causa de muitos exageros e enormes mal-entendidos sobre seu poder e papel na economia e na sociedade chinesas em geral. Um bom indicativo dessa tendência pode ser visto em: “as privatizações e as ofertas públicas iniciais de empresas estatais e coletivos em meados da década de 1990 iniciaram o primeiro movimento massivo de concentração de capital em mãos privadas na China” (Nogueira 2018, 7). Apesar de concentrar grande parte da riqueza e da renda, a classe capitalista na China não consegue se tornar a “classe dominante” como a dos países capitalistas.
(4) Capitalismo de Estado: 10 Trata-se de uma formação com linhas visíveis nas relações de dependência do capitalismo privado e das políticas estatais, por exemplo, como beneficiária dos efeitos em cadeia gerados pelas empresas estatais, no acesso ao crédito em bancos estatais, etc.
(5) Socialismo: Trata-se de uma formação social que define a própria natureza do Estado Nacional da China. O Partido Comunista Chinês detém a força política que controla o Estado, que, por sua vez, detém o controle sobre fatores objetivamente estratégicos. A citação a seguir explica isso bem:
As empresas estatais e de controle estatal são agora menos numerosas, mas muito maiores, mais intensivas em capital e conhecimento, mais produtivas e mais lucrativas do que no final da década de 1990. Ao contrário da crença popular, especialmente desde meados da década de 2000, seu desempenho em termos de eficiência e lucratividade se compara favoravelmente ao das empresas privadas. O subsetor controlado pelo Estado, constituído por empresas de controle estatal, em particular, tendo como núcleo os 149 grandes conglomerados administrados pela SASAC, é claramente o componente mais avançado da indústria chinesa e onde ocorre a maior parte das atividades internas de P&D. (Gabriele 2009, 17)
O processo de desenvolvimento não acontece por impulso, ou pelo menos raramente acontece. Muito menos é um processo de “desenvolvimento equilibrado”, como Rosenstein-Rodan (1943) pretendia nos mostrar em seus famosos e pioneiros trabalhos sobre economias externas e crescimento equilibrado. Ignacio Rangel e Albert Hirschman foram excelentes críticos dessa concepção. Para eles, o processo de desenvolvimento não é um processo de salto de um ponto de equilíbrio para outro, mas sim a maneira como o salto se dá entre pontos de desequilíbrio. Nas palavras de Rangel:
As pessoas podem ter uma ideia um pouco romântica sobre o desenvolvimento econômico, como se fosse um refúgio de estabilidade, bem-estar e paz. É necessário abandonar essas ilusões imediatamente. No Brasil, como em todos os países, o desenvolvimento é um processo doloroso, cheio de privações, conflitos e preocupações. Tais preocupações são, ao que parece, matéria-prima para o desenvolvimento [...]. Uma economia em desenvolvimento não pode resolver um problema sem criar um ainda maior. Ela salta ininterruptamente de um desequilíbrio para outro. (Rangel [1981] 2005, 41)
A explicação acima se encaixa perfeitamente no processo de desenvolvimento em uma formação social complexa, como já demonstramos a respeito da China. Diferentes modos de produção, cada um representando uma etapa específica do desenvolvimento da própria humanidade, exigem a existência de elementos de mediação entre as diferentes dinâmicas e respectivas velocidades e movimentos característicos de cada estrutura/formação social. São eles:
(1) Economia natural/de subsistência: que se encontra em acelerado processo de colapso;
(2) Economia de mercado: onde coexistem e competem entre si economias privadas de diversos portes, desde a pequena produção de commodities até a produção em larga escala do tipo capitalista. No entanto, diferentemente de outras economias de mercado capitalistas, neste mercado predominam os grandes conglomerados empresariais estatais e o sistema financeiro estatal, que, por sua vez, pode ser considerado o coração (os 149 conglomerados empresariais estatais) e a alma (o sistema financeiro estatal) do NSEF (socialismo de mercado);
(3) Comércio exterior: no socialismo, o comércio exterior é uma “instituição pública, planejada e estatal” (Jabbour e Dantas 2017, 794). É onde prevalece um novo tipo de relações em relação ao comércio exterior de tipo capitalista. É onde — também com o objetivo de demonstrar os impactos de certos movimentos na transição chinesa — deve ser elencado o papel da substituição comercial, política e financeira da China no mundo. Projetos como a Nova Rota da Seda e o fato de a China já ser o maior credor líquido do mundo são alguns exemplos que demonstram que o crescimento e a transição da China impactaram profundamente o mundo. São movimentos recentes que merecem menção, pois demonstram que a China não apenas se encontra em um processo interno de crescimento e transição, mas que sua transição também impactou profundamente o mundo.
4. A Economia Política do “Socialismo de Mercado”: A Lógica que Governa seu Movimento
Não pretendemos negar que a construção teórica que buscamos construir faça parte de uma crítica ao estagismo que prevaleceu e ainda influencia as elaborações marxistas sobre a transição do capitalismo para o socialismo. Indicar o “socialismo de mercado” como um novo FSE não faz parte apenas de um esforço para desvendar a lógica que rege a construção do socialismo em formações sociais complexas.
Esse mesmo raciocínio se aplica à nossa leitura do “socialismo de mercado”: um esforço para compreender a China e descobrir a lógica fundamental de seu processo de desenvolvimento. Nossa busca é, portanto, adaptar o materialismo histórico às peculiaridades de uma formação social complexa, como a da China.
Tendo exposto essas intenções e estando claro que estamos lidando com uma formação social complexa, o próximo passo é extrair a lógica operacional da economia chinesa. O “socialismo de mercado” é, de fato, a resposta; é, para todos os efeitos, um “método de análise” que aplicamos a essas e outras questões que surgem. Esta é a nossa interpretação particular da razão e da importância do desenvolvimento das forças produtivas que ocorre na China, cuja contrapartida é o poder político exercido pelo Partido Comunista Chinês.
Agora, é justo perguntar: qual é a diferença entre “socialismo de mercado” e capitalismo, visto que a existência de um grande setor público também pode ocorrer sob o capitalismo? Utilizaremos a passagem abaixo para esclarecer isso:
O Estado é dotado de um alto grau de controle direto e indireto dos meios de produção e, como resultado, as relações sociais de produção são diferentes daquelas prevalecentes no capitalismo. Essa afirmação implica que, em um nível mais baixo de abstração, um sistema “socialista de mercado” e um sistema capitalista diferem essencialmente em dois aspectos principais. O primeiro é que, em um sistema socialista de mercado, o papel do Estado é quantitativamente maior e qualitativamente superior, permitindo assim que o setor público como um todo exerça um controle estratégico geral sobre o caminho do desenvolvimento do país, especialmente em áreas cruciais como a definição da taxa de acumulação em toda a economia e a determinação da velocidade e direção do progresso técnico. A segunda diferença é que, em um sistema socialista de mercado, embora existam capitalistas dotados de direitos de propriedade privada sobre alguns meios de produção, eles não são fortes o suficiente para constituir uma classe social hegemônica e dominante, como ocorre em países capitalistas “normais”. (Gabriele e Schettino 2012, 32)
A constatação de que na China coexistem diversos modos históricos de desenvolvimento nos levou a tentar descobrir como as lógicas dos diversos modos de produção contemporâneos se articulam, se complementam ou se limitam. Quarenta anos após o início do processo de reforma e abertura na China, já é possível identificar pelo menos cinco lógicas de funcionamento. São elas:
(1) A formação social chinesa é composta por diversos modos de produção, cada um funcionando de acordo com o seu próprio. Esses diversos modos de produção coexistem em conflito e exercem pressão uns sobre os outros, sendo relativamente abertos à interação recíproca.
Por exemplo, a expansão da economia de mercado pressiona e impõe a tendência ao desaparecimento da economia natural de subsistência; a mesma pressão ocorre sobre a pequena produção comercial quando a agricultura se transforma em um ramo da indústria. O mesmo ocorre também entre o setor socialista da economia e o setor capitalista privado, sendo este último pressionado diante da tendência de crescente centralização da grande produção industrial nos 149 conglomerados empresariais estatais e do já mencionado processo de aumento contínuo do controle governamental sobre os fluxos de renda nacional.
(2) A lei do valor não é um aspecto simples de superar no “socialismo de mercado”, embora faça parte do processo histórico inicial de construção do socialismo. Acreditamos que esta observação é essencial para aqueles que, como nós, se preocupam com os limites do planejamento econômico em formações sociais onde segmentos do capitalismo privado não apenas estão presentes, mas também exercem pressão sobre a formação dominante (o socialismo).15
(3) Primeiramente, identificamos que as reformas econômicas permitiram o surgimento de um amplo setor privado coexistindo com o setor estatal preexistente. Para nós, essa coabitação exige “uma contínua reorganização das atividades entre os setores estatal e privado da economia” (Jabbour e Dantas 2017).14 Esse diagnóstico foi reforçado pela inclusão de que essa contínua reorganização das atividades é mediada pelo surgimento cíclico de instituições que delimitam a contínua reorganização das atividades entre os setores estatal e privado da economia (Jabbour e Paula 2018).15
(4) Há uma regularidade nesse processo cíclico de reorganização das atividades entre os dois setores. O crescimento do setor privado não ocorre à custa de uma diminuição do papel do Estado. Há uma substituição concreta e estratégica do Estado. O seguinte destaca isso:
A reação chinesa à crise de 2008 demonstrou a existência de um processo caracterizado pela construção de um Estado que utiliza a capacidade tanto de gerir políticas de socialização do investimento quanto de atuar como investidor e credor. Não dispensou apenas o setor privado concomitante. Foi além, promovendo a realocação e a concentração de seu próprio setor produtivo em indústrias-chave, que combinam alta produtividade com grandes retornos de escala. (Jabbour e Paula 2018, 8)
O setor privado, longe de ser o protagonista do processo, nada mais é do que um setor auxiliar das empresas estatais.16
(5) É geralmente entendido que períodos de crise alternados com períodos de crescimento podem ser considerados uma condição permanente de uma economia capitalista. Historicamente, alternativas para solucionar essa instabilidade cíclica já foram concebidas: no capitalismo, por meio do gasto público, e no socialismo, o ciclo é enfrentado a partir da perspectiva do "planejamento", com suas ferramentas e mecanismos. Por isso, o planejamento se justifica como lógica econômica essencial no socialismo de mercado.
5. Socialismo: Confrontando o Senso Comum e a "Dialética de Saturno"
Não é difícil perceber que o senso comum projetou com sucesso uma versão da China como um país capitalista. À parte os juízos de valor pejorativos amplificados pela grande mídia, essa visão representa os interesses tragicômicos do imperialismo. Temos plena consciência da pouca aderência que nossa visão tem a esse processo. Algumas considerações são importantes.
Sabemos que não é tarefa fácil propor a construção de uma teoria como subsídio capaz de explicar integralmente esse "socialismo de mercado", especialmente em um mundo em plena transformação. Também não ajuda que, no cerne dessa transformação, esteja um novo tipo de FSE, cujo país anfitrião está muito próximo de se tornar o líder. de um novo centro do sistema que se desloca do Atlântico Norte para o Leste Asiático.
Para ser claro, é o país com a terceira maior extensão territorial, e também o mais populoso do mundo, que defende o caráter socialista de sua experiência e começa a jogar suas cartas no sistema mundial. Com isso em mente, voltemos à controvérsia sobre o socialismo chinês, uma controvérsia que tende a se estender por pelo menos a próxima década. A falta de compreensão do processo histórico é parte do problema. Por isso, é bom lembrar: assim como a transição feudalismo-capitalismo levou séculos, [...], a transição capitalismo-socialismo já dura séculos. Os germes do capitalismo nas cidades italianas e espanholas (séculos XIII e XIV) não foram suficientes e só muito mais tarde as relações capitalistas de produção na Inglaterra se tornaram fortes o suficiente para romper a casca feudal (Revolução Puritana) [...]. Claramente, quando Marx e Engels imaginaram a vitória da revolução acontecendo simultaneamente na Inglaterra, França e Alemanha, de criar um núcleo socialista mundial em torno do qual os outros países poderiam girar e se unir (incluindo a Rússia, com sua base agrária igualitária), foi baseado nas revoluções de 1848 que abalaram a Europa [...]. Mas a realidade provou ser diferente, pois quando ocorreu a conjuntura revolucionária mundial de 1917-1923, somente na Rússia a revolução teve sucesso, em parte graças às ideias de Lenin, que conseguiram impulsionar o pensamento marxista radical. (Mamigonian 2001, 7)
Desde o seu surgimento, já eram visíveis as diferenças de opinião e de concepção sobre a natureza do socialismo. Estas iam desde Lassalle (à “direita”), Blanqui (à “esquerda”) até Marx, cuja visão geral o levou a adotar posições mais centristas. Não é de admirar que o mesmo ocorra em relação à China, como também aconteceu frequentemente em relação à União Soviética. Essas divisões de opinião podem ser explicadas da seguinte forma:
A dialética com base na qual “Saturno devora seus filhos” certamente não é uma característica exclusiva da Revolução de Outubro: o consenso que preside à derrubada de um antigo regime, um regime que se tornou antipático à maioria da população, inevitavelmente se rompe ou se dispersa no momento em que se trata de decidir sobre a nova ordem a ser estabelecida. Isso também se aplica às Revoluções Inglesa e Americana. (Losurdo 2010, 47)
O socialismo suscita expectativas do tipo messiânico. Esta é a fonte a partir da qual a “dialética de Saturno” atua violentamente. Não é incomum relacionar o socialismo à expressão de uma sociedade onde a contradição desaparece, levando consigo as desigualdades sociais, a economia monetária e as fronteiras entre o “meu” e o “seu”. Em relação à China, o “socialismo de mercado”, dentro de uma visão talmúdica, é sinônimo de uma “traição” aos princípios do marxismo. Nesse caso, a “dialética de Saturno” se expressa na confusão entre aqueles que percebem a economia de mercado como uma categoria histórica e aqueles que igualam o mercado ao capitalismo. O igualitarismo extremamente comum no movimento comunista leva à redução de Marx a mais um pensador da questão social ou, no máximo, a um ricardiano menor.
Voltando ao nosso argumento principal, no Manifesto Comunista, Marx e Engels nos lembram que “nada é mais fácil do que cobrir o ascetismo cristão com um verniz socialista” (Marx e Engels [1848] 1998, 35). Noções igualitárias devem ser desafiadas nesta tarefa que propomos de construir uma nova teoria. Nesse sentido, a seguinte passagem de Losurdo é interessante e essencial: Em A Fenomenologia do Espírito, Hegel destaca a aporia contida na ideia de igualdade material que está na base da reivindicação da “comunhão de bens”. Quando se põe em prática uma satisfação igualitária das diferentes necessidades dos indivíduos, fica claro que há uma desigualdade em relação à “quota de participação”, isto é, à distribuição dos bens; se, no entanto, há uma “distribuição igualitária” dos bens, então fica claro que a “satisfação das necessidades” se torna desigual nos indivíduos (sempre diferentes). (Losurdo 2010, 57-58)
É evidente, portanto, que a “promessa” de igualdade material contida na noção de “comunhão de bens” é impossível. Losurdo apresenta a consequência desse ponto da seguinte forma:
Marx, que conhecia muito bem a Fenomenologia, resolve a dificuldade (na Crítica do Programa de Gotha) correspondente às duas maneiras diferentes de rejeitar a “igualdade” (que é sempre parcial e limitada) com dois estados diferentes de desenvolvimento na sociedade pós-capitalista: na fase socialista, a distribuição segundo um “direito igual”, isto é, dando igual medida ao trabalho prestado por cada cidadão individualmente e sempre mais diferente, produz uma evidente desigualdade na remuneração e na renda; nesse sentido, o “direito igual” nada mais é do que o “direito à desigualdade”. Na fase comunista, a satisfação igual de diferentes necessidades também envolve uma desigualdade na distribuição de recursos, exceto que o enorme desenvolvimento das forças produtivas, satisfazendo as necessidades de todos igualmente, torna tal desigualdade insignificante. (Losurdo 2010, 58)
Podemos tirar duas conclusões das passagens acima: (1) no socialismo, a igualdade material não é possível e (2) no comunismo, essa “igualdade material” não tem sentido. É por isso que os fundadores do socialismo científico enfatizam o compromisso dos trabalhadores com o desenvolvimento das forças produtivas.
Como resumo do que discutimos sobre o socialismo, encerramos esta seção com a seguinte citação: O proletariado usará sua supremacia política para arrancar, gradualmente, todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, ou seja, do proletariado organizado como classe dominante; e para aumentar o total das forças produtivas o mais rápido possível. (Marx e Engels [1848] 1998, 56)
Conclusões
Neste artigo, argumentamos que (notavelmente após 2009) na China há uma tendência marcante para um papel crescente do Estado no processo de acumulação. Essa tendência consolida a natureza socialista de mercado do Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (NSEF) chinês. Como afirmado na introdução, trata-se de um processo de aumento do controle estatal sobre os fluxos de renda no país, que vem se configurando desde a segunda metade da década de 1990. De fato, o Estado chinês controla cerca de 30% da riqueza nacional, um patamar muito superior ao apresentado em alguns países ocidentais na chamada Era de Ouro (1950-1980) do capitalismo: em países como EUA, Alemanha, França e Grã-Bretanha, esse controle variou entre 15% e 25% (Piketty, Yanf e Zucman 2017, 22).
No entanto, como demonstrado, foi em resposta à crise de 2009 que esse movimento se concretizou, quando o Estado se tornou o financiador (via bancos públicos) e o executor (via empresas estatais) de um pacote de investimentos de US$ 589 bilhões. Claramente, algo muito diferente estava acontecendo na China, algo que poderia ter sido ignorado pelos analistas em geral e pelos marxistas em particular.
Ao começarmos a considerar a hipótese aqui apresentada e demonstrada, sugerimos que a China, e sua dinâmica de desenvolvimento, estava — de certa forma — longe de ser uma variante do capitalismo liberal ou do capitalismo de Estado. Para a possibilidade teórica dessa interpretação, buscamos auxílio em uma categoria marxista muito pouco conhecida e/ou mesmo utilizada: a categoria de formação socioeconômica. Por meio desse caminho de desenvolvimento, citações e demarcação de fronteiras com outras interpretações, buscamos expor a particularidade dessa categoria no esforço de buscar a gênese de processos complexos. A partir dessa categoria de análise, avançamos no cerne da nossa argumentação. A dinâmica da coexistência em A “unidade dialética dos opostos” entre os diferentes modos de produção foi fundamental, principalmente porque indica que o modo de produção socialista, representado pela própria natureza do poder político estatal e da estrutura financeira e produtiva, é dominante entre os demais modos de produção. Vale ressaltar que não trabalhamos com categorias prévias, incluindo a da existência do “socialismo puro”. Não existe “socialismo puro” na China, pelo contrário. A dinâmica dos diferentes modos de produção indica uma interação plena e amplamente contraditória entre eles. Tais contradições podem ser expressas no fato de a China conviver com contradições de diversos graus, incluindo sociais e ambientais, entre outras.
Essa afirmação não foi suficiente, no entanto. Este NSEF engendra uma lógica de funcionamento muito particular, que o distingue das lógicas dos países capitalistas. Cinco lógicas de funcionamento foram apresentadas e exemplificadas, dando substância à argumentação deste trabalho. São elas: (1) os diferentes modos de produção não se restringem à coexistência, mas coexistem na “unidade dialética dos opostos”; (2) a lei do valor não é um aspecto simples de superar no “socialismo de mercado”, embora faça parte do início do processo histórico de construção do socialismo; (3) a existência de dois setores, o estatal e o privado, exige uma reorganização contínua das atividades entre esses setores. Essa reorganização contínua das atividades é mediada pela surgimento cíclico de instituições que delimitam uma reorganização contínua das atividades entre o Estado e os setores privados da economia; (4) há uma regularidade nesse processo cíclico de reorganização das atividades entre os dois setores. O crescimento do setor privado não ocorre à custa de uma diminuição do papel do Estado. Há uma substituição concreta e estratégica do Estado, com este elevando seu papel qualitativamente; e (5) o planejamento se justifica como uma lógica operacional essencial no “socialismo de mercado”.
Por fim, sob a rubrica da “dialética de Saturno”, abordamos um antigo debate sobre as expectativas criadas durante o processo de construção do socialismo e o valor dessa saudável polêmica para a compreensão da China atual. Para fundamentar isso, também utilizamos citações de clássicos como Hegel, Marx e Engels. Nunca foi tão fundamental para nós retornar aos “clássicos” em busca de explicações para fenômenos novos e complexos.
Claramente, este tópico é complexo e controverso. Não negamos isso. Mas o que este artigo contém é um primeiro e grande passo em uma discussão há muito esperada sobre o desenvolvimento da China fora dos parâmetros aceitos por todos os lados anteriores do debate. Este artigo se apresenta como uma alternativa, um outsider necessário e controverso.
Notas
1 O sucesso das Empresas de Vilas e Municípios (EVs), baseadas em direitos de propriedade difíceis de compreender, demonstra que a propriedade privada por si só não garante o dinamismo econômico. Para mais informações sobre esse debate sobre EVs e direitos de propriedade, veja Harry (Citation2001).
2 De acordo com Piketty, Yanf e Zucman (Citation2017, 4–5),
[...] A China avançou muito em direção à propriedade privada entre 1978 e 2015, mas o regime de propriedade do país ainda é muito diferente de outras partes do mundo. Na maioria dos países desenvolvidos, a participação da propriedade pública na riqueza nacional costumava ser de cerca de 15% a 25% nas décadas de 1960 e 1970 e agora está próxima de 0%. [...] A China deixou de ser comunista, mas não é totalmente capitalista. Com efeito, a parcela de propriedade pública na China hoje é um pouco maior do que — embora não comparável — à que era no Ocidente durante o regime de "economia mista" das décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial (30% da economia mista da China parece ter se fortalecido desde a crise financeira de 2008, enquanto caiu novamente nos países ricos). (Citado em Jabbour e Paula 2018, 20)
O trabalho recente de Naughton (2017) segue essa mesma linha de raciocínio.
3 Agradecemos os comentários de Sérgio Barroso sobre a forma como Marx tratou a categoria SEF. Sobre a passagem citada, fazemos duas observações: (1) Segundo Sereni ([Citação1971] Citação2013, 301): É verdade que muito antes desta obra, o conceito (se não o termo) de formação econômica e social encontra-se na primeira elaboração completa da concepção materialista da história que Marx e Engels nos deixaram no manuscrito da Ideologia Alemã de 1846. Aqui, como se pode facilmente perceber, boa parte do volume I é dedicada a uma rápida passagem pela história mundial, cuja periodização se justifica nos diferentes graus de desenvolvimento das forças produtivas e das relações de propriedade, isto é, na maneira como a produção (Weise der Produktion) caracteriza diferentes épocas. (…) Falta, porém, como havíamos alertado, o termo Ökonomische Gesellschaftsformation, em seu lugar, por ora, apenas o de Gesellschaftsform (literalmente “forma de sociedade” ou “forma social”), que logo reaparece nos Grundrisse, como, também antes, em muitos outros escritos dos anos entre 1846 e 1857; (2) Tendemos a concordar com Gabriele e Schettino (Citation2012, 22), segundo eles no “Prefácio” a diferença entre os conceitos de formação econômico-social e modo de produção não é perceptível: Aqui, os conceitos de SEF e MP são virtualmente indistinguíveis. No entanto, ainda há espaço para abordagens interpretativas subsequentes que — sem minar a estreita relação entre as esferas social e econômica, que constitui um dos legados mais fundamentais do pensamento de Marx — tenderam a diferenciar os dois conceitos, em linhas consistentes com os significados distintos dos termos "social" e "produção", respectivamente.
4 Há quem tente explicar a China descrevendo-a como um vasto campo de trabalho forçado liderado por "capitalistas selvagens" dentro das regras de um certo "Estado-Partido", até mesmo uma interessante tentativa de "economia mista". A maioria absoluta das pesquisas sobre a China, existentes aos milhares nas prateleiras das livrarias, ignora o fato de que, na realidade, a construção de um edifício original está ocorrendo naquele país, onde elementos e instituições de diferentes períodos históricos aparecem e ressurgem. Reafirmamos aqui que a única razão para esse gigantesco processo em curso na China é observá-lo como parte da história da civilização humana; não se trata de um milagre; muito menos de um acidente.
5 Continuidade no sentido das direções e objetivos que levaram o PCC ao poder em 1949, e ruptura com o método e as formas que, desde meados da década de 1950, passaram a prevalecer em todo o corpo social chinês.
6 Para mais informações sobre a análise dos principais mecanismos utilizados para a concentração de capital e a formação de uma classe capitalista nacional na China, leia Nogueira (Citation 2018). Para uma racionalização semelhante à de Nogueira sobre a influência dos capitalistas nacionais na China, mas do ponto de vista de um geógrafo, leia Lim (2014).
7 Sua construção baseia-se amplamente em Lenin ([1921] 1964).
8 O plano é eliminar completamente a existência de populações vivendo nessas condições até 2020. Vale mencionar, por exemplo, que, segundo o Banco Mundial, a porcentagem da população chinesa vivendo em condições de extrema pobreza caiu de 88% em 1981 para 6,5% em 2012 (Portal de Dados de Pobreza e Equidade do Banco Mundial: https://povertydata.worldbank.org/poverty/country/CHN. Acessado em 15 de maio de 2018).
9 Veja “Agricultura na China”. Agricultores Australianos, 12 de abril de 2017. https://farmers.org.au/community/blog/the-sheer-scale-of-agriculture-in-China-12042017.html. Acessado em 10 de abril de 2018.
10 É muito comum associar a China a uma experiência de "capitalismo de Estado". Essa associação é consequência da separação entre política e economia na análise do processo. Para nós, trata-se de uma fase do desenvolvimento capitalista em países onde o Estado desempenha um papel importante, mas as empresas privadas são a formação/estrutura dominante.
11 De acordo com um relatório do importante think tank americano American Enterprise Institute for Public Policy Research, entre 2005 e 2018, a China investiu US$ 1,9 trilhão nos cinco continentes. Veja https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/.
12 Para nós, "socialismo de mercado" é sinônimo do que se convencionou chamar de "estágio primário do socialismo". Escrevemos sobre isso em Jabbour, Dantas e Belmonte (Citation, 2017).
13 Para mais informações sobre os limites do planejamento no socialismo de mercado, leia Gabriele (Citation, 2016).
14 O caso chinês também se alinha com a seguinte passagem de Rangel:
Em todos os períodos da história [...] a economia sempre teve, ao lado do setor privado, o setor público. De tempos em tempos, a distribuição de atribuições entre esses setores é questionada e [...], procede-se a uma redistribuição dessas atribuições entre os dois setores. Isso ajuda a superar a crise e a abrir um novo período de desenvolvimento. Ora, não há como supor que essa dialética tenha se esgotado. (Rangel [1957] Citação 2005, 455)
15 Aprofundamos essa observação em Jabbour e Paula (Citação 2018).
16 É interessante notar o fato — que distingue a experiência desenvolvimentista chinesa de outros casos — de que o surgimento de novos arcabouços institucionais não sofre, durante o processo de industrialização, de descontinuidade (Medeiros 2013, 435).
17 Segundo Harnecker:
Sem planejamento participativo não pode haver socialismo, não apenas pela necessidade de acabar com a anarquia da produção capitalista, mas também porque somente por meio do engajamento em massa a sociedade pode se apropriar verdadeiramente dos frutos de seu trabalho. Os atores do planejamento participativo variam de acordo com os diferentes níveis de propriedade social. (Citação de Harnecker, 2012, 243)
18 Em relação ao planejamento, oferecemos as palavras de Rangel:
Esta ciência e esta arte tornaram-se, desde então, a rainha de todas as artes e de todas as ciências do nosso tempo, porque é graças a elas que o enorme acervo de conhecimento humano acumulado ao longo dos séculos ganha novo significado, produzindo resultados novos e surpreendentes. E, acima de tudo, é graças a elas que a sociedade humana conquistou o autodomínio, permitindo-se escolher o ritmo e a direção de sua marcha. Por fim, mas não menos importante, por outro lado (e oposto), a austeridade é um dos principais elementos da política econômica neoliberal. (Rangel [1957] Citação 2005, 453)
19 Este “pacote de investimentos” foi mediado por dinheiro criado por bancos estatais.
Elias Jabbour é Professor Associado de Teoria e Política de Planejamento Econômico na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e um dos mais prestigiados pesquisadores latino-americanos em questões do socialismo chinês. É autor de diversos livros em português sobre o socialismo de mercado chinês e reformas econômicas.
Alexis Dantas é Professor Associado de Economia Industrial na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Diretor da Faculdade de Economia da mesma universidade e coordenador do Grupo de Estudos sobre as Américas na mesma universidade. É autor e editor de uma dúzia de livros sobre assuntos econômicos e geopolíticos da América Latina.
Carlos Espíndola é Professor Titular de Geografia Agrária na Universidade Federal de Santa Catarina e um dos mais prestigiados pesquisadores latino-americanos sobre as ideias de Marx, Kautsky e Lenin sobre a dinâmica agrária de acumulação e desenvolvimento.



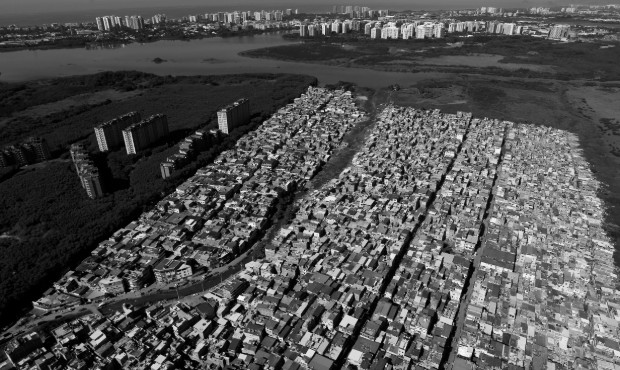
.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2019/o/s/fwtT9BRdGqU80e0VBGBQ/foto10cul-701-artigo-d16.jpg)



