Para sociólogo, intelectuais e artistas não foram marionetes dos embates entre as potências, tema de seu novo livro
Laura Mattos
Jornalista e mestre pela USP, é autora de "Herói Mutilado: Roque Santeiro e os Bastidores da Censura à TV na Ditadura"
Folha de S.Paulo
[RESUMO] Em entrevista à Folha, sociólogo discute as pressões que artistas e intelectuais enfrentaram durante a Guerra Fria, tema de seu novo livro, conclama a união das forças democráticas para resistir ao autoritarismo e afirma que a contestação do capitalismo se enfraqueceu na esquerda, que hoje se concentra na inclusão de grupos subalternizados nos marcos da ordem estabelecida.
Laura Mattos
Jornalista e mestre pela USP, é autora de "Herói Mutilado: Roque Santeiro e os Bastidores da Censura à TV na Ditadura"
Folha de S.Paulo
[RESUMO] Em entrevista à Folha, sociólogo discute as pressões que artistas e intelectuais enfrentaram durante a Guerra Fria, tema de seu novo livro, conclama a união das forças democráticas para resistir ao autoritarismo e afirma que a contestação do capitalismo se enfraqueceu na esquerda, que hoje se concentra na inclusão de grupos subalternizados nos marcos da ordem estabelecida.
*
As senhoras norte-americanas tinham um segredo. Mulheres de empresários que moravam no Brasil nos anos 1960 organizavam intercâmbios para levar líderes estudantis, de preferência de esquerda, para conhecer o "american way of life" e guardavam a sete chaves o apoio do governo dos Estados Unidos a esse programa.
A cada ano, entre 1962 e 1971, 80 jovens passavam, gratuitamente, um mês em cidades norte-americanas, e faziam um curso de verão na Universidade Harvard. Alguns foram até recebidos pelo presidente John Kennedy.
As senhoras norte-americanas tinham um segredo. Mulheres de empresários que moravam no Brasil nos anos 1960 organizavam intercâmbios para levar líderes estudantis, de preferência de esquerda, para conhecer o "american way of life" e guardavam a sete chaves o apoio do governo dos Estados Unidos a esse programa.
A cada ano, entre 1962 e 1971, 80 jovens passavam, gratuitamente, um mês em cidades norte-americanas, e faziam um curso de verão na Universidade Harvard. Alguns foram até recebidos pelo presidente John Kennedy.
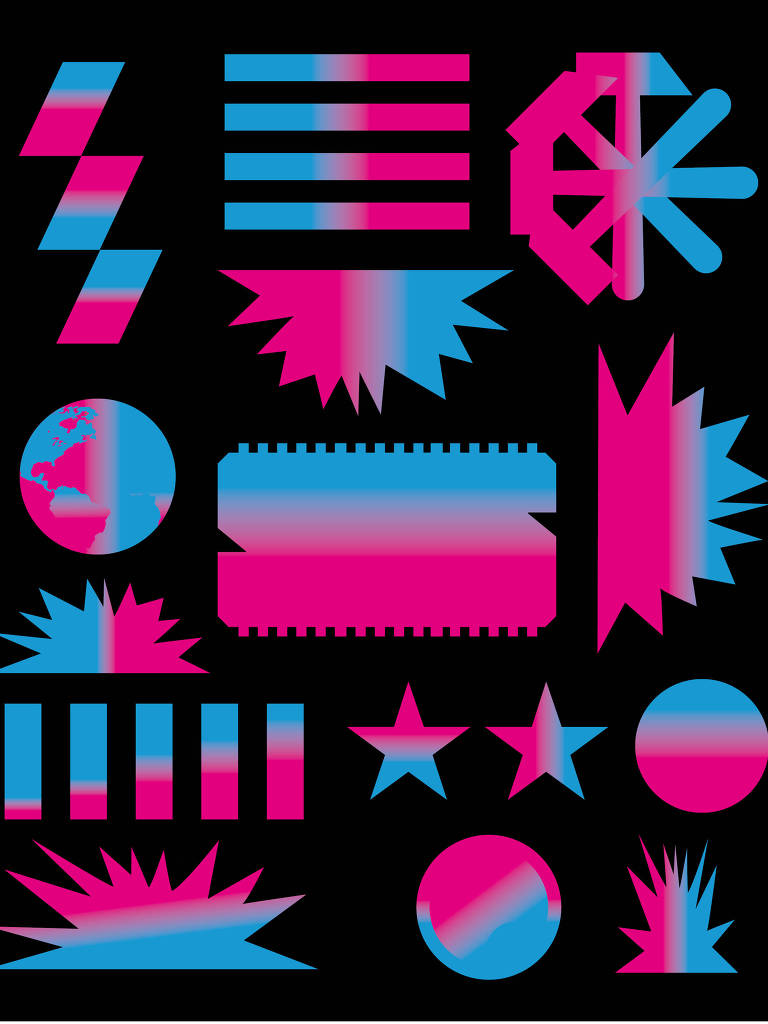 |
| Ilustração - André Stefanini |
Antes da viagem, tinham aulas preparatórias com intelectuais no Brasil, que desconheciam o suporte financeiro do governo. Figuras consagradas da esquerda e da luta contra a ditadura militar, Dalmo Dallari e Paul Singer atuaram no projeto que, em última instância, buscava conquistar corações e mentes para o lado dos Estados Unidos e do capitalismo na disputa ideológica contra a União Soviética e o comunismo.
O resgate dessa e de outras experiências envolvendo intelectuais e artistas brasileiros no conflito político-ideológico internacional faz parte de "O Segredo das Senhoras Americanas: Intelectuais, Internacionalização e Financiamento na Guerra Fria Cultural", novo livro de Marcelo Ridenti, 63, professor titular de sociologia da Unicamp, resultado de mais de dez anos de pesquisa.
A partir de documentos oficiais, trocas de correspondências e processos judiciais garimpados em arquivos do Brasil, da França e dos Estados Unidos, além de entrevistas inéditas feitas com personagens da época, Ridenti recupera iniciativas que envolveram brasileiros na guerra fria cultural.
Além do programa estudantil, o pesquisador estuda a revista Cadernos Brasileiros, que circulou de 1959 a 1970 e teve entre os editores a escritora Nélida Piñon. A publicação era ligada ao Congresso pela Liberdade da Cultura, secretamente apoiado pela CIA.
A organização havia sido fundada em resposta ao Conselho Mundial da Paz, patrocinado pela URSS, que reuniu nomes como Pablo Picasso, Pablo Neruda e Jorge Amado —este era figura central na articulação entre o Brasil e a rede internacional de artistas e intelectuais pró-soviéticos, também objeto de estudo de Ridenti no novo livro.
"O Segredo das Senhoras Americanas" joga luz sobre a complexidade da ação de pessoas ligadas à intelectualidade e às artes em meio à Guerra Fria. Não eram inocentes úteis ou marionetes, mas nem sempre sabiam todas as regras do jogo, tinham conhecimento do patrocínio das potências políticas ou noção exata de como as iniciativas das quais participavam se colocavam no conflito ideológico.
Visões reducionistas não dão conta dessas tramas, aponta Ridenti, e julgamentos morais são descabidos. O livro tem, portanto, muito a dizer sobre os tempos atuais, de cancelamentos e disputas por narrativas.
Nesta entrevista à Folha, o sociólogo trata desses temas e da guerra ideológica em meio ao grave momento político do Brasil.
O seu livro critica a maneira como estudos sobre a guerra fria cultural costumam ser reduzidos a tentativas de se descobrir quem financiava isto ou aquilo. Atualmente, com as inúmeras possibilidades de se injetar dinheiro de maneira obscura no universo digital, inclusive com objetivos políticos, e diante da falta de transparência sobre algoritmos e financiamentos das empresas de tecnologia, vivemos, de certa forma, uma nova glamorização desse "follow the money" (siga o dinheiro)? Sim e isso, em parte, é um equívoco. Apenas descobrir quem paga não resolve a questão por completo.
Nos anos 1950, por exemplo, formou-se o Congresso pela Liberdade da Cultura, que, se descobriu depois, era financiado pela CIA. Congregava uma enorme gama de forças que envolviam a social-democracia, setores de direita, conservadores e até alguns anarquistas e ex-trotskistas.
Pois bem, esse congresso apoiou a Revolução Cubana. Depois que o Fidel resolveu ficar do lado soviético, eles se tornaram inimigos. Então você vai dizer: "Como a CIA financiou o Congresso, e como o Congresso apoiou a Revolução Cubana, logo, a Revolução Cubana foi financiada pela CIA?". Isso seria um absurdo. Existem espaços de autonomia relativa, de lutas, que não permitem esses raciocínios simplificados.
Nos anos 1950, por exemplo, formou-se o Congresso pela Liberdade da Cultura, que, se descobriu depois, era financiado pela CIA. Congregava uma enorme gama de forças que envolviam a social-democracia, setores de direita, conservadores e até alguns anarquistas e ex-trotskistas.
Pois bem, esse congresso apoiou a Revolução Cubana. Depois que o Fidel resolveu ficar do lado soviético, eles se tornaram inimigos. Então você vai dizer: "Como a CIA financiou o Congresso, e como o Congresso apoiou a Revolução Cubana, logo, a Revolução Cubana foi financiada pela CIA?". Isso seria um absurdo. Existem espaços de autonomia relativa, de lutas, que não permitem esses raciocínios simplificados.
Isso não quer dizer que não é importante descobrir quem financia, mas não é porque a CIA patrocinava o Congresso pela Liberdade da Cultura que tudo o que seus participantes fizeram era inútil e vendido para o imperialismo ianque. Nem tudo do Conselho Mundial da Paz, que tinha atuação do Pablo Picasso, da Frida Kahlo, do Pablo Neruda, do Jorge Amado, era submissão ao ouro de Moscou, ainda que houvesse patrocínio soviético.
Isso vale para pensarmos hoje. Evidentemente, há financiamentos internacionais que não conhecemos bem e é importante descobrir quais são, mas é preciso analisar, desvendar cada processo político e cada tipo de atuação ligado aos financiamentos
Nas minhas pesquisas, tento questionar uma certa simplificação na análise da ação intelectual, política e social. Dentro das pressões e dos limites que cada contexto impõe, cada um atua como pode. Um artista ou um intelectual não tem o domínio de todas as regras do jogo, muitas vezes não sabe quem financia esta ou aquela iniciativa, mas pode saber qual é o próprio projeto, como vai jogar, que livro vai escrever, em que jornal vai publicar o que pensa. Você está dentro de um sistema do qual dificilmente escapa; se não jogar, estará à margem do jogo, o que dificulta até a possibilidade de contestá-lo.
Sua pesquisa aponta para o erro de simplificar biografias, taxando artistas e intelectuais com selos. O sr. aborda o caso de Nélida Piñon, que fez parte da revista Cadernos Brasileiros, patrocinada secretamente pelos EUA, mas teve interlocução com instituições cubanas. Fala da presença dos professores Dalmo Dallari e Paul Singer no programa norte-americano para estudantes brasileiros, ressaltando as diferentes visões que eles tinham dos propósitos da iniciativa. Julgamentos morais, portanto, seriam inadequados. Hoje, tempos de cancelamento, o que mais se faz é colocar selos nas pessoas. Quão nocivo é isso? Isso é profundamente lamentável. Você só avança no conhecimento e no debate democrático se reconhecer o outro e não simplesmente o cancelando e fazendo de conta que o mundo é só sua bolha de perfeição.
Temos que ouvir o outro, compreender o outro e até lutar contra o outro. Isso é diferente de cancelar, de fazer de conta que não existe, estigmatizar e tratar as pessoas por rótulos. É fundamental pensarmos em como avançar como uma sociedade democrática, que tenha diferenças, lutas, mas com respeito ao outro.
Tem uma metáfora que o [sociólogo] Chico de Oliveira usava, a de que a sociedade brasileira às vezes é um jogo de damas, em que você simplesmente come as outras peças e liquida o adversário. Talvez devêssemos jogar xadrez, em que cada peça tem a sua característica e temos que ver o outro para pensar como nos posicionar.
É preciso, no caso das forças democráticas, pensar mais no que nos une que no que nos separa. O que nos une é a preservação do livre debate de ideias e da democracia. É o que se coloca hoje no Brasil, e nós não vamos conseguir isso com o cancelamento.
O sr. cita no livro a ótica do sociólogo inglês Raymond Williams de compreender a cultura não como fenômeno secundário, mas constituinte da estruturação da sociedade. A partir dessa ideia e de sua pesquisa, que reflexões podem ser feitas sobre artistas e intelectuais na atualidade? Raymond Williams tentava ver os aspectos econômicos, culturais, políticos e sociais de uma maneira muito imbricada. Ao mesmo tempo, apontava que as determinações sociais impõem limites e exercem pressões sobre nossas ações. No entanto, não impossibilitam algum modo de expressão crítica de indivíduos ou grupos.
No meu livro, tratei de ver como, diante das constrições sociais, dos limites e das pressões exercidos durante a Guerra Fria, vimos surgir movimentos e ideias com relativa autonomia. Por exemplo, pensando no Jorge Amado e no Pablo Neruda, que estavam do lado soviético, ou naqueles que organizaram a revista Cadernos Brasileiros, que, em teoria, estariam do lado ocidental, contra os comunistas, ficou claro que intelectuais e artistas não foram simplesmente peças manipuladas nesses embates, mas, de alguma maneira, também ajudaram a construir o cenário, negociando, às vezes, até com os dois lados.
Essa ideia vale para aquele tempo e para hoje. Vivemos em um mundo cada vez mais mercantilizado e submetido a uma lógica capitalista internacional. Assistimos à volta de autoritarismos pululando, inclusive na Europa e com forte apelo eleitoral, o que é mais dramático.
Devemos refletir sobre como, diante dessas constrições, nós —artistas, intelectuais, as pessoas que atuam no âmbito da cultura— podemos nos colocar para criar alternativas que nos façam escapar da barbárie que se anuncia.
Que aspectos culturais no Brasil poderiam ser destacados para pensar a gravidade do momento político atual? No Brasil, existe uma tradição de cultura política que muitos chamariam de conciliadora ou de uma espécie de acomodação das forças sociais e, particularmente, das elites e daqueles que pensam a sociedade.
Essa tradição de dificuldade de ruptura vem de longe. Você passa do Brasil Colônia para independente com dom Pedro. Depois, a passagem do Império para a República também é uma transição negociada. Até a própria redemocratização, no fim da ditadura militar, foi transada pelo Tancredo Neves, que simbolizou, naquele momento, uma espécie de pacto de não ruptura e, ao mesmo tempo, de alguma mudança.
Quem está tentando encarnar isso hoje é o Lula, que, por exemplo, abriu a vice-presidência para o Alckmin. É uma tradição de conciliação da sociedade brasileira, normalmente feita a partir de cima, das elites. De alguma maneira, o Lula tenta fazer isso incorporando também os trabalhadores.
Essa tradição é confrontada por um risco grande colocado por outra tradição da sociedade brasileira, extremamente autoritária, que vem desde o escravismo e que tenta resolver as questões por intermédio da violência, não do debate, do convencimento ou dos acertos. Essa tradição é representada com força pelo bolsonarismo.
O sr. tem uma ampla pesquisa sobre a hegemonia da esquerda na cultura brasileira dos anos 1960 e 1970. Nesse novo livro, mostra de que maneira a teia de apoios que existia no Brasil entre os comunistas estava ligada a uma rede internacional financiada pelos soviéticos. Após o fim da ditadura militar, o que aconteceu com essa hegemonia de esquerda? Hoje, diante das ameaças de Bolsonaro contra a democracia, essa força da esquerda na cultura foi resgatada? Roberto Schwarz tem um estudo conhecido do final dos anos 1960, em que fala dessa relativa hegemonia de esquerda. Ele aponta que era relativa porque só vigorava nos circuitos mais fechados, dos próprios grupos de intelectuais, e que, para a população, o que existia era uma cultura de massa, da indústria cultural que começava a se estabelecer.
Naquele tempo, havia uma tentativa de articular uma maneira diferente de organizar a vida social e cultural, um projeto que se chamou de revolução brasileira, fosse ela nacional-democrática ou socialista. Esse imaginário praticamente desapareceu: se diluiu e se mantém apenas residualmente, em alguns grupos.
Isso não quer dizer que, dentro dos setores predominantes à esquerda, não haja desenvolvimento de ideias críticas, mas elas vão em outro sentido. Os movimentos mais fortes hoje são os de mulheres e os de negros, que reivindicam seu lugar mais proeminente na sociedade brasileira, que os colocou em posições subalternas.
No entanto, não há nesses movimentos, a não ser residualmente, uma crítica ao próprio sistema, à organização da sociedade do ponto de vista econômico. Não há uma contestação clara do capitalismo. É um equívoco imaginar que a esquerda contra o sistema domina o debate cultural e político no Brasil, mas se colocam questões que incomodam muito os setores conservadores: questões de comportamento, de raça, de gênero, de sexualidade.
Essas questões estão inseridas mesmo na indústria cultural. As novelas, por exemplo, se abrem mais a atores não brancos, e mulheres estão conseguindo mais espaços em diferentes áreas. Isso é ótimo. Ainda assim, não é algo contra o sistema. Ao contrário, é uma busca por incorporar, dentro da ordem capitalista, contestações a ela.
Apesar disso, há setores das classes dominantes extremamente conservadores que têm uma dificuldade enorme de aceitar esse projeto de inclusão, mesmo que dentro da ordem, de setores não brancos, não masculinos, não heterossexuais ou mesmo das classes trabalhadoras. É aquela mentalidade escravocrata, tradicional no Brasil.
Há um embate hoje, mas, diferentemente dos anos 1960, o que está em jogo não é o sistema, mas o caminho a ser tomado dentro dele, e isso é muito evidente nas próximas eleições: o caminho de alguma mudança dentro da ordem, no sentido de ser mais inclusiva, ou o caminho do outro projeto, de avanço do que há de mais autoritário na sociedade brasileira.
Por mais que seja um cenário diferente, ainda se fala de ameaça do comunismo e da infiltração comunista nas artes e na educação, como se estivéssemos nos anos 1960. Por que qualquer discussão hoje, como sobre cotas ou feminismo, é pretexto para resgatar o fantasma comunista? Não gosto desse termo da infiltração comunista nem para pensarmos os anos 1960, porque remete a algo que seria exterior, que você enfia como uma injeção.
Vamos pensar em Dias Gomes, por exemplo. Ele era inteiramente enfronhado na cultura brasileira, atuante no rádio e na TV. Não foi alguém que o Partido Comunista implantou ali para colocar ideias que vieram de Moscou. Era um homem que nasceu das lutas e contradições da sociedade brasileira.
O que havia na época era um setor que se expressou e foi ligado ao Partido Comunista ou a outros grupos de esquerda, mas a tradição anticomunista é muito forte no Brasil. Na época da eleição do Collor contra o Lula, em 1989, aparecia a bandeira do Brasil ficando vermelha.
Esse discurso de salvar o Brasil do perigo comunista reaparece em vários momentos da história, sempre que os setores conservadores se sentem ameaçados. É um fantasma construído. Tem gente agora que acusa o Alckmin de estar se vendendo para o comunismo porque vai ser vice do Lula, como se o Lula fosse comunista.
"Tudo o que é diferente de nós", pensam os conservadores, do imaginário da família brasileira, da tradição, da grande propriedade de terra, levanta o fantasma do comunismo. É algo primário, mas que tem força na sociedade, porque recupera o medo que as pessoas têm de mudanças.
Na disputa por ideias e narrativas hoje, temos os influenciadores digitais, sejam eles militantes voluntários ou patrocinados por interesses políticos. De que forma esses novos protagonistas modificam a lógica da guerra ideológica dos anos 1960 e 1970? Há um problema que está na própria questão das narrativas. Parece que, hoje, especialmente nesse circuito dos influenciadores digitais, dos debates na internet, só se fala em narrativas.
Desse ponto de vista, só existem versões, não existe mais a efetiva busca por uma verdade objetiva, ainda que ela seja difícil de ser alcançada. É como se não importassem mais a verdade, a busca da verdade, a ciência. O que importam são apenas as narrativas, importa armar o debate para justificar certas ações ou maneiras de ver o mundo.
Nosso trabalho na universidade é mais que nunca essencial, porque vamos na contramão disso: buscamos a objetividade científica e a compreensão e a explicação dos fenômenos.
Justamente por isso, a universidade está sendo detonada por setores da sociedade para os quais interessa manter a ideia de que a própria análise científica é simplesmente uma narrativa, que você substitui por outra como troca de roupa, de acordo com os interesses. Isso é extremamente nocivo. É essencial que se busque o esclarecimento, que as pessoas consigam ver as coisas não pelo viés tendencioso das narrativas.
Na nova polêmica do showbiz, temos, de um lado, artistas pró-Lula, como Anitta e Daniela Mercury, defendendo a Lei Rouanet, e, de outro, cantores sertanejos, como Gusttavo Lima, alinhados a Bolsonaro, que a condenam —falam em "uso do dinheiro do povo" enquanto cobram cachês milionários de prefeituras. Como vê esse novo embate? A Lei Rouanet envolve incentivos fiscais a empresas e cidadãos que passam a ter direito de abater parte de seu imposto de renda se investem em ações culturais que eles mesmos escolhem entre os projetos selecionados pelo Ministério da Cultura.
Esse sistema favorece iniciativas com maior apelo comercial, mas bem ou mal há regras públicas de seleção para liberar os projetos considerados aptos para captar no mercado os recursos da lei. Nos meios culturais, muitos reconhecem que a situação é problemática com a lei, mas ficaria pior sem ela, caso não se elabore uma alternativa mais adequada de financiamento público para atividades culturais.
Agora, é muito cinismo criticar a lei e usufruir de financiamentos milionários diretos de prefeituras, que escolhem a seu bel-prazer, por critérios políticos e ideológicos, quem será financiado. Esse é mais um exemplo da regressão civilizacional que vivemos hoje no Brasil, em que o império do favor se impõe sobre o primado das regras socialmente pactuadas.
O combate a essa regressão leva muitos que sempre criticaram essa lei, devido a seu caráter privatizante, a defendê-la. Afinal de contas, é melhor ter uma regra válida para todos que garanta alguma autonomia aos artistas que o domínio da arbitrariedade, que os coloca totalmente à mercê dos donos do poder.
MARCELO RIDENTI, 63
Professor titular do Departamento de Sociologia da Unicamp. Foi professor visitante das universidades Columbia e Sorbonne Nouvelle. Autor, entre outros livros, de "Em Busca do Povo Brasileiro: Artistas da Revolução, do CPC à Era da TV", "O Fantasma da Revolução Brasileira" e "Brasilidade Revolucionária: um Século de Cultura e Política".
O SEGREDO DAS SENHORAS AMERICANAS: INTELECTUAIS, INTERNACIONALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO NA GUERRA FRIA CULTURAL
Preço R$ 89 (421 págs.) Autor Marcelo Ridenti Editora Unesp
Ilustrações de André Stefanini, artista gráfico e ilustrador.
Isso vale para pensarmos hoje. Evidentemente, há financiamentos internacionais que não conhecemos bem e é importante descobrir quais são, mas é preciso analisar, desvendar cada processo político e cada tipo de atuação ligado aos financiamentos
Nas minhas pesquisas, tento questionar uma certa simplificação na análise da ação intelectual, política e social. Dentro das pressões e dos limites que cada contexto impõe, cada um atua como pode. Um artista ou um intelectual não tem o domínio de todas as regras do jogo, muitas vezes não sabe quem financia esta ou aquela iniciativa, mas pode saber qual é o próprio projeto, como vai jogar, que livro vai escrever, em que jornal vai publicar o que pensa. Você está dentro de um sistema do qual dificilmente escapa; se não jogar, estará à margem do jogo, o que dificulta até a possibilidade de contestá-lo.
Sua pesquisa aponta para o erro de simplificar biografias, taxando artistas e intelectuais com selos. O sr. aborda o caso de Nélida Piñon, que fez parte da revista Cadernos Brasileiros, patrocinada secretamente pelos EUA, mas teve interlocução com instituições cubanas. Fala da presença dos professores Dalmo Dallari e Paul Singer no programa norte-americano para estudantes brasileiros, ressaltando as diferentes visões que eles tinham dos propósitos da iniciativa. Julgamentos morais, portanto, seriam inadequados. Hoje, tempos de cancelamento, o que mais se faz é colocar selos nas pessoas. Quão nocivo é isso? Isso é profundamente lamentável. Você só avança no conhecimento e no debate democrático se reconhecer o outro e não simplesmente o cancelando e fazendo de conta que o mundo é só sua bolha de perfeição.
Temos que ouvir o outro, compreender o outro e até lutar contra o outro. Isso é diferente de cancelar, de fazer de conta que não existe, estigmatizar e tratar as pessoas por rótulos. É fundamental pensarmos em como avançar como uma sociedade democrática, que tenha diferenças, lutas, mas com respeito ao outro.
Tem uma metáfora que o [sociólogo] Chico de Oliveira usava, a de que a sociedade brasileira às vezes é um jogo de damas, em que você simplesmente come as outras peças e liquida o adversário. Talvez devêssemos jogar xadrez, em que cada peça tem a sua característica e temos que ver o outro para pensar como nos posicionar.
É preciso, no caso das forças democráticas, pensar mais no que nos une que no que nos separa. O que nos une é a preservação do livre debate de ideias e da democracia. É o que se coloca hoje no Brasil, e nós não vamos conseguir isso com o cancelamento.
O sr. cita no livro a ótica do sociólogo inglês Raymond Williams de compreender a cultura não como fenômeno secundário, mas constituinte da estruturação da sociedade. A partir dessa ideia e de sua pesquisa, que reflexões podem ser feitas sobre artistas e intelectuais na atualidade? Raymond Williams tentava ver os aspectos econômicos, culturais, políticos e sociais de uma maneira muito imbricada. Ao mesmo tempo, apontava que as determinações sociais impõem limites e exercem pressões sobre nossas ações. No entanto, não impossibilitam algum modo de expressão crítica de indivíduos ou grupos.
No meu livro, tratei de ver como, diante das constrições sociais, dos limites e das pressões exercidos durante a Guerra Fria, vimos surgir movimentos e ideias com relativa autonomia. Por exemplo, pensando no Jorge Amado e no Pablo Neruda, que estavam do lado soviético, ou naqueles que organizaram a revista Cadernos Brasileiros, que, em teoria, estariam do lado ocidental, contra os comunistas, ficou claro que intelectuais e artistas não foram simplesmente peças manipuladas nesses embates, mas, de alguma maneira, também ajudaram a construir o cenário, negociando, às vezes, até com os dois lados.
Essa ideia vale para aquele tempo e para hoje. Vivemos em um mundo cada vez mais mercantilizado e submetido a uma lógica capitalista internacional. Assistimos à volta de autoritarismos pululando, inclusive na Europa e com forte apelo eleitoral, o que é mais dramático.
Devemos refletir sobre como, diante dessas constrições, nós —artistas, intelectuais, as pessoas que atuam no âmbito da cultura— podemos nos colocar para criar alternativas que nos façam escapar da barbárie que se anuncia.
Que aspectos culturais no Brasil poderiam ser destacados para pensar a gravidade do momento político atual? No Brasil, existe uma tradição de cultura política que muitos chamariam de conciliadora ou de uma espécie de acomodação das forças sociais e, particularmente, das elites e daqueles que pensam a sociedade.
Essa tradição de dificuldade de ruptura vem de longe. Você passa do Brasil Colônia para independente com dom Pedro. Depois, a passagem do Império para a República também é uma transição negociada. Até a própria redemocratização, no fim da ditadura militar, foi transada pelo Tancredo Neves, que simbolizou, naquele momento, uma espécie de pacto de não ruptura e, ao mesmo tempo, de alguma mudança.
Quem está tentando encarnar isso hoje é o Lula, que, por exemplo, abriu a vice-presidência para o Alckmin. É uma tradição de conciliação da sociedade brasileira, normalmente feita a partir de cima, das elites. De alguma maneira, o Lula tenta fazer isso incorporando também os trabalhadores.
Essa tradição é confrontada por um risco grande colocado por outra tradição da sociedade brasileira, extremamente autoritária, que vem desde o escravismo e que tenta resolver as questões por intermédio da violência, não do debate, do convencimento ou dos acertos. Essa tradição é representada com força pelo bolsonarismo.
O sr. tem uma ampla pesquisa sobre a hegemonia da esquerda na cultura brasileira dos anos 1960 e 1970. Nesse novo livro, mostra de que maneira a teia de apoios que existia no Brasil entre os comunistas estava ligada a uma rede internacional financiada pelos soviéticos. Após o fim da ditadura militar, o que aconteceu com essa hegemonia de esquerda? Hoje, diante das ameaças de Bolsonaro contra a democracia, essa força da esquerda na cultura foi resgatada? Roberto Schwarz tem um estudo conhecido do final dos anos 1960, em que fala dessa relativa hegemonia de esquerda. Ele aponta que era relativa porque só vigorava nos circuitos mais fechados, dos próprios grupos de intelectuais, e que, para a população, o que existia era uma cultura de massa, da indústria cultural que começava a se estabelecer.
Naquele tempo, havia uma tentativa de articular uma maneira diferente de organizar a vida social e cultural, um projeto que se chamou de revolução brasileira, fosse ela nacional-democrática ou socialista. Esse imaginário praticamente desapareceu: se diluiu e se mantém apenas residualmente, em alguns grupos.
Isso não quer dizer que, dentro dos setores predominantes à esquerda, não haja desenvolvimento de ideias críticas, mas elas vão em outro sentido. Os movimentos mais fortes hoje são os de mulheres e os de negros, que reivindicam seu lugar mais proeminente na sociedade brasileira, que os colocou em posições subalternas.
No entanto, não há nesses movimentos, a não ser residualmente, uma crítica ao próprio sistema, à organização da sociedade do ponto de vista econômico. Não há uma contestação clara do capitalismo. É um equívoco imaginar que a esquerda contra o sistema domina o debate cultural e político no Brasil, mas se colocam questões que incomodam muito os setores conservadores: questões de comportamento, de raça, de gênero, de sexualidade.
Essas questões estão inseridas mesmo na indústria cultural. As novelas, por exemplo, se abrem mais a atores não brancos, e mulheres estão conseguindo mais espaços em diferentes áreas. Isso é ótimo. Ainda assim, não é algo contra o sistema. Ao contrário, é uma busca por incorporar, dentro da ordem capitalista, contestações a ela.
Apesar disso, há setores das classes dominantes extremamente conservadores que têm uma dificuldade enorme de aceitar esse projeto de inclusão, mesmo que dentro da ordem, de setores não brancos, não masculinos, não heterossexuais ou mesmo das classes trabalhadoras. É aquela mentalidade escravocrata, tradicional no Brasil.
Há um embate hoje, mas, diferentemente dos anos 1960, o que está em jogo não é o sistema, mas o caminho a ser tomado dentro dele, e isso é muito evidente nas próximas eleições: o caminho de alguma mudança dentro da ordem, no sentido de ser mais inclusiva, ou o caminho do outro projeto, de avanço do que há de mais autoritário na sociedade brasileira.
Por mais que seja um cenário diferente, ainda se fala de ameaça do comunismo e da infiltração comunista nas artes e na educação, como se estivéssemos nos anos 1960. Por que qualquer discussão hoje, como sobre cotas ou feminismo, é pretexto para resgatar o fantasma comunista? Não gosto desse termo da infiltração comunista nem para pensarmos os anos 1960, porque remete a algo que seria exterior, que você enfia como uma injeção.
Vamos pensar em Dias Gomes, por exemplo. Ele era inteiramente enfronhado na cultura brasileira, atuante no rádio e na TV. Não foi alguém que o Partido Comunista implantou ali para colocar ideias que vieram de Moscou. Era um homem que nasceu das lutas e contradições da sociedade brasileira.
O que havia na época era um setor que se expressou e foi ligado ao Partido Comunista ou a outros grupos de esquerda, mas a tradição anticomunista é muito forte no Brasil. Na época da eleição do Collor contra o Lula, em 1989, aparecia a bandeira do Brasil ficando vermelha.
Esse discurso de salvar o Brasil do perigo comunista reaparece em vários momentos da história, sempre que os setores conservadores se sentem ameaçados. É um fantasma construído. Tem gente agora que acusa o Alckmin de estar se vendendo para o comunismo porque vai ser vice do Lula, como se o Lula fosse comunista.
"Tudo o que é diferente de nós", pensam os conservadores, do imaginário da família brasileira, da tradição, da grande propriedade de terra, levanta o fantasma do comunismo. É algo primário, mas que tem força na sociedade, porque recupera o medo que as pessoas têm de mudanças.
Na disputa por ideias e narrativas hoje, temos os influenciadores digitais, sejam eles militantes voluntários ou patrocinados por interesses políticos. De que forma esses novos protagonistas modificam a lógica da guerra ideológica dos anos 1960 e 1970? Há um problema que está na própria questão das narrativas. Parece que, hoje, especialmente nesse circuito dos influenciadores digitais, dos debates na internet, só se fala em narrativas.
Desse ponto de vista, só existem versões, não existe mais a efetiva busca por uma verdade objetiva, ainda que ela seja difícil de ser alcançada. É como se não importassem mais a verdade, a busca da verdade, a ciência. O que importam são apenas as narrativas, importa armar o debate para justificar certas ações ou maneiras de ver o mundo.
Nosso trabalho na universidade é mais que nunca essencial, porque vamos na contramão disso: buscamos a objetividade científica e a compreensão e a explicação dos fenômenos.
Justamente por isso, a universidade está sendo detonada por setores da sociedade para os quais interessa manter a ideia de que a própria análise científica é simplesmente uma narrativa, que você substitui por outra como troca de roupa, de acordo com os interesses. Isso é extremamente nocivo. É essencial que se busque o esclarecimento, que as pessoas consigam ver as coisas não pelo viés tendencioso das narrativas.
Na nova polêmica do showbiz, temos, de um lado, artistas pró-Lula, como Anitta e Daniela Mercury, defendendo a Lei Rouanet, e, de outro, cantores sertanejos, como Gusttavo Lima, alinhados a Bolsonaro, que a condenam —falam em "uso do dinheiro do povo" enquanto cobram cachês milionários de prefeituras. Como vê esse novo embate? A Lei Rouanet envolve incentivos fiscais a empresas e cidadãos que passam a ter direito de abater parte de seu imposto de renda se investem em ações culturais que eles mesmos escolhem entre os projetos selecionados pelo Ministério da Cultura.
Esse sistema favorece iniciativas com maior apelo comercial, mas bem ou mal há regras públicas de seleção para liberar os projetos considerados aptos para captar no mercado os recursos da lei. Nos meios culturais, muitos reconhecem que a situação é problemática com a lei, mas ficaria pior sem ela, caso não se elabore uma alternativa mais adequada de financiamento público para atividades culturais.
Agora, é muito cinismo criticar a lei e usufruir de financiamentos milionários diretos de prefeituras, que escolhem a seu bel-prazer, por critérios políticos e ideológicos, quem será financiado. Esse é mais um exemplo da regressão civilizacional que vivemos hoje no Brasil, em que o império do favor se impõe sobre o primado das regras socialmente pactuadas.
O combate a essa regressão leva muitos que sempre criticaram essa lei, devido a seu caráter privatizante, a defendê-la. Afinal de contas, é melhor ter uma regra válida para todos que garanta alguma autonomia aos artistas que o domínio da arbitrariedade, que os coloca totalmente à mercê dos donos do poder.
MARCELO RIDENTI, 63
Professor titular do Departamento de Sociologia da Unicamp. Foi professor visitante das universidades Columbia e Sorbonne Nouvelle. Autor, entre outros livros, de "Em Busca do Povo Brasileiro: Artistas da Revolução, do CPC à Era da TV", "O Fantasma da Revolução Brasileira" e "Brasilidade Revolucionária: um Século de Cultura e Política".
O SEGREDO DAS SENHORAS AMERICANAS: INTELECTUAIS, INTERNACIONALIZAÇÃO E FINANCIAMENTO NA GUERRA FRIA CULTURAL
Preço R$ 89 (421 págs.) Autor Marcelo Ridenti Editora Unesp
Ilustrações de André Stefanini, artista gráfico e ilustrador.




Nenhum comentário:
Postar um comentário