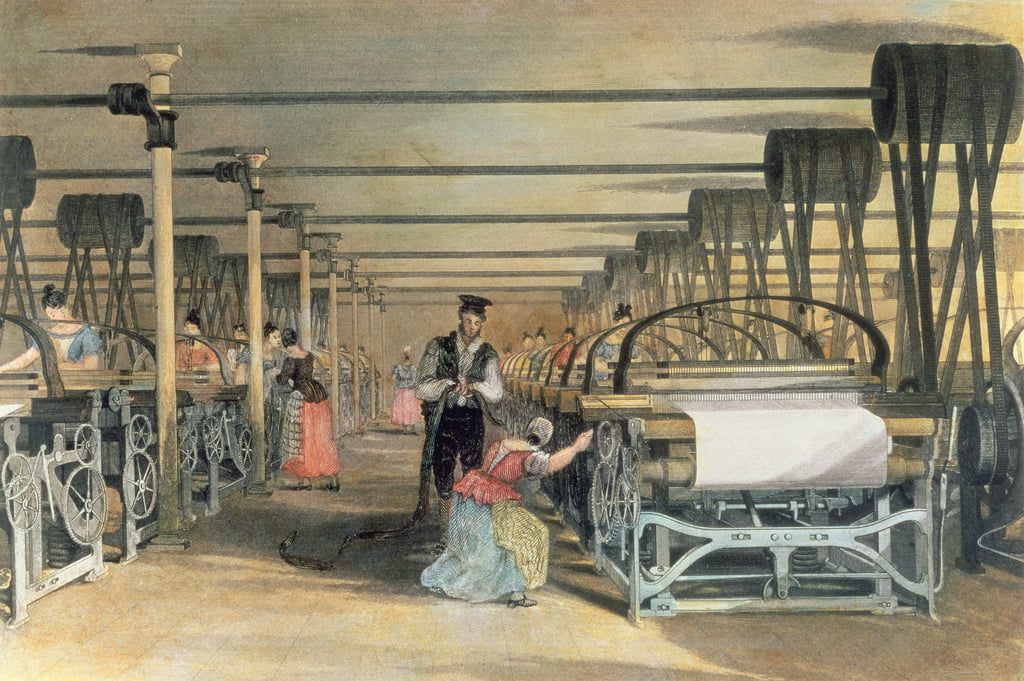Quase todos os assassinos envolvidos no assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse eram colombianos. Isso não é coincidência: se você quiser mercenários de aluguel barato, muitas vezes treinados pelos militares dos EUA, pode encontrá-los de sobra na Colômbia.
A vice presidente de direita da Colômbia Marta Lucía Ramírez, recentemente reclamou que a “Colômbia não deveria estar chegando às manchetes internacionais por causa de um bando de criminosos e assassinos de aluguel”. Ela estava se referindo à recentes revelações que, dos 28 assassinos diretamente envolvidos no assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse, 26 eram colombianos – um produto da próspera indústria de assassinos mercenários patrocinada pelo Estado.
O exército da Colômbia é treinado pelos melhores militares das Forças Armadas dos Estados Unidos e frequentemente é contratado para proteger a propriedade privada de empresas multinacionais, conduzir missões de contra insurgência e executar operações com alvos de alto valor [high-value-target operations]. Quando se trata do mercado internacional de mercenários, estas vantagens comparativas dão aos colombianos a dianteira.
Como no caso do assassinato do presidente haitiano, muitos mercenários colombianos – por vezes chamados de “paramilitares,” “soldados privados” ou “contractors de segurança” – são membros aposentados das Forças Armadas da Colômbia, testados nas batalhas em ambientes de difícil combate, como em selvas para lutar contra rebeldes e ex-membros de grupos de extermínio da direita paramilitar. Não são só altamente treinados em técnicas de assassinato e possuem prática em terrenos difíceis, como também são tipicamente muito mais baratos do que seus concorrentes em outros países.
Dos 26 colombianos identificados como envolvidos no assassinato do presidente haitiano, ao menos 13 eram ex-soldados colombianos e 2 foram investigados por envolvimento em crimes de guerra. Ao menos 7 dos mercenários colombianos envolvidos no assassinato no Haiti receberam diretamente treinamento dos EUA, apesar do Departamento de Estado dos EUA, como de costume, se responder de forma ambígua sobre o que exatamente lhes foi ensinado. Muitos possuem laços com agências de inteligência dos EUA, com ao menos um deles intimamente associado com o DEA [Drug Enforcement Administration]. Um dos mercenários capturados, Manuel Antonio Grosso Guarín, até dois anos atrás era soldado colombiano, especialista em operações especiais e encarregado de conduzir operações de alto custo estratégico, incluindo assassinatos.
A empresa que recrutou os mercenários colombianos, a CTU Security, sediada em Miami, é de um empresário venezuelano, Tony Intriago, que desfruta de conexões com o presidente de direita da Colombia, Iván Duque. Intriago ajudou a organizar o “Aid Concert” em fevereiro de 2019, em Cúcuta, na fronteira entre Venezuela e Colômbia, que buscava debilitar o governo venezuelano.
Está confirmado que mercenários colombianos estiveram diretamente envolvidos em operações no Iraque, Afeganistão e Venezuela. Dezenas de empresas de mercenários sediadas na Colômbia foram contratadas pela Arábia Saudita para lutar no Iêmen. Mercenários colombianos também foram exportados para Honduras para defender os interesses de propriedade privada e depois se descobriu sobre seu envolvimento no golpe de 2009 contra Manuel Zelaya. Dos US$ 3,1 bilhões que os Estados Unidos gastou entre 2005 e 2009 em operações de contra insurgência e antinarcóticos executadas por empresas privadas, as principais beneficiadas foram empresas colombianas. Se você precisa de mercenários para fazer seu trabalho sujo, particularmente de tendência reacionária, os colombianos são um bom investimento.
A privatização da guerra
Em maio, Jesús Santrich, um líder das FARC considerado o insurgente mais carismático da Colômbia, foi assassinado em território venezuelano por forças oficiais colombianas ou por mercenários contratados pelo Estado. Santrich tinha um prêmio de US$ 10milhões por sua cabeça, assim como uma recompensa ofertada pelo Estado colombiano. Anunciando a morte de Santrich no aplicativo de mensagens Telegram, as FARC soltaram uma foto da mão ensanguentada de Santrich, com seu dedo mindinho amputado – sugerindo que ele provavelmente fora assassinado por mercenários que buscavam coletar uma recompensa em troca do dedo do guerrilheiro.
Em relação ao assassinato de Santrich, um ex-oficial militar colombiano que se tornou mercenário, explicou que mesmo antes do anúncio pelas FARC–Segunda Marquetalia (um grupo de lutadores das FARC que recusaram o desarmamento após os acordos de paz da Colômbia em 2016), suas fontes nas Forças Armadas Nacionais já haviam confirmado à ele pessoalmente que Santrich tinha sido assassinado. Ainda que o mercenário colombiano não soubesse com certeza quem exatamente estava por trás do assassinato, uma explicação plausível era que mercenários conduziram o assassinato para coletar a recompensa pela cabeça de Santrich – cujas cifras do prêmio eram altas até mesmo para mercenários.
Isso confirma que militares colombianos e atores mercenários desfrutam de uma forte e atual relação, ao passo que o uso de mercenários no contexto de conflito armado é facilitado por apoio estatal e colaborações com forças mercenárias.
O fato de mercenários terem sido novamente empregados na Venezuela recentemente também não foi nenhuma surpresa. Mercenários colombianos são usados há tempos em território venezuelano, no esforço para enfraquecer os governos Chávez e Maduro. Em 2004, um grupo de 153 paramilitares colombianos foi preso em uma operação, acusados de planejar o assassinato de Hugo Chávez.
Assim como a empresa sediada em Miami que contratou os mercenários colombianos para a operação no Haiti, outra empresa sediada em Miami, a Silvercorp, fora utilizada na tentativa de assassinato do presidente venezuelano Nicolás Maduro, em 2020. Para esta operação fracassada, apelidada de Operação Gedeon, o território colombiano foi usado como base de operações e rota preparatória em toda sua execução. Situada no norte do país, onde paramilitares patrocinados pelo Estado são fortes, estes mercenários posicionaram seus campos de treinamento próximo às bases militares da Colômbia e EUA, e então lançaram sua operação usando pistas de voo, rios e áreas costeiras colombianas.
Tendo observado e entrevistado rebeldes colombianos em seus territórios localizados no interior e nas montanhas, eu acho inconcebível que um grupo armado tenha conseguido criar campos de treinamento de mercenários por um longo período de tempo e ainda planeja o assassinato de um presidente estrangeiro, com apoio ou permissividade de instituições estatais.
O motivo econômico
Oliver Dodd é jornalista e pesquisador PhD da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, que trabalha no conflito armado e nos processos de paz da Colômbia. Ele pode ser seguido no Twitter @Olivercdodd.
O exército da Colômbia é treinado pelos melhores militares das Forças Armadas dos Estados Unidos e frequentemente é contratado para proteger a propriedade privada de empresas multinacionais, conduzir missões de contra insurgência e executar operações com alvos de alto valor [high-value-target operations]. Quando se trata do mercado internacional de mercenários, estas vantagens comparativas dão aos colombianos a dianteira.
Como no caso do assassinato do presidente haitiano, muitos mercenários colombianos – por vezes chamados de “paramilitares,” “soldados privados” ou “contractors de segurança” – são membros aposentados das Forças Armadas da Colômbia, testados nas batalhas em ambientes de difícil combate, como em selvas para lutar contra rebeldes e ex-membros de grupos de extermínio da direita paramilitar. Não são só altamente treinados em técnicas de assassinato e possuem prática em terrenos difíceis, como também são tipicamente muito mais baratos do que seus concorrentes em outros países.
Dos 26 colombianos identificados como envolvidos no assassinato do presidente haitiano, ao menos 13 eram ex-soldados colombianos e 2 foram investigados por envolvimento em crimes de guerra. Ao menos 7 dos mercenários colombianos envolvidos no assassinato no Haiti receberam diretamente treinamento dos EUA, apesar do Departamento de Estado dos EUA, como de costume, se responder de forma ambígua sobre o que exatamente lhes foi ensinado. Muitos possuem laços com agências de inteligência dos EUA, com ao menos um deles intimamente associado com o DEA [Drug Enforcement Administration]. Um dos mercenários capturados, Manuel Antonio Grosso Guarín, até dois anos atrás era soldado colombiano, especialista em operações especiais e encarregado de conduzir operações de alto custo estratégico, incluindo assassinatos.
A empresa que recrutou os mercenários colombianos, a CTU Security, sediada em Miami, é de um empresário venezuelano, Tony Intriago, que desfruta de conexões com o presidente de direita da Colombia, Iván Duque. Intriago ajudou a organizar o “Aid Concert” em fevereiro de 2019, em Cúcuta, na fronteira entre Venezuela e Colômbia, que buscava debilitar o governo venezuelano.
Está confirmado que mercenários colombianos estiveram diretamente envolvidos em operações no Iraque, Afeganistão e Venezuela. Dezenas de empresas de mercenários sediadas na Colômbia foram contratadas pela Arábia Saudita para lutar no Iêmen. Mercenários colombianos também foram exportados para Honduras para defender os interesses de propriedade privada e depois se descobriu sobre seu envolvimento no golpe de 2009 contra Manuel Zelaya. Dos US$ 3,1 bilhões que os Estados Unidos gastou entre 2005 e 2009 em operações de contra insurgência e antinarcóticos executadas por empresas privadas, as principais beneficiadas foram empresas colombianas. Se você precisa de mercenários para fazer seu trabalho sujo, particularmente de tendência reacionária, os colombianos são um bom investimento.
A privatização da guerra
O mercado de mercenários passou a crescer com a guerra promovida pelo Estado colombiano contra insurgentes de esquerda e ativistas sociais, iniciada há meio século. Mas como foi revelado pelo assassinato no Haiti, o mercado por soldados mercenários com tropas especiais cresceu consideravelmente nos últimos anos. O comandante geral das Forças Armadas da Colômbia, Luis Fernando Navarro, disse à imprensa no dia seguinte ao assassinato de Moïse que “não há regras que impeçam [mercenários] de serem recrutados” no estrangeiro.
Encorajada pela doutrina de segurança nacional dos EUA de 2003, a Colômbia já legalizou e apoiou o desenvolvimento de tropas armadas não-estatais, geralmente controladas pelas elites econômicas como proprietários de terra, industriais e traficantes de drogas. A ascensão da indústria de mercenários da Colômbia coincidiu com a expansão das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) nos anos 1990, quando o governo legalizou e depois expandiu o sistema Convivir – uma reforma que sancionou a criação de forças mercenárias, controladas por elites econômicas e trabalhando em conjunto com autoridades do governo, militares e unidades de inteligência.
Paramilitares mercenários têm sido inclusive patrocinados por multinacionais, como a Chiquita (United Fruit Company), Drummond e Coca-Cola. Atualmente, mercenários estão envolvidos na proteção da acumulação de capital por todo o país, especialmente multinacionais de petróleo, gás e carvão.
É de conhecimento público que autoridades estatais colombianas mantêm fortes relações com grupos paramilitares mercenários. Milhares de policiais e militares colombianos, assim como 60 congressistas e 7 governadores, são conhecidos por terem apoiado entidades paramilitares de direita, e um manual secreto das Forças Especiais dos EUA vazado pelo Wikileaks em 2014, mostra o extenso apoio dos EUA à soldados mercenários de tropas especiais para condução de operações táticas e militares (somadas a outras táticas como censuras, psy-ops e o uso de recompensas como parte das “operações com alvos de alto valor”).
A difusão global de mercenários colombianos é parte de uma gradual privatização da guerra a nível internacional, no qual a Colômbia é líder mundial. Em 2014, havia cerca de 740 empresas de defesa no país, e em 2018 (seguido pelo acordo de paz de 2016), o mercado de defesa estava avaliado em US$ 11,1 bilhões e a estimativa é chegar a US$ 47,2 bilhões até 2024.
Junto com o apoio jurídico e logístico, o Estado colombiano intencionalmente alimentou uma crescente indústria de mercenários na Colômbia ao oferecer sistematicamente recompensas por líderes insurgentes. Aqueles viajando entre os territórios disputados em áreas de conflito são frequentemente recepcionados por soldados entregando panfletos com nomes e rostos de militantes suspeitos, junto com detalhes da recompensa por informações que levem à “neutralização” deles.
O uso de recompensas monetárias na guerra tem sido sistemática há anos, escalando sob a presidência do direitista Álvaro Uribe (2002-2010), que recrutou centenas de informantes pagos como parte de uma rede de inteligência controlada pelo Estado. Uribe, que é de uma rica família de proprietários e permanece o político mais influente da Colômbia, também foi um dos mais apaixonados defensores do uso de mercenários – todo seu governo apoiava esquadrões da morte paramilitares, envolvendo desde seus membros familiares até o chefe de inteligência, polícia e líderes militares.
Incentivos monetários de fato têm sido parte da estratégia militar do Estado há muito tempo. Em um trágico escândalo conhecido como “falsos positivos”, dinheiro e promoções de trabalho foram oferecidas a soldados e mercenários que alegavam ter matado rebeldes. Soldados são conhecidos por ocasionalmente contratar mercenários para estes “falsos-positivos”.
Encorajada pela doutrina de segurança nacional dos EUA de 2003, a Colômbia já legalizou e apoiou o desenvolvimento de tropas armadas não-estatais, geralmente controladas pelas elites econômicas como proprietários de terra, industriais e traficantes de drogas. A ascensão da indústria de mercenários da Colômbia coincidiu com a expansão das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) nos anos 1990, quando o governo legalizou e depois expandiu o sistema Convivir – uma reforma que sancionou a criação de forças mercenárias, controladas por elites econômicas e trabalhando em conjunto com autoridades do governo, militares e unidades de inteligência.
Paramilitares mercenários têm sido inclusive patrocinados por multinacionais, como a Chiquita (United Fruit Company), Drummond e Coca-Cola. Atualmente, mercenários estão envolvidos na proteção da acumulação de capital por todo o país, especialmente multinacionais de petróleo, gás e carvão.
É de conhecimento público que autoridades estatais colombianas mantêm fortes relações com grupos paramilitares mercenários. Milhares de policiais e militares colombianos, assim como 60 congressistas e 7 governadores, são conhecidos por terem apoiado entidades paramilitares de direita, e um manual secreto das Forças Especiais dos EUA vazado pelo Wikileaks em 2014, mostra o extenso apoio dos EUA à soldados mercenários de tropas especiais para condução de operações táticas e militares (somadas a outras táticas como censuras, psy-ops e o uso de recompensas como parte das “operações com alvos de alto valor”).
A difusão global de mercenários colombianos é parte de uma gradual privatização da guerra a nível internacional, no qual a Colômbia é líder mundial. Em 2014, havia cerca de 740 empresas de defesa no país, e em 2018 (seguido pelo acordo de paz de 2016), o mercado de defesa estava avaliado em US$ 11,1 bilhões e a estimativa é chegar a US$ 47,2 bilhões até 2024.
Junto com o apoio jurídico e logístico, o Estado colombiano intencionalmente alimentou uma crescente indústria de mercenários na Colômbia ao oferecer sistematicamente recompensas por líderes insurgentes. Aqueles viajando entre os territórios disputados em áreas de conflito são frequentemente recepcionados por soldados entregando panfletos com nomes e rostos de militantes suspeitos, junto com detalhes da recompensa por informações que levem à “neutralização” deles.
O uso de recompensas monetárias na guerra tem sido sistemática há anos, escalando sob a presidência do direitista Álvaro Uribe (2002-2010), que recrutou centenas de informantes pagos como parte de uma rede de inteligência controlada pelo Estado. Uribe, que é de uma rica família de proprietários e permanece o político mais influente da Colômbia, também foi um dos mais apaixonados defensores do uso de mercenários – todo seu governo apoiava esquadrões da morte paramilitares, envolvendo desde seus membros familiares até o chefe de inteligência, polícia e líderes militares.
Incentivos monetários de fato têm sido parte da estratégia militar do Estado há muito tempo. Em um trágico escândalo conhecido como “falsos positivos”, dinheiro e promoções de trabalho foram oferecidas a soldados e mercenários que alegavam ter matado rebeldes. Soldados são conhecidos por ocasionalmente contratar mercenários para estes “falsos-positivos”.
A ênfase em oferecer recompensas monetárias para elevar a contagem de mortes, levou a uma cultura de abuso dos militares no país. Cerca de 6.400 civis foram taxados como guerrilheiros e falsamente acusados de serem insurgentes comunistas por soldados que buscavam ganhar dinheiro no sistema de recompensas, de acordo com a Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) da Colômbia. Pelo menos dois mercenários envolvidos no assassinato do presidente do Haiti, acredita-se terem envolvimento no escândalo do falso positivo como ex-soldados militares.
Colaboração contínua
Colaboração contínua
Em maio, Jesús Santrich, um líder das FARC considerado o insurgente mais carismático da Colômbia, foi assassinado em território venezuelano por forças oficiais colombianas ou por mercenários contratados pelo Estado. Santrich tinha um prêmio de US$ 10milhões por sua cabeça, assim como uma recompensa ofertada pelo Estado colombiano. Anunciando a morte de Santrich no aplicativo de mensagens Telegram, as FARC soltaram uma foto da mão ensanguentada de Santrich, com seu dedo mindinho amputado – sugerindo que ele provavelmente fora assassinado por mercenários que buscavam coletar uma recompensa em troca do dedo do guerrilheiro.
Em relação ao assassinato de Santrich, um ex-oficial militar colombiano que se tornou mercenário, explicou que mesmo antes do anúncio pelas FARC–Segunda Marquetalia (um grupo de lutadores das FARC que recusaram o desarmamento após os acordos de paz da Colômbia em 2016), suas fontes nas Forças Armadas Nacionais já haviam confirmado à ele pessoalmente que Santrich tinha sido assassinado. Ainda que o mercenário colombiano não soubesse com certeza quem exatamente estava por trás do assassinato, uma explicação plausível era que mercenários conduziram o assassinato para coletar a recompensa pela cabeça de Santrich – cujas cifras do prêmio eram altas até mesmo para mercenários.
Isso confirma que militares colombianos e atores mercenários desfrutam de uma forte e atual relação, ao passo que o uso de mercenários no contexto de conflito armado é facilitado por apoio estatal e colaborações com forças mercenárias.
O fato de mercenários terem sido novamente empregados na Venezuela recentemente também não foi nenhuma surpresa. Mercenários colombianos são usados há tempos em território venezuelano, no esforço para enfraquecer os governos Chávez e Maduro. Em 2004, um grupo de 153 paramilitares colombianos foi preso em uma operação, acusados de planejar o assassinato de Hugo Chávez.
Assim como a empresa sediada em Miami que contratou os mercenários colombianos para a operação no Haiti, outra empresa sediada em Miami, a Silvercorp, fora utilizada na tentativa de assassinato do presidente venezuelano Nicolás Maduro, em 2020. Para esta operação fracassada, apelidada de Operação Gedeon, o território colombiano foi usado como base de operações e rota preparatória em toda sua execução. Situada no norte do país, onde paramilitares patrocinados pelo Estado são fortes, estes mercenários posicionaram seus campos de treinamento próximo às bases militares da Colômbia e EUA, e então lançaram sua operação usando pistas de voo, rios e áreas costeiras colombianas.
Tendo observado e entrevistado rebeldes colombianos em seus territórios localizados no interior e nas montanhas, eu acho inconcebível que um grupo armado tenha conseguido criar campos de treinamento de mercenários por um longo período de tempo e ainda planeja o assassinato de um presidente estrangeiro, com apoio ou permissividade de instituições estatais.
O motivo econômico
A Colômbia foi internacionalmente condenada após invadir o território equatoriano em 2008 para assassinar Raúl Reyes, líder das FARC (uma operação na qual um dos mercenários no Haiti esteve envolvido). Buscando evitar mais reações adversas decorrentes dessas intervenções militares diretas, a Colômbia, desde então, tendeu – como no assassinato de Santrich – a confiar no uso de mercenários como representantes para dar às operações militares um manto mais plausível.
Ex-militares colombianos não são só contratados como mercenários devido ao extenso treinamento e experiência em combate – também há motivações econômicas subjacentes. O recrutamento forçado de colombianos pobres e uma força militar ativa com cerca de 300 mil pessoas cria uma reserva constante de soldados aposentados desesperados lutando para encontrar emprego, com pouca ou nenhuma habilidade transferível na precária economia colombiana (quase metade da força de trabalho colombiana está na informalidade). Entre 10 e 15 mil pessoas do efetivo militar se aposentam todos os anos, tornando estes veteranos “um mundo que é difícil de controlar”, de acordo com o Coronel John Marulanda, presidente de uma associação colombiana para militares aposentados.
Com salários de cerca de US$ 200 por mês, soldados colombianos podem ganhar muito mais como mercenários no setor privado, ao passo em que o desespero por veteranos colombianos altamente treinados permite que as empresas cortem os salários de mercenários com treinamento similar em lugares como os Estados Unidos. De acordo com o New York Times, empresas militares privadas miram explicitamente ex-soldados na Colômbia, e as “grandes oportunidades, com bons salários e seguros, chamou a atenção de nossos melhores soldados”, encorajando muitos a sair das Forças Armadas, de acordo com Jaime Ruiz, o presidente da Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares.
Com soldados colombianos sendo frequentemente contratados para proteger propriedades privadas como parte de suas responsabilidades oficiais, soldados aposentados também já têm a vantagem de terem trabalhado com empresas privadas e os tipos de interesse que constituem o setor militar privado. Grupamentos táticos tem sido exclusivamente projetados e dedicados à proteção de multinacionais de petróleo e carvão, e oficiais de alta patente chefiando tais operações têm sido formalmente acusados de encomendar assassinatos com mercenários paramilitares, com algumas das acusações vindas até de militares de carreira bem estabelecidos.
As fortes relações também continuam existindo entre corporações, associações empresariais e o Ministério de Defesa Nacional, como entrevistas com líderes corporativos demonstraram. Por exemplo, ao trabalhar com as empresas de ônibus da Colômbia, o Exército Nacional pode identificar onde todos estão viajando pelo país e a localização e período de embarque e desembarque, forçando guerrilhas urbanas a viajarem sob identidades falsas.
Podem ter sido mercenários colombianos, e não o Estado colombiano, que estiveram diretamente envolvidos no assassinato do presidente haitiano. Mas o desenvolvimento da indústria de mercenários do país só pode ser compreendida como intimamente associada ao histórico estatal de apoio político a atores paramilitares e mercenários. O assassinato do presidente do Haiti é inseparável de uma história muito mais profunda da privatização da guerra na Colômbia. No Haiti e ao redor do mundo, nós agora vemos os frutos amargos dessa exportação patrocinada pelo Estado.
Sobre o autor
Ex-militares colombianos não são só contratados como mercenários devido ao extenso treinamento e experiência em combate – também há motivações econômicas subjacentes. O recrutamento forçado de colombianos pobres e uma força militar ativa com cerca de 300 mil pessoas cria uma reserva constante de soldados aposentados desesperados lutando para encontrar emprego, com pouca ou nenhuma habilidade transferível na precária economia colombiana (quase metade da força de trabalho colombiana está na informalidade). Entre 10 e 15 mil pessoas do efetivo militar se aposentam todos os anos, tornando estes veteranos “um mundo que é difícil de controlar”, de acordo com o Coronel John Marulanda, presidente de uma associação colombiana para militares aposentados.
Com salários de cerca de US$ 200 por mês, soldados colombianos podem ganhar muito mais como mercenários no setor privado, ao passo em que o desespero por veteranos colombianos altamente treinados permite que as empresas cortem os salários de mercenários com treinamento similar em lugares como os Estados Unidos. De acordo com o New York Times, empresas militares privadas miram explicitamente ex-soldados na Colômbia, e as “grandes oportunidades, com bons salários e seguros, chamou a atenção de nossos melhores soldados”, encorajando muitos a sair das Forças Armadas, de acordo com Jaime Ruiz, o presidente da Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares.
Com soldados colombianos sendo frequentemente contratados para proteger propriedades privadas como parte de suas responsabilidades oficiais, soldados aposentados também já têm a vantagem de terem trabalhado com empresas privadas e os tipos de interesse que constituem o setor militar privado. Grupamentos táticos tem sido exclusivamente projetados e dedicados à proteção de multinacionais de petróleo e carvão, e oficiais de alta patente chefiando tais operações têm sido formalmente acusados de encomendar assassinatos com mercenários paramilitares, com algumas das acusações vindas até de militares de carreira bem estabelecidos.
As fortes relações também continuam existindo entre corporações, associações empresariais e o Ministério de Defesa Nacional, como entrevistas com líderes corporativos demonstraram. Por exemplo, ao trabalhar com as empresas de ônibus da Colômbia, o Exército Nacional pode identificar onde todos estão viajando pelo país e a localização e período de embarque e desembarque, forçando guerrilhas urbanas a viajarem sob identidades falsas.
Podem ter sido mercenários colombianos, e não o Estado colombiano, que estiveram diretamente envolvidos no assassinato do presidente haitiano. Mas o desenvolvimento da indústria de mercenários do país só pode ser compreendida como intimamente associada ao histórico estatal de apoio político a atores paramilitares e mercenários. O assassinato do presidente do Haiti é inseparável de uma história muito mais profunda da privatização da guerra na Colômbia. No Haiti e ao redor do mundo, nós agora vemos os frutos amargos dessa exportação patrocinada pelo Estado.
Sobre o autor
Oliver Dodd é jornalista e pesquisador PhD da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, que trabalha no conflito armado e nos processos de paz da Colômbia. Ele pode ser seguido no Twitter @Olivercdodd.