Judith Butler
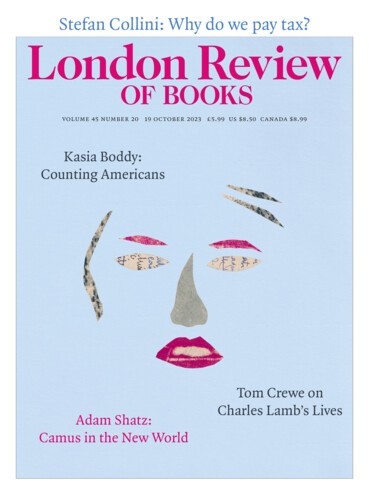 |
Vol. 45 No. 20 · 19 October 2023 |
Tradução / As questões que mais necessitam de um debate público, aquelas que devem ser discutidas na maior urgência, são difíceis de abordar a partir dos enquadramentos existentes. E mesmo quando se deseja ir diretamente ao coração do problema, enfrenta-se esse enquadramento, o que faz com que seja quase impossível dizer o que se tem a dizer. Quero aqui falar da violência, da violência do presente, e da história da violência, sob todas as suas formas. Mas querer documentar a violência, ou seja, compreender os assassinatos e bombardeios massivos cometidos pelo Hamas em Israel, e que se inscrevem nessa história, significa ser acusado de “relativismo” ou de “contextualização”. Pedem que condenemos ou aprovemos, o que é compreensível, mas, eticamente, essa é toda a exigência a qual devemos responder? Condeno as violências cometidas pelo Hamas, condeno sem a mínima reserva. O Hamas cometeu um massacre terrível e revoltante. Essa foi e ainda é minha primeira reação. Mas não foi a única.
Quase imediatamente, as pessoas querem saber de que “lado” você está e, claramente, a única resposta possível para tais assassinatos é uma condenação inequívoca. Mas por que, às vezes, temos a impressão de que questionar se usamos as palavras certas ou se temos uma boa compreensão da situação histórica poderia impedir uma condenação moral absoluta? Será que estamos de fato relativizando ao nos perguntarmos o que exatamente estamos condenando, qual o alcance dessa condenação, e qual a melhor descrição da formação — ou formações — política às quais nos opomos? Seria estranho nos opormos a alguma coisa sem compreendermos do que se trata, ou sem descrevê-la de modo preciso. Seria ainda especialmente estranho acreditar que a condenação exige uma recusa de compreender, por medo de que o conhecimento possa servir apenas para relativizar e para minar nossa capacidade de julgar. E se for um imperativo moral ampliar nossa condenação aos crimes, todos atrozes, que não se limitam a esses que são repetidamente destacados pela grande imprensa? Quando e onde começa e termina nossa condenação? Não seria necessário uma análise crítica e informada da situação, sem temer que o conhecimento nos transforme, aos olhos dos outros, em fracassos morais cúmplices de crimes horrendos?
Há quem se valha da história da violência israelense na região para eximir o Hamas, usando uma forma corrompida de racionalidade moral para fazer isso. Digamos claramente. As violências cometidas por Israel contra os palestinos são massivas: bombardeios incessantes, assassinatos de pessoas de todas as idades em suas casas e nas ruas, tortura nas prisões israelenses, técnicas de difamação em Gaza, expropriação radical e contínua das terras e dos domicílios. E, tais violências, sob todas as suas formas, são cometidas contra um povo submetido a um regime colonial e ao apartheid, e que, privado de Estado, é apátrida. No entanto, quando o Harvard Palestine Solidarity Groups [Grupo de Harvard de Solidariedade à Palestina] publica uma declaração dizendo que “o regime do apartheid é o único responsável” pelos ataques do Hamas contra os civis israelenses, eles cometem um erro. É errado atribuir responsabilidade dessa forma, e nada deve eximir o Hamas da responsabilidade pelos atrozes assassinatos que perpetrou. Ao mesmo tempo, o grupo de Harvard e seus integrantes não devem ser colocados em uma lista negra ou ameaçados. Eles estão certamente corretos quando apontam para a história da violência na região: “Da despossessão sistemática das terras aos ataques aéreos de rotinas, das prisões arbitrárias nos checkpoints militares à separação forçada das famílias provocada pelo assassinato dos civis, tudo isso faz com que os Palestinos sejam forçados a viver em um estado de morte, ao mesmo tempo lenta e súbita.”
Trata-se de uma descrição acurada, e tudo isso deve ser dito, mas não significa que a violência do Hamas é apenas a violência de Israel com outro nome. É verdade que devemos desenvolver algum entendimento sobre por que grupos como o Hamas ganharam força contra o pano de fundo das promessas rompidas desde Oslo e desse “estado de morte, ao mesmo tempo lenta e súbita” que tão bem descreve a existência de milhões de palestinos vivendo sob ocupação, seja a vigilância constante, seja a ameaça de prisão sem o devido processo legal, seja a intensificação do cerco a Gaza que priva seus habitantes de água, alimentação e medicamentos. No entanto, não alcançamos uma justificativa moral ou política para as ações do Hamas pela referência à sua história. Se nos pedirem para entender a violência palestina como uma continuação da violência israelense, como faz a Harvard Palestine Solidarity Committee, haveria apenas uma fonte de culpabilidade moral, e nem mesmo os palestinos seriam responsáveis por seus próprios atos violentos. Esse não é o caminho para reconhecer a autonomia das ações palestinas. A necessidade de separar e entender a violência generalizada e implacável do Estado israelense de qualquer justificativa para a violência é crucial se quisermos considerar quais são as outras maneiras de nos livrarmos do domínio colonial, interromper as prisões arbitrárias e a tortura nas prisões israelenses e pôr fim ao cerco a Gaza, onde a água e os alimentos são racionados pelo Estado-nação que controla suas fronteiras. Em outras palavras, a questão sobre que mundo ainda é possível para todos os habitantes da região depende de formas de erradicar o domínio colonial. O Hamas tem uma resposta terrível e brutal para essa questão, mas existem muitas outras. Se, no entanto, formos proibidos de nos referir à “ocupação” (como um tipo contemporâneo de Denkverbot),2 se formos incapazes de promover o debate sobre se o papel militar israelense na região é apartheid racial ou colonialismo, não temos a esperança de entender o passado, o presente ou o futuro. Muitas pessoas assistem à carnificina pela mídia e sentem-se sem esperança. Uma das razões pelas quais elas não têm esperança é justamente por estarem assistindo pela mídia, vivendo no mundo sensacionalista e transitório de uma indignação moral sem esperança. Uma moralidade política diferente leva tempo, requer um caminho paciente e corajoso de aprender e nomear, para que possamos acompanhar nossa condenação moral com uma visão moral.
Eu me oponho à violência que o Hamas inflige e sobre isso não tenho nenhum álibi a oferecer. Quando digo isso, estou tomando uma clara posição moral e política. Não estou equivocada quando reflito sobre o que essa condenação implica e pressupõe. Qualquer pessoa que se una a mim nessa condenação talvez queira perguntar se a condenação moral deve estar baseada em algum entendimento do que está sendo combatido. Há quem possa argumentar que não precisa saber nada sobre a Palestina ou sobre o Hamas para saber que o que eles fizeram é errado e para condená-los. E, se paramos por aí, confiando nas representações da mídia contemporânea, sem nunca perguntar se estão realmente corretas e se são úteis, se permitem que as histórias sejam contadas, aceitaremos uma certa ignorância confiando no enquadramento que nos é apresentado. Afinal, somos todos muito ocupados e nem todo mundo pode ser historiador/a ou sociólogo/a. Esse é um modo possível de pensar e de viver, e muitas pessoas bem-intencionadas vivem assim. Mas a que custo?
E se nossa posição moral e política não parasse na condenação? E se insistíssemos em perguntar que forma de vida poderia liberar a região de uma violência como a atual? E se, além de condenar crimes arbitrários, quiséssemos criar um futuro em que esse tipo de violência pudesse acabar? Essa aspiração normativa vai além da condenação imediata. Para alcançá-la, precisamos conhecer a história da situação, o crescimento do Hamas como grupo militante no momento de devastação pós-Oslo para os habitantes de Gaza, para os quais as promessas de autogestão nunca foram cumpridas; a formação de outros grupos de palestinos com diferentes táticas e objetivos; e a história do povo palestino, de suas aspirações de liberdade e do direito de autodeterminação política, de liberação do jugo colonial e da violência militar e carcerária generalizada. Assim, poderíamos fazer parte da luta por uma Palestina livre, na qual o Hamas seria dissolvido ou substituído por grupos com aspirações não violentas de coabitação.
Para aqueles cuja posição moral se restringe à condenação, não existe objetivo de entender a situação. Esse tipo de indignação moral é indiscutivelmente anti-intelectual e presentista. No entanto, a indignação também pode nos levar aos livros de história para descobrir as circunstâncias desses acontecimentos e que as condições podem ser modificadas a fim de que um futuro de violência não seja a única possibilidade. Não é o caso de considerar moralmente problemático “contextualizar”, embora existam formas de contextualização que possam ser usadas para suspender a culpa ou eximir os culpados. Somos capazes de distinguir entre essas duas formas de contextualização? Não é porque alguns pensam que a contextualização das formas atrozes de violência só serve para ocultar a violência, ou, pior, torná-la racional, que deveríamos nos submeter à ideia de que toda forma de contextualização é sempre uma forma de relativismo moral. Quando o Harvard Palestine Solidarity Committee argumenta que “o regime de apartheid é o único culpado” pelos ataques do Hamas, está subscrevendo uma versão inaceitável de responsabilidade moral. Parece que para entender o modo como um evento acontece, ou o seu significado, precisamos aprender história. Isso significa que precisamos ampliar nossa perspectiva para além do momento presente, e sem negar o seu horror, ao mesmo tempo em que nos recusamos a deixar que o horror represente todo o horror que existe para representar, conhecer e se opor. A mídia contemporânea, em sua maior parte, não detalha o horror que os palestinos estão vivendo há décadas, com bombardeios, ataques arbitrários, prisões e mortes. E se o horror dos últimos dias tem uma grande importância moral para a mídia, maior do que o horror dos últimos 70 anos, então a resposta moral do momento ameaça impedir e ocultar todo o entendimento das injustiças radicais impostas desde muito tempo à Palestina ocupada e deslocada à força — bem como o desastre humanitário e a perda de vidas acontecendo nesse momento em Gaza.
Muitas pessoas temem, não sem razão, que contextualizar os atos violentos do Hamas seja uma forma de eximir o Hamas, ou que, ao contextualizar, estejamos desviando a atenção ao horror do que eles fizeram. E se for esse próprio horror que nos leva a contextualizar? Quando esse horror começa, e quando termina? Quando a imprensa fala sobre uma “guerra” entre Hamas e Israel, oferece um enquadramento para o entendimento da situação. De fato, já é uma compreensão antecipada da situação. Se Gaza fosse entendida como território sob ocupação, ou se fosse referida como uma “prisão a céu aberto”, seria transmitida uma interpretação diferente. Parece uma descrição, mas a linguagem pode constranger ou facilitar o que queremos dizer, como somos capazes de descrever e o que podemos saber. Sim, a linguagem pode descrever, mas também ganha o poder de fazê-lo apenas se estiver de acordo com os limites impostos pelo que é dizível. Se estiver decidido que não precisamos saber quantas crianças e adolescentes palestinos foram mortos na Cisjordânia e em Gaza este ano ou durante estes anos de ocupação, se decidirem que essa informação não é importante para saber ou avaliar os ataques em Israel e os assassinatos de israelenses, então decidimos que não queremos saber da história de violência, luto e indignação vivida pelos palestinos. Só queremos saber da história de violência, luto e indignação vivida pelos israelenses. Uma amiga israelense, autodenominada “anti-sionista”, escreveu na internet que estava aterrorizada por sua família e amigos, ela perdeu muitas pessoas. Nossos corações devem estar com ela, o meu certamente está. É inequivocamente terrível. Ainda assim, não haveria um momento em que sua própria experiência de horror e perda de amigos e familiares permita imaginar como um palestino poderia estar se sentindo do outro lado, ou mesmo tenha se sentido depois de anos de bombardeio, prisões e violência militar? Também sou uma judia que vive com o trauma transgeracional no rastro de atrocidades cometidas contra pessoas como eu. Mas são atrocidades também cometidas contra pessoas que não são como eu. Não tenho que me identificar com esse rosto ou com esse nome a fim de indicar a atrocidade que vejo. Ou, pelo menos, luto para que não seja assim.
Ao fim e ao cabo, porém, o problema não é simplesmente uma falha de empatia. Pois a empatia sobretudo se dá a partir de um enquadramento que possibilita a identificação, ou a tradução da experiência de outra pessoa para a minha. Se esse enquadramento dominante considera algumas vidas mais enlutáveis do que outras, a conclusão é que algumas perdas são mais horrendas do que outras. A questão de que vidas são enlutáveis é inerente à questão de quais vida têm valor. E aqui o racismo tem um papel decisivo. Se as e os palestinos são “animais”, como insiste o Ministro da Defesa de Israel e se os israelenses representam “o povo judeu”, como insiste Joe Biden (confundindo a diáspora judaica com Israel, tal como reivindicam os reacionários), as únicas pessoas que merecem luto são israelenses, pois a cena da “guerra” é representada como uma guerra entre o povo judeu e os animais que querem matá-los. Essa não é a primeira vez que pessoas que tentam se livrar do jugo colonial são figuradas como animais pelos colonizadores. Os israelenses são “animais” quando matam? Esse enquadramento racista contemporâneo recapitula a oposição colonial entre os “civilizados” e os “animais”, que devem ser deslocados ou destruídos para preservar a “civilização”. Se adotamos esse enquadramento quando declaramos nossa oposição moral, estamos implicados numa forma de racismo que extrapola a descrição da estrutura da vida cotidiana na Palestina. E, em relação a isso, uma reparação radical é com certeza urgente.
Se pensamos que a condenação moral deve ser um ato claro e pontual, sem referência a outro contexto ou entendimento, aceitaremos, inevitavelmente, os termos nos quais essa condenação foi feita, o palco no qual as alternativas são orquestradas. No contexto atual, aceitar esses termos significa recapitular formas de racismo colonial que são parte do problema estrutural a ser resolvido. Assim sendo, não podemos nos dar ao luxo de desviar o olhar da história da injustiça em nome de uma certeza moral, porque assim nos arriscaremos a cometer outras injustiças, e nossa certeza acabaria por se basear em fundamentos cada vez menos sólidos. Por que não podemos condenar moralmente atos abomináveis sem perder nossa capacidade de pensar, conhecer e julgar? Certamente podemos e devemos fazer as duas coisas.
Os atos de violência que estamos testemunhando na mídia são horríveis. E, nesse momento de grande atenção da imprensa, a violência que vemos é a única que conhecemos. Repetindo: estamos certas quando deploramos essa violência e expressamos nosso horror. Faz dias que sinto dor de estômago. Todos/as que conheço vivem com medo do que a máquina militar israelense fará caso a retórica genocida de Netanyahu se materialize no morticínio em massa de palestinas/os. Pergunto a mim mesma se podemos, sem nos envolver em debates sobre relativismo e equivalência, enlutar as vidas perdidas em Israel e em Gaza antes de qualificá-las. Talvez o alcance mais amplo do luto sirva a um ideal mais substancial de igualdade, que reconheça a igual condição de luto dessas vidas perdidas e dê origem a uma indignação de que essas vidas não deveriam ter sido perdidas, de que os mortos mereciam viver mais e ter igual reconhecimento por suas vidas. Como podemos imaginar uma futura igualdade dos vivos sem saber que, tal como documentou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, as forças militares e colonos israelenses mataram quase 3.800 civis palestinos desde 2008 na Cisjordânia e em Gaza, muito antes que as ações atuais começassem? E que apenas nos bombardeios e ataques de outubro, 140 crianças palestinas já foram mortas? Onde está o luto do mundo por essas pessoas? Centenas de crianças palestinas morreram desde que Israel iniciou suas ações militares de “vingança” contra o Hamas, e muitas outras morrerão nos próximos dias e semanas.
Nossas posições morais não serão ameaçadas se dedicarmos algum tempo para aprender sobre a história da violência colonial e examinarmos a linguagem, as narrativas e os enquadramentos que operam nesse momento para narrar e explicar — e interpretar antecipadamente — o que está acontecendo na região. Esse tipo de entendimento é fundamental, não para racionalizar a violência existente ou autorizar mais violência. Seu objetivo é oferecer uma compreensão mais verdadeira da situação do que o enquadramento não contestado do presente pode proporcionar. De fato, pode haver outras posições de oposição moral a serem acrescentadas às que já aceitamos, incluindo uma oposição à violência militar e policial que satura a vida dos palestinos na região, tirando-lhes o direito de enlutar, de conhecer e expressar sua indignação e solidariedade, e de encontrar seu próprio caminho rumo a um futuro de liberdade.
Pessoalmente, defendo uma política de não-violência, sabendo que ela não pode funcionar como um princípio absoluto a ser aplicado a todas as ocasiões. Afirmo que as lutas de libertação que praticam a não-violência ajudam a criar o mundo não-violento no qual todas queremos viver. Deploro inequivocamente a violência ao mesmo tempo em que, como muitas/os outras/os, quero fazer parte da imaginação e da luta pela verdadeira igualdade e justiça na região, a qual levaria grupos como o Hamas a desaparecer, a ocupação a terminar, e faria florescer novas formas de liberdade política e justiça. Sem igualdade e justiça, sem o fim da violência estatal conduzida por um Estado, Israel, que foi fundado na violência, nenhum futuro pode ser imaginado, nenhum futuro de paz verdadeira — não uma “paz” que seja um eufemismo para normalização, o que significa manter as estruturas de desigualdade, injustiça e racismo. Mas esse futuro não pode acontecer sem que se tenha a liberdade de nomear, descrever e se opor a toda a violência, inclusive a violência do Estado israelense em todas as suas formas, e de fazê-lo sem medo de censura, criminalização ou de ser acusada, maliciosamente, de antissemitismo. O mundo que eu quero se oporia à normalização do domínio colonial e apoiaria a autodeterminação e a liberdade das/os palestinas/os, um mundo que realizaria os desejos mais profundos de todos os habitantes dessas terras de viverem juntos em liberdade, sem violência, com igualdade e justiça. Sem dúvida, essa esperança pode parecer ingênua e até impossível para muitas pessoas. No entanto, algumas/uns de nós devemos nos apegar a essa esperança de forma selvagem, recusando acreditar que as estruturas que existem hoje existirão para sempre. Para isso, precisamos de nossos poetas e sonhadores, os tolos indomáveis que sabem como se organizar.
Judith Butler é professora da Universidade da Califórnia, Berkeley. Seus livros incluem Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990), Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’ (1993), Undoing Gender (2004), Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence (2006), Frames of War: When Is Life Grievable? (2009), Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism (2012), The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind (2020) and What World Is This? A Pandemic Phenomenology (2022)
Muitas pessoas temem, não sem razão, que contextualizar os atos violentos do Hamas seja uma forma de eximir o Hamas, ou que, ao contextualizar, estejamos desviando a atenção ao horror do que eles fizeram. E se for esse próprio horror que nos leva a contextualizar? Quando esse horror começa, e quando termina? Quando a imprensa fala sobre uma “guerra” entre Hamas e Israel, oferece um enquadramento para o entendimento da situação. De fato, já é uma compreensão antecipada da situação. Se Gaza fosse entendida como território sob ocupação, ou se fosse referida como uma “prisão a céu aberto”, seria transmitida uma interpretação diferente. Parece uma descrição, mas a linguagem pode constranger ou facilitar o que queremos dizer, como somos capazes de descrever e o que podemos saber. Sim, a linguagem pode descrever, mas também ganha o poder de fazê-lo apenas se estiver de acordo com os limites impostos pelo que é dizível. Se estiver decidido que não precisamos saber quantas crianças e adolescentes palestinos foram mortos na Cisjordânia e em Gaza este ano ou durante estes anos de ocupação, se decidirem que essa informação não é importante para saber ou avaliar os ataques em Israel e os assassinatos de israelenses, então decidimos que não queremos saber da história de violência, luto e indignação vivida pelos palestinos. Só queremos saber da história de violência, luto e indignação vivida pelos israelenses. Uma amiga israelense, autodenominada “anti-sionista”, escreveu na internet que estava aterrorizada por sua família e amigos, ela perdeu muitas pessoas. Nossos corações devem estar com ela, o meu certamente está. É inequivocamente terrível. Ainda assim, não haveria um momento em que sua própria experiência de horror e perda de amigos e familiares permita imaginar como um palestino poderia estar se sentindo do outro lado, ou mesmo tenha se sentido depois de anos de bombardeio, prisões e violência militar? Também sou uma judia que vive com o trauma transgeracional no rastro de atrocidades cometidas contra pessoas como eu. Mas são atrocidades também cometidas contra pessoas que não são como eu. Não tenho que me identificar com esse rosto ou com esse nome a fim de indicar a atrocidade que vejo. Ou, pelo menos, luto para que não seja assim.
Ao fim e ao cabo, porém, o problema não é simplesmente uma falha de empatia. Pois a empatia sobretudo se dá a partir de um enquadramento que possibilita a identificação, ou a tradução da experiência de outra pessoa para a minha. Se esse enquadramento dominante considera algumas vidas mais enlutáveis do que outras, a conclusão é que algumas perdas são mais horrendas do que outras. A questão de que vidas são enlutáveis é inerente à questão de quais vida têm valor. E aqui o racismo tem um papel decisivo. Se as e os palestinos são “animais”, como insiste o Ministro da Defesa de Israel e se os israelenses representam “o povo judeu”, como insiste Joe Biden (confundindo a diáspora judaica com Israel, tal como reivindicam os reacionários), as únicas pessoas que merecem luto são israelenses, pois a cena da “guerra” é representada como uma guerra entre o povo judeu e os animais que querem matá-los. Essa não é a primeira vez que pessoas que tentam se livrar do jugo colonial são figuradas como animais pelos colonizadores. Os israelenses são “animais” quando matam? Esse enquadramento racista contemporâneo recapitula a oposição colonial entre os “civilizados” e os “animais”, que devem ser deslocados ou destruídos para preservar a “civilização”. Se adotamos esse enquadramento quando declaramos nossa oposição moral, estamos implicados numa forma de racismo que extrapola a descrição da estrutura da vida cotidiana na Palestina. E, em relação a isso, uma reparação radical é com certeza urgente.
Se pensamos que a condenação moral deve ser um ato claro e pontual, sem referência a outro contexto ou entendimento, aceitaremos, inevitavelmente, os termos nos quais essa condenação foi feita, o palco no qual as alternativas são orquestradas. No contexto atual, aceitar esses termos significa recapitular formas de racismo colonial que são parte do problema estrutural a ser resolvido. Assim sendo, não podemos nos dar ao luxo de desviar o olhar da história da injustiça em nome de uma certeza moral, porque assim nos arriscaremos a cometer outras injustiças, e nossa certeza acabaria por se basear em fundamentos cada vez menos sólidos. Por que não podemos condenar moralmente atos abomináveis sem perder nossa capacidade de pensar, conhecer e julgar? Certamente podemos e devemos fazer as duas coisas.
Os atos de violência que estamos testemunhando na mídia são horríveis. E, nesse momento de grande atenção da imprensa, a violência que vemos é a única que conhecemos. Repetindo: estamos certas quando deploramos essa violência e expressamos nosso horror. Faz dias que sinto dor de estômago. Todos/as que conheço vivem com medo do que a máquina militar israelense fará caso a retórica genocida de Netanyahu se materialize no morticínio em massa de palestinas/os. Pergunto a mim mesma se podemos, sem nos envolver em debates sobre relativismo e equivalência, enlutar as vidas perdidas em Israel e em Gaza antes de qualificá-las. Talvez o alcance mais amplo do luto sirva a um ideal mais substancial de igualdade, que reconheça a igual condição de luto dessas vidas perdidas e dê origem a uma indignação de que essas vidas não deveriam ter sido perdidas, de que os mortos mereciam viver mais e ter igual reconhecimento por suas vidas. Como podemos imaginar uma futura igualdade dos vivos sem saber que, tal como documentou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, as forças militares e colonos israelenses mataram quase 3.800 civis palestinos desde 2008 na Cisjordânia e em Gaza, muito antes que as ações atuais começassem? E que apenas nos bombardeios e ataques de outubro, 140 crianças palestinas já foram mortas? Onde está o luto do mundo por essas pessoas? Centenas de crianças palestinas morreram desde que Israel iniciou suas ações militares de “vingança” contra o Hamas, e muitas outras morrerão nos próximos dias e semanas.
Nossas posições morais não serão ameaçadas se dedicarmos algum tempo para aprender sobre a história da violência colonial e examinarmos a linguagem, as narrativas e os enquadramentos que operam nesse momento para narrar e explicar — e interpretar antecipadamente — o que está acontecendo na região. Esse tipo de entendimento é fundamental, não para racionalizar a violência existente ou autorizar mais violência. Seu objetivo é oferecer uma compreensão mais verdadeira da situação do que o enquadramento não contestado do presente pode proporcionar. De fato, pode haver outras posições de oposição moral a serem acrescentadas às que já aceitamos, incluindo uma oposição à violência militar e policial que satura a vida dos palestinos na região, tirando-lhes o direito de enlutar, de conhecer e expressar sua indignação e solidariedade, e de encontrar seu próprio caminho rumo a um futuro de liberdade.
Pessoalmente, defendo uma política de não-violência, sabendo que ela não pode funcionar como um princípio absoluto a ser aplicado a todas as ocasiões. Afirmo que as lutas de libertação que praticam a não-violência ajudam a criar o mundo não-violento no qual todas queremos viver. Deploro inequivocamente a violência ao mesmo tempo em que, como muitas/os outras/os, quero fazer parte da imaginação e da luta pela verdadeira igualdade e justiça na região, a qual levaria grupos como o Hamas a desaparecer, a ocupação a terminar, e faria florescer novas formas de liberdade política e justiça. Sem igualdade e justiça, sem o fim da violência estatal conduzida por um Estado, Israel, que foi fundado na violência, nenhum futuro pode ser imaginado, nenhum futuro de paz verdadeira — não uma “paz” que seja um eufemismo para normalização, o que significa manter as estruturas de desigualdade, injustiça e racismo. Mas esse futuro não pode acontecer sem que se tenha a liberdade de nomear, descrever e se opor a toda a violência, inclusive a violência do Estado israelense em todas as suas formas, e de fazê-lo sem medo de censura, criminalização ou de ser acusada, maliciosamente, de antissemitismo. O mundo que eu quero se oporia à normalização do domínio colonial e apoiaria a autodeterminação e a liberdade das/os palestinas/os, um mundo que realizaria os desejos mais profundos de todos os habitantes dessas terras de viverem juntos em liberdade, sem violência, com igualdade e justiça. Sem dúvida, essa esperança pode parecer ingênua e até impossível para muitas pessoas. No entanto, algumas/uns de nós devemos nos apegar a essa esperança de forma selvagem, recusando acreditar que as estruturas que existem hoje existirão para sempre. Para isso, precisamos de nossos poetas e sonhadores, os tolos indomáveis que sabem como se organizar.
Judith Butler é professora da Universidade da Califórnia, Berkeley. Seus livros incluem Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990), Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’ (1993), Undoing Gender (2004), Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence (2006), Frames of War: When Is Life Grievable? (2009), Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism (2012), The Force of Nonviolence: An Ethico-Political Bind (2020) and What World Is This? A Pandemic Phenomenology (2022)




Nenhum comentário:
Postar um comentário