John J. Mearsheimer
London Review of Books
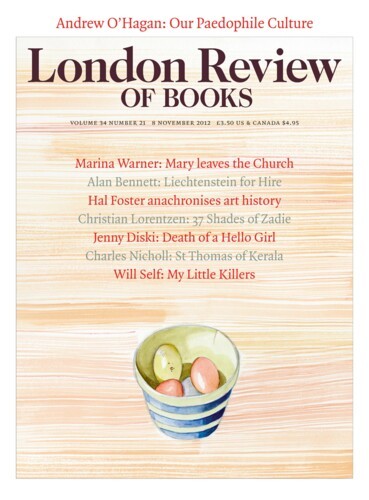 |
| Vol. 34 No. 21 · 8 November 2012 |
"Em resposta" a não se sabe o quê, na luta de eterna retaliação entre Israel e os palestinos em Gaza, Israel decidiu escalar, e avançou, na violência, a ponto de assassinar um comandante militar do Hamás, Ahmad Jaabari. O Hamás, o qual, de fato, tem desempenhado papel menor na atual troca de golpes, e até parece interessado em negociar uma trégua de longo prazo, respondeu, como seria de esperar que respondesse, com centenas de foguetes contra Israel, alguns dos quais caíram já próximos de Telavive. Não surpreendentemente, os israelenses ameaçaram com conflito ainda maior, que incluiria possível invasão por terra, em Gaza, para derrubar o Hamás e “eliminar o perigo dos foguetes”.
É possível que a Operação “Pilar de Defesa”, como os israelenses chamaram a atual campanha, converta-se em guerra de larga escala. Mas, mesmo que aconteça, não porá fim aos problemas de Israel em Gaza. Afinal de contas, Israel já fez guerra devastadora contra o Hamás no inverno de 2008-9 – "Operação Chumbo Derretido" - e o Hamás ainda está no poder e ainda dispara foguetes contra Israel.
No verão de 2006, Israel também fez guerra contra o Hezbollah para eliminar o arsenal de mísseis da resistência libanesa e enfraquecer a posição do grupo na política do Líbano. Outro fracasso israelense: o Hezbollah tem, hoje, número várias vezes superior de mísseis em relação aos que tinha em 2006, e é consideravelmente mais influente do que antes, na política do Líbano. O mais provável é que a “Operação Pilar da Defesa” também fracasse.
Israel pode usar de força contra o Hamás, de três modos diferentes:
Primeiro, pode tentar minar a organização, assassinando os líderes, como acaba de fazer, ao matar Jaabari, há dois dias. Mas a decapitação não funciona, porque sobram substitutos para os líderes mortos, e não raras vezes os substitutos são mais competentes e mais perigosos para Israel que os anteriores. Isso, precisamente, Israel já deveria ter aprendido no Líbano, em 1992, quando assassinou o então principal homem do Hezbollah, Abbas Musawi, só para descobrir que o substituto dele, Hassan Nasrallah, era adversário muito mais formidável.
Segundo, os israelenses podem invadir Gaza e tomar a área. Talvez, o exército de Israel possa fazer isso, até sem dificuldade, derrubar o Hamás e, teoricamente, acabar com os foguetes lançados de Gaza. Mas, nesse caso, teriam de ocupar Gaza por longo período, durante anos, porque, se não permanecerem como força ocupante em terra, o Hamás voltará ao poder; e os foguetes recomeçarão e Israel terá sido devolvido ao ponto em que estava antes.
Qualquer tentativa de ocupar Gaza disparará resistência furiosa e sangrenta – o que os israelenses aprenderam no sul do Líbano, entre 1982 e 2000. Depois de 18 anos de ocupação, tiveram de declarar-se derrotados e retirar-se da área ocupada. Por isso, precisamente, o exército de Israel nem tentou invadir ou conquistar o sul do Líbano em 2006, nem Gaza em 2008-9. Nada mudou desde então, que torne a invasão de Gaza alternativa viável, hoje. Ocupar Gaza, além do mais, porá mais 1,5 milhão de palestinos sob o controle formal de Israel, o que, em vez de reduzir, fará crescer muito a chamada “ameaça demográfica”. Ariel Sharon ordenou a retirada de colonos israelenses de Gaza, em 2005, exclusivamente para reduzir o número de palestinos que viviam sob bandeira israelense; voltar para lá hoje será derrota, não vitória, no campo estratégico.
Terceiro, a opção preferencial, o bombardeio aéreo, com artilharia, mísseis, morteiros e foguetes. O problema, nesse caso, é que essa estratégia não funciona exatamente como prega a propaganda. Israel fez exatamente isso contra o Hezbollah em 2006 e contra o Hamás em 2008-9, e o que se vê hoje é que os dois grupos continuam no poder e continuam armados, mais armados hoje do que antes. É absolutamente impossível acreditar que haja analistas de defesa sérios, em Israel, que ainda creiam que mais uma campanha de bombardeio contra Gaza conseguirá derrubar o Hamás ou pôr fim, definitivamente, aos ataques de foguetes.
Assim sendo, o que, afinal, acontece em Gaza?
No plano mais elementar, as ações de Israel em Gaza continuam absolutamente ligadas aos esforços do projeto sionista para criar um “Israel Expandido”, o “Grande Israel”, que se estenderia do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Apesar das infinitas conversas sobre a “Solução de Dois Estados”, os palestinos não terão estado próprio, não fosse por outras razões, sempre seria porque o governo Netanyahu faz oposição obsessiva à ideia. O primeiro-ministro e seus aliados políticos estão profundamente comprometidos com a ideia de converter os “Territórios Ocupados” em parte permanente de Israel. Para que esse projeto “prospere”, os palestinos na Cisjordânia e em Gaza terão de ser forçados a viver em enclaves de miséria, similares aos bantustões que havia na África do Sul governada pelos brancos racistas do apartheid [ou aos guetos da Alemanha nazista]. Os judeus israelenses começam a entender perfeitamente esse processo: pesquisa recente mostrou que 58% deles entendem que Israel já pratica política de apartheid contra os palestinos.
Mas criar um "Grande Israel" gerará problemas ainda maiores. Além de provocar dano gigantesco à imagem e à reputação de Israel em todo o mundo, nem toda a ambição israelense por seu "Grande Israel" quebrará a resistência palestina. Eles continuarão a lutar, então, já não contra apenas a ocupação, mas contra, também, a monstruosidade de viverem sob estado de apartheid. E continuarão a resistir contra todos os esforços de Israel, enquanto não conquistarem o direito à autodeterminação.
O que se vê hoje em Gaza é uma das dimensões da resistência palestina. Outra é o plano de Mahmoud Abbas de requerer, dia 29 de novembro próximo, à Assembleia Geral da ONU, o reconhecimento da Palestina, mesmo que como “Estado não membro”, mas, já, como Estado. Isso, hoje, é o que mais preocupa o governo de Israel, porque é o caminho para que os palestinos possam, a seguir, acusar Israel por crimes de guerra e crimes contra a humanidade ante a Corte Internacional de Justiça.
O beco é absolutamente sem saída, para Israel: o sonho de um "Grande Israel" força Telavive a manter à distância os palestinos.
Os líderes israelenses têm uma estratégia “de pinça” para enfrentar o problema palestino. Num dos braços da “pinça”, dependem dos EUA como cobertura diplomática, sobretudo na ONU. E têm de manter Washington escravizada ao lobby israelense, [2] [continuando a pressionar: $$$] os políticos norte-americanos para que se alinhem a Israel contra os palestinos e nada façam para impedir a colonização dos “Territórios Ocupados”.
O segundo braço da “pinça” é o conceito sionista de Ze’ev Jabotinsky, da “Muralha de Ferro”: essa abordagem, na essência, manda bater nos palestinos até reduzi-los à total submissão. Jabotinsky compreendeu que os palestinos resistiriam aos esforços sionistas para colonizar a terra palestina e subjugar os habitantes. Por isso, disse que os sionistas e, eventualmente, Israel, teriam de castigar os palestinos tão furiosamente, tão loucamente, a ponto de os próprios palestinos reconhecerem que seria inútil continuar a resistir.
Essa é a estratégia que Israel sempre usou, desde a fundação, em 1948. A “Operação Chumbo Derretido”, tanto quanto a “Operação Pilar de Defesa” são manifestações dessa ideologia sionista. Em outras palavras: com o bombardeio contra Gaza, Israel não visa a derrubar o Hamás, nem a pôr fim aos foguetes – esses dois objetivos são absolutamente inalcançáveis. Em vez disso, os atuais ataques contra Gaza são mais um capítulo da sempre mesma velha estratégia sionista para coagir os palestinos a se renderem, a desistir completamente de qualquer aspiração à autodeterminação e a submeterem-se ao jugo israelense, num estado de apartheid.
É bem evidente que Israel continua abraçado à ideologia sionista do “Muro de Ferro”. Vê-se nas declarações dos governantes israelenses, repetidas vezes, desde o fim da “Operação Chumbo Derretido” em janeiro de 2009: sempre dizem que o Exército de Israel voltará a Gaza e, mais uma vez, massacrará palestinos. Os israelenses sabem que os ataques de 2008-9 não enfraqueceram o Hamás. Ao final de cada ataque-massacre, Israel imediatamente começa a planejar o massacre seguinte.
Quanto ao contexto-oportunidade do massacre em curso, é fácil de explicar. Para começar, Obama acaba de ser reeleito, apesar do muito que Netanyahu trabalhou, sem se esconder, para levar Mitt Romney à presidência. O erro de avaliação do primeiro-ministro, muito provavelmente, comprometeu gravemente suas relações pessoais com Obama e pode ter comprometido, também, o “relacionamento especial” entre os EUA e Israel. Nesse quadro, uma guerra em Gaza é excelente vacina, porque Obama, que enfrenta desafios internos gigantescos, econômicos e políticos, que crescerão sobre ele nos próximos meses, absolutamente não tem escolha senão apoiar Israel e culpar os palestinos.
Em Israel, Netanyahu enfrentará eleições em janeiro e, como escreve Mitchell Plitnick [3], “o gambito de Netanyahu, que formou chapa única com o partido fascista ‘Israel Nosso Lar’ [orig. Yisrael Beiteinu], absolutamente não está mostrando, nas pesquisas, os resultados que o primeiro-ministro esperava”. Fazer guerra contra Gaza não apenas permite que Netanyahu se mostre “durão” quando a segurança de Israel é ameaçada, mas, também, pode ter um efeito de congregar os eleitores a seu favor, melhorando suas chances de ser reeleito.
Seja como for, a “Operação Pilar da Defesa” não alcançará o objetivo de fazer os palestinos desistirem da luta por autodeterminação, nem os convencerá a viver ajoelhados sob o tacão dos israelenses. O objetivo de Israel é delirante, inalcançável; os palestinos jamais aceitarão ser confinados em meia dúzia de [restantes] enclaves, em estado de apartheid. O que, desgraçadamente, implica dizer que “Pilar da Defesa” não será a última vez que Israel massacra os habitantes de Gaza.
Mas, no longo prazo, é possível que vejamos o fim das campanhas israelenses de bombardeio e massacre de civis desarmados, porque nada garante que Israel consiga manter-se como "estado de apartheid". Além de ter de enfrentar para sempre a resistência palestina, não há como supor que a opinião pública mundial apoie, nem, sequer, que tolere, um "estado de apartheid".
Em novembro de 2007, Ehud Olmert disse [4], ainda como primeiro-ministro, que “se a Solução dos Dois Estados fracassar”, Israel enfrentará “luta ao estilo da que se viu na África do Sul” e, quando isso acontecer, “será o fim do estado de Israel”.
Diante disso, seria de supor que os líderes israelenses se pusessem imediatamente a trabalhar para que os palestinos tivessem Estado seu e Estado viável. Mas, não! Não se vê nem sinal disso. O que prossegue, sempre, sempre, é a loucura israelense de supor que massacres como a “Operação Pilar da Defesa” conseguirão dobrar os palestinos."


Nenhum comentário:
Postar um comentário