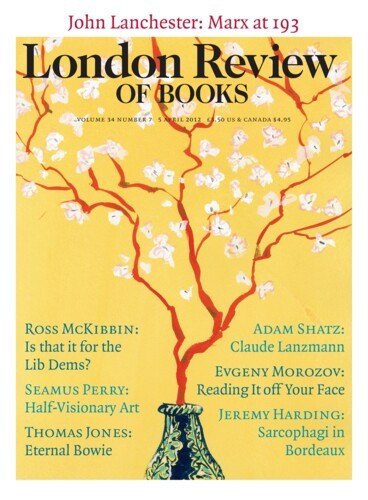Eric J. Hobsbawm sobre Tony Judt
Eric J. Hobsbawm
 |
| Vol. 34 No. 8 · 26 April 2012 |
Tradução / Minhas relações com Tony Judt datam de longo tempo, mas sempre foram curiosamente contraditórias. Éramos amigos, embora não amigos íntimos e, apesar de ambos sermos historiadores politicamente comprometidos, e de os dois preferirmos usar roupa de trabalho, em vez do uniforme regimental de historiadores, sempre marchamos ao som de diferentes toques de tambor. No entanto, nossos interesses intelectuais tinham algo em comum. Ambos sabíamos que o século XX só podia ser plenamente compreendido por aqueles que se tornaram historiadores, pois viviam nele e compartilhavam sua paixão básica: a crença de que a política é a chave para as nossas verdades assim como para nossos mitos. Apesar de nossas diferenças, tanto Marxism and the French Left de Tony, como meu recente How to Change the World são dedicados ao mesmo livre pensador, o falecido George Lichtheim. Dávamos-nos bem, em termos pessoais – mas Tony era homem generoso, fácil de gostar. Tinha em boa conta o meu trabalho, como escreveu em seu último livro. Apesar disso, lançou contra mim um dos mais implacáveis ataques que recebi, numa passagem que, imediatamente, se tornou citação obrigatória, sobretudo para os ultras da extrema direita da mídia nos Estados Unidos. A crítica resumia-se ao seguinte: para a esquerda, basta declarar em confissão pública que seu deus fracassou e bater no peito; fácil assim, a esquerda já conquista o direito de ser levada a sério; não se deve dar ouvidos a ninguém que não pense e escreva que “socialismo é Gulag”. Nunca duvidei da sinceridade de Judt ao abraçar essa figura de retórica, numa polêmica em que discutia com comunistas. Por sorte, a prática, em Judt, pouco teve a ver com a teoria.
Para a maioria de nós, a imagem hoje dominante é a coragem com que enfrentou a doença degenerativa que o acometeu, e a morte. Houve uma espécie de grandeur romana em sua recusa a aceitar o inevitável da doença, que quase convoca elogios clássicos. Não só a decisão de levar o jogo até o xeque-mate, mas a atitude de provocar a morte, demonstrando até o final seu talento de grande professor, debilitado, mas nunca derrotado. É uma imagem comovente, mas temos de resistir: estimular a construção de mitos não é atitude digna em historiadores. Tony foi apresentado ao mundo como um novo George Orwell. É uma ideia errada, porque embora ambos fossem homens de dotes excepcionais e ativos polemistas, eram muito diferentes. Faltava a Tony a combinação de vários tipos de preconceitos que havia em Orwell, que tomava o Velho Testamento, simultaneamente olhado como se fosse passado e futuro, como profecia e como denúncia imaginativa. Judt jamais escreveria 1984 ou Animal Farm. E Orwell, escritor muito mais poderoso, não tinha nem uma fração da monumental gama de conhecimentos de Tony, nem seu talento, nem sua agilidade e versatilidade intelectuais. Orwell nunca teria sobrevivido como intelectual acadêmico.
Mas a comparação com Orwell também é perigosa, porque não se trata só de dois escritores, mas de uma era política que já deveria estar hoje superada por bem: a Guerra Fria. A reputação de Orwell foi erguida como poderoso lança-foguetes intelectuais contra os soviéticos; e mesmo hoje, quando o resto de Orwell já emergiu ou reemergiu, é nome que permanece congelado na década de 1950. Tony foi, é claro, tão anti-Stálin quanto qualquer outro, e crítico amargo dos que não abjuraram o Partido Comunista, mesmo que se tenham provado satisfatoriamente anti-stalinistas e, como no meu caso, já estejamos lentamente nos livrando da esperança original de outubro de 1917. Como os sionistas que se opuseram a encenações de Wagner em Israel, Tony foi dos que deixam a antipatia política atravessar-se à frente do prazer estético, descartando o poema de Brecht sobre quadros do Comintern, An die Nachgeborenen [Os Admirados por Tantos], como poema “repulsivo”, não em termos literários, mas porque inspirava pensamentos maléficos aos crentes. Mas é evidente, desde Thinking the 20th Century, que sua preocupação básica durante a fase aguda da Guerra Fria, não era a ameaça soviética contra o “mundo livre”, mas as discussões dentro da esquerda. Seu tema sempre foi Marx – não Stálin e o Gulag. É verdade que, depois de 1968, passou a ser mais um liberal de oposição militante contra a Europa Oriental, admirador dos turistas acadêmicos de direita que forneciam praticamente tudo que se publicava sobre o fim dos regimes comunistas na Europa Oriental. E isso o arrastou – e se esperaria coisa melhor dele – a criar, com outros, o conto de fadas das “revoluções de veludo” e “revoluções coloridas” de 1989 em diante. Essas revoluções jamais existiram. Foram, todas, diferentes reações à decisão dos soviéticos de sair de lá. Os verdadeiros heróis daquele período foram Gorbachev, que destruiu a URSS, e homens do velho sistema, como Suárez na Espanha de Franco e Jaruzelski na Polônia, que efetivamente conseguiram garantir uma transição pacífica e foram execrados pelos dois lados. De fato, nos anos 1980s, o liberalismo essencialmente social-democrata de Tony foi rapidamente infectado pelo neoliberalismo econômico sem regras à Hayek, de François Furet. Não creio que esse fogo-fátuo da Guerra Fria tenha sido essencial para o desenvolvimento de Tony, mas sem dúvida contribuiu para dar mais corpo e profundidade ao seu impressionante Pós-guerra.
O modo como andou pela segunda metade do século é sui generis. Até fixar-se em New York na década de 1980 e começar a escrever para a New York Review, não era historiador de grande destaque, sequer entre os especialistas anglófono sem história da França, talvez porque se tenha deixado arrastar por tempo demais pelos infindáveis debates sobre a natureza da esquerda francesa. Antes da década de 1980, Tony só era encontrado nas margens da história social, autor de um excelente estudo do socialismo na Provence entre 1871 e 1914. Sua fase francesa combinava erudição impressionante com, em minha opinião, resultados historicamente triviais: rapidamente foi convertido em assunto para torneios acadêmicos no mundo marginal e sem efeitos da Rive Gauche. Mas o que acontecia no “Les Deux Magots” e no “Flore”, embora culturalmente prestigiado, era politicamente irrelevante, comparado ao que acontecia no outro lado do boulevard St. Germain, na “Brasserie Lipp”, onde se reuniam os políticos. A política de Sartre consistia em “tomar posição”, porque nada mais havia que pudesse fazer; e De Gaulle sabia disso. Em qualquer caso, a esquerda raras vezes chegou ao poder, e provavelmente os únicos intelectuais que chegaram a primeiro-ministro foram Léon Blum em 1936 e – ou, pelo menos, foi uma boa imitação – Mitterrand. Mediante as mais fantásticas acrobacias intelectuais, cujo absurdo Tony não precisou trabalhar muito para demonstrar, intelectuais de esquerda faziam o que podiam para dar conta de uma situação nacional única, e do seu próprio isolamento, no país que inventou a palavra “obreirismo” [orig. “ouvrierisme”], quer dizer: operários que absolutamente não acreditavam em intelectuais.
Quatro coisas modelaram a história francesa nos séculos XIX e XX: a República nasceu da Grande Revolução incompleta; o estado napoleônico centralizado; o papel político crucial atribuído a uma classe trabalhadora pequena demais e desorganizada demais; e o longo declínio da França, da posição que tivera antes de 1789, como o Império do Meio da Europa, tão confiante quanto a China na própria superioridade cultural e linguística. Foi a “capital do século XIX”, sobretudo aos olhos estrangeiros, mas depois de Waterloo, deslizou lenta e não continuamente, mas sempre para baixo, em termos de força militar, poder internacional e centralidade cultural. Sem um Lênin e privada de Napoleão, a França recolheu-se como um último – e esperemos, indestrutível – reduto, o mundo de Astérix. A moda pós-guerra para pensadores parisienses mal disfarçava a retirada coletiva para uma introversão de Hexágono e para dentro da última fortaleza da intelectualidade francesa, o pensamento cartesiano e suas arrogâncias adjuntas. Não havia qualquer outro modelo na educação superior e nas ciências, no desenvolvimento econômico, nem – como se vê pela penetração tardia das ideias de Marx – na ideologia da Revolução. O problema dos intelectuais de esquerda foi como se entenderem com uma França essencialmente não revolucionária. O problema, para os de direita, muitos dos quais ex-comunistas, foi como fazer as exéquias do evento fundacional e da tradição formativa da República, a Revolução Francesa, tarefa equivalente, na dificuldade, à de escrever a Constituição Americana a partir da história dos Estados Unidos. É missão impossível. Não podia ser feito, nem por operadores muito inteligentes e poderosos como Furet; nem Tony, mesmo que sobrevivesse, poderia ter restaurado a social-democracia que sempre fora seu ideal.
Tony tinha feito seu nome como um brutamontes da acadêmica. Sua posição padrão era de legista: não de juiz, mas de advogado, cujo objetivo não é nem a verdade nem a verossimilhança, mas ganhar a causa. Não é crucialmente importante investigar as próprias possíveis fraquezas, embora seja o que deva fazer o historiador de grandes espaços, longos períodos e processos complexos. Mas nem as décadas formativas, como intelectual de acusação, impediram que Tony se transformasse em historiador maduro, atento e bem informado. Seu grande trabalho nessa condição foi, sem dúvida, o gigantesco calço, Pós-guerra: Uma História da Europa desde 1945. Era e é um livro ambicioso, embora um pouco desequilibrado. Não estou convencido de que a perspectiva do livro parecerá adequada aos que o leiam agora pela primeira vez, sete anos depois da publicação. Apesar disso, garanto, por experiência pessoal, que grandes trabalhos de síntese histórica baseados em fontes secundárias e na observação da história contemporânea só podem ser escritos na maturidade. Bem poucos historiadores têm jeito para atacar objeto tão imenso, ou para levá-lo até uma conclusão. O livro é um impressionante trabalho. Se por mais não for, porque qualquer trabalho que tome a narrativa até o momento presente já carrega em si a própria obsolescência e tem futuro incerto. Mas talvez tenha maior sobrevida como referência de trabalho de narrativa crítica, porque é escrito com verve, garra e estilo. Pós-guerra fixou Tony, pela primeira vez, como figura de destaque na profissão.
Mas ele, então, já estava parando de operar como tal. No século XXI, sua posição já era menos de historiador, que de “intelectual público”, brilhante inimigo do auto-engano enfeitado com jargão de teoria, com o pavio curto do polemista natural, comentarista independente e crítico sem medo dos assuntos mundiais. Pareceu ainda mais original e radical, por ter sido defensor muito ortodoxo do “mundo livre” contra o “totalitarismo” durante a Guerra Fria, sobretudo na década de 1980. Frente a governos e ideólogos que liam vitória e dominação mundial na queda do comunismo, Tony foi suficientemente honesto consigo mesmo para reconhecer que as velhas verdades e os velhos slogans tinham de ser detonados, depois de 1989. Provavelmente, só nos sempre nervosos Estados Unidos uma tal reputação poderia ter sido construída tão rapidamente, só à base de uns poucos artigos em publicações de circulação modesta, dirigidas exclusivamente a intelectuais de academia. As páginas dos grandes veículos da mídia estavam há muito tempo abertas a Raymond Aron na França (bem claramente, uma das inspirações de Tony), ou a Habermas na Alemanha, e o impacto que pudessem ter já estava há muito tempo neutralizado. Tony estava bem consciente dos riscos pessoais e profissionais que corria, atacando as forças combinadas da empreitada de conquista americana global, dos neoconservadores e de Israel, mas foi homem bem servido do que Bismarck chamou de “bravura civil” (Zivilcourage) – qualidade notável que faltava a Isaiah Berlin, como o próprio Tony observou, talvez com alguma ironia. Diferente de escolásticos e burocratas da Rive Gauche que, como disse Auden dos poetas, “nada faziam acontecer”, Tony entendeu que uma luta contra tais novas forças faria alguma diferença. E lançou-se, ele mesmo, contra elas, com evidente prazer e engenho. Essa foi a figura que veio a ser depois do final da Guerra Fria, alargando sua perícia de acusador de corte de justiça, para vergastar os Bushs e Netanyahus e assemelhados, mais do que algum absurdo no 5ème Arrondissement ou algum professor emérito em New Jersey. Foi performance magnífica, ato de primeira classe; foi louvado por seus leitores, não só pelo que disse, mas por dizer o que muitos deles jamais teriam a coragem de dizer. Foi ainda mais eficaz, porque foi, simultaneamente, homem “de dentro” e homem “de fora”, insider e outsider: britânico, judeu, francês, eventualmente americano, mas plurinacional, mais que cosmopolita. E, sim, conhecia bem os limites do que estava fazendo. Como ele mesmo diz, os mais bem-sucedidos na tarefa de dizer a verdade ao poder não são os colunistas, mas os repórteres e fotógrafos, na onipresente mídia.
Até o início dos anos 2000 Tony tinha presença internacional, pelo menos no mundo de língua inglesa. Duraria mais que os canônicos 15 minutos de Warhol? Afortunadamente, graças aos anos de sua doença final, é possível responder a pergunta. O trabalho de Tony sobreviverá, porque, depois que adoeceu, ele pela primeira vez deixou de ver-se como acusador num tribunal e tentou formular o que realmente sabia, sentia e pensava. Thinking the 20th Century não é um grande livro ou sequer capítulo de um grande livro – e como seria, dado o modo como foi escrito? – mas é leitura essencial para quem queira saber o que historiadores contemporâneos têm a nos dizer. Ele também é um modelo de discurso civilizado na aldeia global acadêmica. Mostra que historiadores podem questionar os próprios pressupostos, examinar as próprias certezas e ver como a própria vida é modelada e remodelada pelo seu século. E, não menos importante, é um valioso memorial de um homem notável e da vida que decidiu viver.
Para a maioria de nós, a imagem hoje dominante é a coragem com que enfrentou a doença degenerativa que o acometeu, e a morte. Houve uma espécie de grandeur romana em sua recusa a aceitar o inevitável da doença, que quase convoca elogios clássicos. Não só a decisão de levar o jogo até o xeque-mate, mas a atitude de provocar a morte, demonstrando até o final seu talento de grande professor, debilitado, mas nunca derrotado. É uma imagem comovente, mas temos de resistir: estimular a construção de mitos não é atitude digna em historiadores. Tony foi apresentado ao mundo como um novo George Orwell. É uma ideia errada, porque embora ambos fossem homens de dotes excepcionais e ativos polemistas, eram muito diferentes. Faltava a Tony a combinação de vários tipos de preconceitos que havia em Orwell, que tomava o Velho Testamento, simultaneamente olhado como se fosse passado e futuro, como profecia e como denúncia imaginativa. Judt jamais escreveria 1984 ou Animal Farm. E Orwell, escritor muito mais poderoso, não tinha nem uma fração da monumental gama de conhecimentos de Tony, nem seu talento, nem sua agilidade e versatilidade intelectuais. Orwell nunca teria sobrevivido como intelectual acadêmico.
Mas a comparação com Orwell também é perigosa, porque não se trata só de dois escritores, mas de uma era política que já deveria estar hoje superada por bem: a Guerra Fria. A reputação de Orwell foi erguida como poderoso lança-foguetes intelectuais contra os soviéticos; e mesmo hoje, quando o resto de Orwell já emergiu ou reemergiu, é nome que permanece congelado na década de 1950. Tony foi, é claro, tão anti-Stálin quanto qualquer outro, e crítico amargo dos que não abjuraram o Partido Comunista, mesmo que se tenham provado satisfatoriamente anti-stalinistas e, como no meu caso, já estejamos lentamente nos livrando da esperança original de outubro de 1917. Como os sionistas que se opuseram a encenações de Wagner em Israel, Tony foi dos que deixam a antipatia política atravessar-se à frente do prazer estético, descartando o poema de Brecht sobre quadros do Comintern, An die Nachgeborenen [Os Admirados por Tantos], como poema “repulsivo”, não em termos literários, mas porque inspirava pensamentos maléficos aos crentes. Mas é evidente, desde Thinking the 20th Century, que sua preocupação básica durante a fase aguda da Guerra Fria, não era a ameaça soviética contra o “mundo livre”, mas as discussões dentro da esquerda. Seu tema sempre foi Marx – não Stálin e o Gulag. É verdade que, depois de 1968, passou a ser mais um liberal de oposição militante contra a Europa Oriental, admirador dos turistas acadêmicos de direita que forneciam praticamente tudo que se publicava sobre o fim dos regimes comunistas na Europa Oriental. E isso o arrastou – e se esperaria coisa melhor dele – a criar, com outros, o conto de fadas das “revoluções de veludo” e “revoluções coloridas” de 1989 em diante. Essas revoluções jamais existiram. Foram, todas, diferentes reações à decisão dos soviéticos de sair de lá. Os verdadeiros heróis daquele período foram Gorbachev, que destruiu a URSS, e homens do velho sistema, como Suárez na Espanha de Franco e Jaruzelski na Polônia, que efetivamente conseguiram garantir uma transição pacífica e foram execrados pelos dois lados. De fato, nos anos 1980s, o liberalismo essencialmente social-democrata de Tony foi rapidamente infectado pelo neoliberalismo econômico sem regras à Hayek, de François Furet. Não creio que esse fogo-fátuo da Guerra Fria tenha sido essencial para o desenvolvimento de Tony, mas sem dúvida contribuiu para dar mais corpo e profundidade ao seu impressionante Pós-guerra.
O modo como andou pela segunda metade do século é sui generis. Até fixar-se em New York na década de 1980 e começar a escrever para a New York Review, não era historiador de grande destaque, sequer entre os especialistas anglófono sem história da França, talvez porque se tenha deixado arrastar por tempo demais pelos infindáveis debates sobre a natureza da esquerda francesa. Antes da década de 1980, Tony só era encontrado nas margens da história social, autor de um excelente estudo do socialismo na Provence entre 1871 e 1914. Sua fase francesa combinava erudição impressionante com, em minha opinião, resultados historicamente triviais: rapidamente foi convertido em assunto para torneios acadêmicos no mundo marginal e sem efeitos da Rive Gauche. Mas o que acontecia no “Les Deux Magots” e no “Flore”, embora culturalmente prestigiado, era politicamente irrelevante, comparado ao que acontecia no outro lado do boulevard St. Germain, na “Brasserie Lipp”, onde se reuniam os políticos. A política de Sartre consistia em “tomar posição”, porque nada mais havia que pudesse fazer; e De Gaulle sabia disso. Em qualquer caso, a esquerda raras vezes chegou ao poder, e provavelmente os únicos intelectuais que chegaram a primeiro-ministro foram Léon Blum em 1936 e – ou, pelo menos, foi uma boa imitação – Mitterrand. Mediante as mais fantásticas acrobacias intelectuais, cujo absurdo Tony não precisou trabalhar muito para demonstrar, intelectuais de esquerda faziam o que podiam para dar conta de uma situação nacional única, e do seu próprio isolamento, no país que inventou a palavra “obreirismo” [orig. “ouvrierisme”], quer dizer: operários que absolutamente não acreditavam em intelectuais.
Quatro coisas modelaram a história francesa nos séculos XIX e XX: a República nasceu da Grande Revolução incompleta; o estado napoleônico centralizado; o papel político crucial atribuído a uma classe trabalhadora pequena demais e desorganizada demais; e o longo declínio da França, da posição que tivera antes de 1789, como o Império do Meio da Europa, tão confiante quanto a China na própria superioridade cultural e linguística. Foi a “capital do século XIX”, sobretudo aos olhos estrangeiros, mas depois de Waterloo, deslizou lenta e não continuamente, mas sempre para baixo, em termos de força militar, poder internacional e centralidade cultural. Sem um Lênin e privada de Napoleão, a França recolheu-se como um último – e esperemos, indestrutível – reduto, o mundo de Astérix. A moda pós-guerra para pensadores parisienses mal disfarçava a retirada coletiva para uma introversão de Hexágono e para dentro da última fortaleza da intelectualidade francesa, o pensamento cartesiano e suas arrogâncias adjuntas. Não havia qualquer outro modelo na educação superior e nas ciências, no desenvolvimento econômico, nem – como se vê pela penetração tardia das ideias de Marx – na ideologia da Revolução. O problema dos intelectuais de esquerda foi como se entenderem com uma França essencialmente não revolucionária. O problema, para os de direita, muitos dos quais ex-comunistas, foi como fazer as exéquias do evento fundacional e da tradição formativa da República, a Revolução Francesa, tarefa equivalente, na dificuldade, à de escrever a Constituição Americana a partir da história dos Estados Unidos. É missão impossível. Não podia ser feito, nem por operadores muito inteligentes e poderosos como Furet; nem Tony, mesmo que sobrevivesse, poderia ter restaurado a social-democracia que sempre fora seu ideal.
Tony tinha feito seu nome como um brutamontes da acadêmica. Sua posição padrão era de legista: não de juiz, mas de advogado, cujo objetivo não é nem a verdade nem a verossimilhança, mas ganhar a causa. Não é crucialmente importante investigar as próprias possíveis fraquezas, embora seja o que deva fazer o historiador de grandes espaços, longos períodos e processos complexos. Mas nem as décadas formativas, como intelectual de acusação, impediram que Tony se transformasse em historiador maduro, atento e bem informado. Seu grande trabalho nessa condição foi, sem dúvida, o gigantesco calço, Pós-guerra: Uma História da Europa desde 1945. Era e é um livro ambicioso, embora um pouco desequilibrado. Não estou convencido de que a perspectiva do livro parecerá adequada aos que o leiam agora pela primeira vez, sete anos depois da publicação. Apesar disso, garanto, por experiência pessoal, que grandes trabalhos de síntese histórica baseados em fontes secundárias e na observação da história contemporânea só podem ser escritos na maturidade. Bem poucos historiadores têm jeito para atacar objeto tão imenso, ou para levá-lo até uma conclusão. O livro é um impressionante trabalho. Se por mais não for, porque qualquer trabalho que tome a narrativa até o momento presente já carrega em si a própria obsolescência e tem futuro incerto. Mas talvez tenha maior sobrevida como referência de trabalho de narrativa crítica, porque é escrito com verve, garra e estilo. Pós-guerra fixou Tony, pela primeira vez, como figura de destaque na profissão.
Mas ele, então, já estava parando de operar como tal. No século XXI, sua posição já era menos de historiador, que de “intelectual público”, brilhante inimigo do auto-engano enfeitado com jargão de teoria, com o pavio curto do polemista natural, comentarista independente e crítico sem medo dos assuntos mundiais. Pareceu ainda mais original e radical, por ter sido defensor muito ortodoxo do “mundo livre” contra o “totalitarismo” durante a Guerra Fria, sobretudo na década de 1980. Frente a governos e ideólogos que liam vitória e dominação mundial na queda do comunismo, Tony foi suficientemente honesto consigo mesmo para reconhecer que as velhas verdades e os velhos slogans tinham de ser detonados, depois de 1989. Provavelmente, só nos sempre nervosos Estados Unidos uma tal reputação poderia ter sido construída tão rapidamente, só à base de uns poucos artigos em publicações de circulação modesta, dirigidas exclusivamente a intelectuais de academia. As páginas dos grandes veículos da mídia estavam há muito tempo abertas a Raymond Aron na França (bem claramente, uma das inspirações de Tony), ou a Habermas na Alemanha, e o impacto que pudessem ter já estava há muito tempo neutralizado. Tony estava bem consciente dos riscos pessoais e profissionais que corria, atacando as forças combinadas da empreitada de conquista americana global, dos neoconservadores e de Israel, mas foi homem bem servido do que Bismarck chamou de “bravura civil” (Zivilcourage) – qualidade notável que faltava a Isaiah Berlin, como o próprio Tony observou, talvez com alguma ironia. Diferente de escolásticos e burocratas da Rive Gauche que, como disse Auden dos poetas, “nada faziam acontecer”, Tony entendeu que uma luta contra tais novas forças faria alguma diferença. E lançou-se, ele mesmo, contra elas, com evidente prazer e engenho. Essa foi a figura que veio a ser depois do final da Guerra Fria, alargando sua perícia de acusador de corte de justiça, para vergastar os Bushs e Netanyahus e assemelhados, mais do que algum absurdo no 5ème Arrondissement ou algum professor emérito em New Jersey. Foi performance magnífica, ato de primeira classe; foi louvado por seus leitores, não só pelo que disse, mas por dizer o que muitos deles jamais teriam a coragem de dizer. Foi ainda mais eficaz, porque foi, simultaneamente, homem “de dentro” e homem “de fora”, insider e outsider: britânico, judeu, francês, eventualmente americano, mas plurinacional, mais que cosmopolita. E, sim, conhecia bem os limites do que estava fazendo. Como ele mesmo diz, os mais bem-sucedidos na tarefa de dizer a verdade ao poder não são os colunistas, mas os repórteres e fotógrafos, na onipresente mídia.
Até o início dos anos 2000 Tony tinha presença internacional, pelo menos no mundo de língua inglesa. Duraria mais que os canônicos 15 minutos de Warhol? Afortunadamente, graças aos anos de sua doença final, é possível responder a pergunta. O trabalho de Tony sobreviverá, porque, depois que adoeceu, ele pela primeira vez deixou de ver-se como acusador num tribunal e tentou formular o que realmente sabia, sentia e pensava. Thinking the 20th Century não é um grande livro ou sequer capítulo de um grande livro – e como seria, dado o modo como foi escrito? – mas é leitura essencial para quem queira saber o que historiadores contemporâneos têm a nos dizer. Ele também é um modelo de discurso civilizado na aldeia global acadêmica. Mostra que historiadores podem questionar os próprios pressupostos, examinar as próprias certezas e ver como a própria vida é modelada e remodelada pelo seu século. E, não menos importante, é um valioso memorial de um homem notável e da vida que decidiu viver.