A moeda única se transformou em um estrangulamento monetário, forçando uma faixa de economias - mais da metade da população da zona do euro - a uma recessão perpétua.
Susan Watkins
London Review of Books
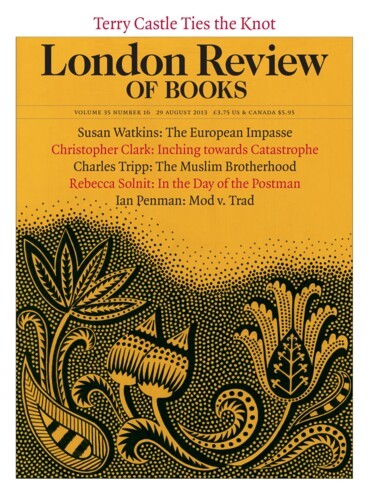 |
| Vol. 35 No. 16 · 29 August 2013 |
Un New Deal pour l'Europe
by Michel Aglietta and Thomas Brand.
Odile Jacob, 305 pp., £20, March 2013, 978 2 7381 2902 4
Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus
by Wolfgang Streeck.
Suhrkamp, 271 pp., £20, March 2013, 978 3 518 58592 4
The Crisis of the European Union: A Response
by Jürgen Habermas, translated by Ciaran Cronin.
Polity, 120 pp., £16.99, April 2012, 978 0 7456 6242 8
For Europe! Manifesto for a Postnational Revolution in Europe
by Daniel Cohn-Bendit and Guy Verhofstadt.
CreateSpace, 152 pp., £9.90, September 2012, 978 1 4792 6188 8
German Europe
by Ulrich Beck, translated by Rodney Livingstone.
Polity, 98 pp., £16.99, March 2013, 978 0 7456 6539 9
The Future of Europe: Towards a Two-Speed EU?
by Jean-Claude Piris.
Cambridge, 166 pp., £17.99, December 2011, 978 1 107 66256 8
Au Revoir, Europe: What if Britain Left the EU?
by David Charter.
Biteback, 334 pp., £14.99, December 2012, 978 1 84954 121 3
Tradução / Nada de novo no front do euro? Visto de Berlim, o continente europeu parece finalmente sob controle, depois da guerra macrofinanceira dos últimos três anos. Uma nova autoridade, conhecida como "Troika", patrulha os países que se meteram em encrencas; os governos estão obrigados a manter a boa administração doméstica. Novas medidas ainda serão necessárias em favor dos bancos - mas cada coisa a seu tempo. O euro sobreviveu; a ordem foi restaurada. O novo status quo já é uma conquista e tanto.
Vista dos parlamentos sitiados de Atenas e Madri, das lojas fechadas e das casas com janelas pregadas em Lisboa e Dublin, a moeda única se converteu numa coleira de estrangulamento, condenando várias economias - mais da metade da população europeia – a uma recessão perpétua. A economia grega perdeu um quinto do seu tamanho, os salários locais caíram 50% e dois terços dos jovens gregos estão desempregados. Na Espanha, hoje, é comum que três gerações sobrevivam à custa de um único salário, ou da pensão do avô ou da avó: o desemprego está em torno de 26%, os salários volta e meia deixam de ser pagos e a remuneração do trabalho autônomo caiu a 2 euros por hora. A Itália está em recessão há dois anos, ao fim de uma década de estagnação econômica, e 42% dos seus jovens não têm emprego. Em Portugal, dezenas de milhares de pequenos negócios familiares, a coluna vertebral da economia do país, estão fechados; e mais da metade dos que ficaram sem trabalho não tem direito a seguro-desemprego. Como ocorre na Irlanda, os jovens de 20 e poucos anos agora procuram emprego no exterior, um retorno aos padrões de emigração que ajudaram a manter seus países atolados no conservadorismo e no subdesenvolvimento por tanto tempo. Por que a crise assumiu uma forma tão grave na Europa?
Parte da resposta reside nos defeitos constitutivos da própria União Europeia. Embora os americanos tenham sido duramente atingidos pela grande recessão, o sistema político dos Estados Unidos não foi abalado. Em contraste com a maioria dos governantes europeus, Obama teve uma reeleição das mais fáceis. Foi só em bolsões isolados como Detroit que governos eleitos foram substituídos por tecnocratas. Na Europa, os níveis da dívida privada e pública eram geralmente mais baixos antes da crise financeira. Mas a organização política da União Europeia é improvisada, concebida na década de 50 para favorecer a associação industrial entre duas grandes nações, a França e a Alemanha, cada uma com uns 50 milhões de habitantes, e seus três vizinhos menores [Bélgica, Holanda e Luxemburgo]. O bloco foi sendo pouco a pouco ampliado para incorporar quase trinta Estados, dois terços dos quais adotaram uma moeda comum no auge da globalização - projeto que, em parte, visava evitar que uma Alemanha reunificada acabasse predominando sobre os demais países.
Figuram na constituição da União Europeia, entre muitas outras coisas, um Conselho Europeu (reuniões de cúpula dos chefes de seus 28 governos), com poder de decisão, a Comissão Europeia, órgão executivo com trinta diretorias gerais e amplos poderes, dotada de uma burocracia própria, um Parlamento Europeu, que discute as propostas da Comissão, e um tribunal superior criado para dirimir as disputas. E os princípios estabelecidos para a implantação do euro na década de 90 produziram uma nova camada de confusão, pois não têm qualquer relação inteligível com as instâncias descritas acima.
“O euro é essencialmente uma moeda estrangeira para todos os países da eurozona”, afirmam o economista francês Michel Aglietta e seu coautor, Thomas Brand, no livro Un New Deal pour l’Europe. “Ela os mantém presos a taxas de câmbio rigidamente fixadas sem consideração por suas realidades econômicas específicas, despojando esses países da autonomia monetária.” Para Aglietta, qualquer moeda é essencialmente um contrato social: por trás dela se encontra um fiador soberano, com o poder de taxar seus cidadãos em troca de bens e serviços públicos que lhes proporciona.
Porém, o euro não conta com esse arcabouço; baseia-se apenas numa “promessa de soberania” que nunca foi respeitada. Un New Deal pour l’Europe compara o esquema do euro, consubstanciado em 1992 no Tratado de Maastricht, com o Plano Werner para a união monetária, uma tentativa franco-alemã de proteger as economias europeias do impacto das taxas de câmbio flutuantes no início dos anos 70, quando os Estados Unidos se retiraram do sistema de Bretton Woods [que havia criado, para manter a estabilidade no pós-guerra, um sistema de taxas de câmbio administradas].
O projeto mais antigo previa que os então seis membros da Comunidade Econômica Europeia definiriam uma política fiscal comum, marcada por uma forte preocupação social. Mas a moeda única pactuada em Maastricht não era apoiada em cidadãos-contribuintes; sua meta era a estabilidade dos preços, garantida por um Banco Central Europeu independente, concebido para operar “em esplêndido isolamento”. A ideia era que o euro daria rédeas à liberalização financeira em todo o continente: a eficiência do mercado cuidaria de provocar o melhor reinvestimento possível da poupança, dando origem a uma convergência generalizada entre as economias da zona do euro.
Aglietta e Brand atribuem a diferença entre os dois planos à mudança do clima intelectual nas décadas transcorridas entre um e outro, com o triunfo do monetarismo e da teoria da escolha racional. A Europa de hoje, dizem eles, é prisioneira da decisão que seus governantes tomaram de inscrever no “mármore das instituições” o conceito falho de um banco central voltado unicamente para o cumprimento da meta de inflação.
E o contexto internacional foi igualmente importante. A moeda única podia ter funcionado para o núcleo de economias bem alinhadas entre si – a França, a Alemanha, os países do Benelux –, contemplado pelo Plano Werner. Já a arquitetura da zona do euro, rabiscada às pressas como reação à queda do Muro de Berlim, acabou fatalmente associada ao projeto de ampliação da União Europeia. Quando finalmente tomou forma, em meados da década de 90, a moeda única foi declarada ao alcance de qualquer país que alegasse atender aos critérios mínimos de convergência, num espírito de expansionismo geopolítico fortemente apoiado por Washington e Londres. O resultado, depois da conjunção entre a vaidade das maiores potências do continente e a venalidade dos Estados menores, foi um conjunto heterogêneo de dezessete economias com dinâmicas diferentes, atado a uma taxa de câmbio única e gozando de uma única avaliação de risco.
Em vez de ajudá-las a convergir, a moeda comum exacerbou as diferenças entre essas economias. A indústria nacional dos países mediterrâneos foi sufocada, na ponta mais barata, pelas importações vindas da China – têxteis, cerâmica, artigos de couro –, enquanto as empresas alemãs conquistavam uma fatia cada vez maior do mercado na outra ponta: carros, máquinas, produtos químicos. Ao mesmo tempo, o crédito fácil da bolha da globalização criou a ilusão de que a Europa se nivelava por cima, à medida que o consumo no sul era alimentado por empréstimos dos bancos do norte.
Ainda assim, a turbulência no mercado financeiro em resposta a um murmúrio de Ben Bernanke, o presidente do Banco Central americano, falando do fim da expansão monetária nos Estados Unidos foi um lembrete de que a bonança não irá durar para sempre. Cinco anos de taxa de juros zero e 14 trilhões de dólares injetados pelo Banco Central na economia americana produziram apenas um crescimento muito hesitante. A China, que enfrenta a queda de suas exportações, balança à beira de uma quebra dos bancos e dos governos locais, atolados em dívidas. A Europa se mostra vulnerável pelos dois lados: o aumento da taxa de juros irá aumentar o risco de calote dos bancos e dos seus Estados, enquanto as exportações alemãs dependem cada vez mais do boom da construção na China.
Neste verão europeu de 2013, o Banco Central alemão reviu para baixo os prognósticos de crescimento do país em 2014. O regime de austeridade ainda tem que ser testado em sua pátria de origem.
Vista dos parlamentos sitiados de Atenas e Madri, das lojas fechadas e das casas com janelas pregadas em Lisboa e Dublin, a moeda única se converteu numa coleira de estrangulamento, condenando várias economias - mais da metade da população europeia – a uma recessão perpétua. A economia grega perdeu um quinto do seu tamanho, os salários locais caíram 50% e dois terços dos jovens gregos estão desempregados. Na Espanha, hoje, é comum que três gerações sobrevivam à custa de um único salário, ou da pensão do avô ou da avó: o desemprego está em torno de 26%, os salários volta e meia deixam de ser pagos e a remuneração do trabalho autônomo caiu a 2 euros por hora. A Itália está em recessão há dois anos, ao fim de uma década de estagnação econômica, e 42% dos seus jovens não têm emprego. Em Portugal, dezenas de milhares de pequenos negócios familiares, a coluna vertebral da economia do país, estão fechados; e mais da metade dos que ficaram sem trabalho não tem direito a seguro-desemprego. Como ocorre na Irlanda, os jovens de 20 e poucos anos agora procuram emprego no exterior, um retorno aos padrões de emigração que ajudaram a manter seus países atolados no conservadorismo e no subdesenvolvimento por tanto tempo. Por que a crise assumiu uma forma tão grave na Europa?
Parte da resposta reside nos defeitos constitutivos da própria União Europeia. Embora os americanos tenham sido duramente atingidos pela grande recessão, o sistema político dos Estados Unidos não foi abalado. Em contraste com a maioria dos governantes europeus, Obama teve uma reeleição das mais fáceis. Foi só em bolsões isolados como Detroit que governos eleitos foram substituídos por tecnocratas. Na Europa, os níveis da dívida privada e pública eram geralmente mais baixos antes da crise financeira. Mas a organização política da União Europeia é improvisada, concebida na década de 50 para favorecer a associação industrial entre duas grandes nações, a França e a Alemanha, cada uma com uns 50 milhões de habitantes, e seus três vizinhos menores [Bélgica, Holanda e Luxemburgo]. O bloco foi sendo pouco a pouco ampliado para incorporar quase trinta Estados, dois terços dos quais adotaram uma moeda comum no auge da globalização - projeto que, em parte, visava evitar que uma Alemanha reunificada acabasse predominando sobre os demais países.
Figuram na constituição da União Europeia, entre muitas outras coisas, um Conselho Europeu (reuniões de cúpula dos chefes de seus 28 governos), com poder de decisão, a Comissão Europeia, órgão executivo com trinta diretorias gerais e amplos poderes, dotada de uma burocracia própria, um Parlamento Europeu, que discute as propostas da Comissão, e um tribunal superior criado para dirimir as disputas. E os princípios estabelecidos para a implantação do euro na década de 90 produziram uma nova camada de confusão, pois não têm qualquer relação inteligível com as instâncias descritas acima.
“O euro é essencialmente uma moeda estrangeira para todos os países da eurozona”, afirmam o economista francês Michel Aglietta e seu coautor, Thomas Brand, no livro Un New Deal pour l’Europe. “Ela os mantém presos a taxas de câmbio rigidamente fixadas sem consideração por suas realidades econômicas específicas, despojando esses países da autonomia monetária.” Para Aglietta, qualquer moeda é essencialmente um contrato social: por trás dela se encontra um fiador soberano, com o poder de taxar seus cidadãos em troca de bens e serviços públicos que lhes proporciona.
Porém, o euro não conta com esse arcabouço; baseia-se apenas numa “promessa de soberania” que nunca foi respeitada. Un New Deal pour l’Europe compara o esquema do euro, consubstanciado em 1992 no Tratado de Maastricht, com o Plano Werner para a união monetária, uma tentativa franco-alemã de proteger as economias europeias do impacto das taxas de câmbio flutuantes no início dos anos 70, quando os Estados Unidos se retiraram do sistema de Bretton Woods [que havia criado, para manter a estabilidade no pós-guerra, um sistema de taxas de câmbio administradas].
O projeto mais antigo previa que os então seis membros da Comunidade Econômica Europeia definiriam uma política fiscal comum, marcada por uma forte preocupação social. Mas a moeda única pactuada em Maastricht não era apoiada em cidadãos-contribuintes; sua meta era a estabilidade dos preços, garantida por um Banco Central Europeu independente, concebido para operar “em esplêndido isolamento”. A ideia era que o euro daria rédeas à liberalização financeira em todo o continente: a eficiência do mercado cuidaria de provocar o melhor reinvestimento possível da poupança, dando origem a uma convergência generalizada entre as economias da zona do euro.
Aglietta e Brand atribuem a diferença entre os dois planos à mudança do clima intelectual nas décadas transcorridas entre um e outro, com o triunfo do monetarismo e da teoria da escolha racional. A Europa de hoje, dizem eles, é prisioneira da decisão que seus governantes tomaram de inscrever no “mármore das instituições” o conceito falho de um banco central voltado unicamente para o cumprimento da meta de inflação.
E o contexto internacional foi igualmente importante. A moeda única podia ter funcionado para o núcleo de economias bem alinhadas entre si – a França, a Alemanha, os países do Benelux –, contemplado pelo Plano Werner. Já a arquitetura da zona do euro, rabiscada às pressas como reação à queda do Muro de Berlim, acabou fatalmente associada ao projeto de ampliação da União Europeia. Quando finalmente tomou forma, em meados da década de 90, a moeda única foi declarada ao alcance de qualquer país que alegasse atender aos critérios mínimos de convergência, num espírito de expansionismo geopolítico fortemente apoiado por Washington e Londres. O resultado, depois da conjunção entre a vaidade das maiores potências do continente e a venalidade dos Estados menores, foi um conjunto heterogêneo de dezessete economias com dinâmicas diferentes, atado a uma taxa de câmbio única e gozando de uma única avaliação de risco.
Em vez de ajudá-las a convergir, a moeda comum exacerbou as diferenças entre essas economias. A indústria nacional dos países mediterrâneos foi sufocada, na ponta mais barata, pelas importações vindas da China – têxteis, cerâmica, artigos de couro –, enquanto as empresas alemãs conquistavam uma fatia cada vez maior do mercado na outra ponta: carros, máquinas, produtos químicos. Ao mesmo tempo, o crédito fácil da bolha da globalização criou a ilusão de que a Europa se nivelava por cima, à medida que o consumo no sul era alimentado por empréstimos dos bancos do norte.
Quando a crise chegou, em setembro de 2008, os governos da União Europeia alinharam-se lealmente às diretrizes do G20, comprometendo recursos públicos para salvar os bancos e manter as economias à tona. A “Iniciativa de Viena”, em 2009, cobriu as posições expostas dos grandes bancos alemães e austríacos na Europa Central e Oriental com recursos dos governos e do Fundo Monetário Internacional. No início de 2010, o resgate dos bancos, combinado às recessões exacerbadas pelo estouro das bolhas imobiliárias, tinha ampliado os déficits e multiplicado as dívidas dos governos. As agências de classificação começaram a baixar a nota dos países mais endividados – Grécia, depois Irlanda, Portugal, Itália e Espanha. As especulações em torno de uma saída desses países da zona do euro ou de um colapso da moeda única ajudaram a levar a níveis impagáveis o custo de rolamento das dívidas desses países.
O que se seguiu foi um cabo de guerra de trinta meses entre os mercados financeiros e o governo Obama, de um lado, e Berlim e o Banco Central Europeu, de outro, ao fim do qual a Alemanha acabou concordando, a contragosto, em garantir as dívidas dos outros Estados-membros, à condição de poder ditar as linhas mestras de seus orçamentos. “Só damos garantias se tivermos o controle”, declarou Angela Merkel. De fato, a Alemanha é que acabou ocupando o lugar do poder soberano ausente de que fala Aglietta.
Toda vez que o pânico quase prevaleceu – em maio e novembro de 2010 com o resgate da Grécia e da Irlanda, em novembro de 2011 com as quedas dos governos da Grécia e da Itália, no verão de 2012 com as eleições gregas e o espectro de um colapso da banca espanhola –, Berlim sempre acabou cedendo às exigências do Tesouro dos Estados Unidos.
A única tentativa feita por Merkel de forjar um caminho independente, o Acordo de Deauville, de outubro de 2010, visando forçar os credores da Grécia a abrir mão de receber uma parte dos seus empréstimos, foi rapidamente esmagada. O governo americano mostrou-se sempre disposto a aceitar as medidas alemãs de austeridade – o próprio Obama telefonou ao premiê espanhol Zapatero em maio de 2010 para passar-lhe um sermão sobre a necessidade de cortes de gastos –, com a condição de que os elos que ligam as dívidas europeias a Wall Street continuassem devidamente garantidos.
Em maio de 2010, o Conselho Europeu concordou em criar um organismo temporário, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, com recursos de 440 bilhões de euros, mais tarde suplementado por um organismo permanente, com recursos de 500 bilhões de euros, chamado Mecanismo Europeu de Estabilidade. Subscritas pelas potências da zona do euro (com a ajuda dos bancos Goldman Sachs, BNP Paribas, Société Générale e RBS), essas entidades captariam dinheiro nos mercados a fim de fornecer empréstimos a qualquer país que precisasse de ajuda para honrar os pagamentos de juros sobre a sua dívida nacional, à condição de que o país concordasse com um programa de austeridade fiscal administrado de fora, além de reformas estruturais. Para os mercados financeiros, porém, o que importava não eram as medidas econômicas inspiradas por Berlim, mas uma garantia duradoura do Banco Central Europeu. E isso, por sua vez, envolvia uma mudança de guarda no banco, que para tanto precisaria abandonar seu mandato original, que excluía o salvamento de países endividados.
Por insistência de Angela Merkel, uma cobertura ideológica foi fornecida pelo Tratado de Pacto Fiscal, que obrigou os Estados-membros a incluir em suas constituições um limite de 3% do Produto Interno Bruto para o déficit público [saldo negativo entre receitas e despesas do governo]. Depois que esse acordo foi obtido em dezembro de 2011, o Banco Central Europeu emprestou 1 trilhão de dólares a vários bancos na zona do euro, em longo prazo e com taxas super-reduzidas. Mas nem isso bastaria; foi só em setembro de 2012, quando o banco anunciou que estava disposto a comprar quantidades ilimitadas de títulos dos países-membros – novamente com condições estritas –, que as apostas do mercado contra o euro foram retiradas da mesa e o furor em torno da política monetária europeia se atenuou.
O que se seguiu foi um cabo de guerra de trinta meses entre os mercados financeiros e o governo Obama, de um lado, e Berlim e o Banco Central Europeu, de outro, ao fim do qual a Alemanha acabou concordando, a contragosto, em garantir as dívidas dos outros Estados-membros, à condição de poder ditar as linhas mestras de seus orçamentos. “Só damos garantias se tivermos o controle”, declarou Angela Merkel. De fato, a Alemanha é que acabou ocupando o lugar do poder soberano ausente de que fala Aglietta.
Toda vez que o pânico quase prevaleceu – em maio e novembro de 2010 com o resgate da Grécia e da Irlanda, em novembro de 2011 com as quedas dos governos da Grécia e da Itália, no verão de 2012 com as eleições gregas e o espectro de um colapso da banca espanhola –, Berlim sempre acabou cedendo às exigências do Tesouro dos Estados Unidos.
A única tentativa feita por Merkel de forjar um caminho independente, o Acordo de Deauville, de outubro de 2010, visando forçar os credores da Grécia a abrir mão de receber uma parte dos seus empréstimos, foi rapidamente esmagada. O governo americano mostrou-se sempre disposto a aceitar as medidas alemãs de austeridade – o próprio Obama telefonou ao premiê espanhol Zapatero em maio de 2010 para passar-lhe um sermão sobre a necessidade de cortes de gastos –, com a condição de que os elos que ligam as dívidas europeias a Wall Street continuassem devidamente garantidos.
Em maio de 2010, o Conselho Europeu concordou em criar um organismo temporário, o Fundo Europeu de Estabilização Financeira, com recursos de 440 bilhões de euros, mais tarde suplementado por um organismo permanente, com recursos de 500 bilhões de euros, chamado Mecanismo Europeu de Estabilidade. Subscritas pelas potências da zona do euro (com a ajuda dos bancos Goldman Sachs, BNP Paribas, Société Générale e RBS), essas entidades captariam dinheiro nos mercados a fim de fornecer empréstimos a qualquer país que precisasse de ajuda para honrar os pagamentos de juros sobre a sua dívida nacional, à condição de que o país concordasse com um programa de austeridade fiscal administrado de fora, além de reformas estruturais. Para os mercados financeiros, porém, o que importava não eram as medidas econômicas inspiradas por Berlim, mas uma garantia duradoura do Banco Central Europeu. E isso, por sua vez, envolvia uma mudança de guarda no banco, que para tanto precisaria abandonar seu mandato original, que excluía o salvamento de países endividados.
Por insistência de Angela Merkel, uma cobertura ideológica foi fornecida pelo Tratado de Pacto Fiscal, que obrigou os Estados-membros a incluir em suas constituições um limite de 3% do Produto Interno Bruto para o déficit público [saldo negativo entre receitas e despesas do governo]. Depois que esse acordo foi obtido em dezembro de 2011, o Banco Central Europeu emprestou 1 trilhão de dólares a vários bancos na zona do euro, em longo prazo e com taxas super-reduzidas. Mas nem isso bastaria; foi só em setembro de 2012, quando o banco anunciou que estava disposto a comprar quantidades ilimitadas de títulos dos países-membros – novamente com condições estritas –, que as apostas do mercado contra o euro foram retiradas da mesa e o furor em torno da política monetária europeia se atenuou.
A União Europeia que emergiu desse épico combate é significativamente mais autocrática, dominada pela Alemanha e de direita, além de desprovida de qualquer charme compensatório. É bem verdade que ficou provado que os catastrofistas estavam enganados. Longe de se desintegrar, a zona do euro continua a se expandir. A Letônia irá adotar o euro em 2014, como a Estônia já fez em 2011. A Croácia entrou para a União Europeia nos últimos meses. Mas o bloco não se limitou a se arrastar para fora da lama. Enfunado pelos mercados financeiros, com o Tesouro americano e a Chancelaria alemã no timão, zarpou rumo a uma nova etapa de sua unificação, caracterizada pela mesma combinação que vem orientando seus rumos desde Maastricht:- integração assimétrica associada a um crescimento não igualitário.
Em nível supranacional, “os controles” exigidos por Berlim produziram um diretório econômico ad hoc sem qualquer legitimação além da própria emergência. A Troika – que não tem nome oficial – foi formada às pressas em abril de 2010 para assumir a direção da economia grega, como condição para o primeiro empréstimo feito à Grécia pelo Fundo de Estabilização. Formada por funcionários da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do FMI, ela hoje governa Portugal, Irlanda, Chipre e Grécia, e foi inscrita em caráter permanente no Mecanismo Europeu de Estabilidade.
A Troika emite memorandos de entendimento seguindo o modelo de atuação do FMI, ditando cada detalhe dos programas que os Estados-membros devem aprovar em seus Legislativos: “O governo assegura que a legislação” – prevendo cortes na saúde e na educação e de gorduras do setor público, além de reduções nas aposentadorias pagas pelo Estado – “será apresentada ao Parlamento no Trimestre 3 e aprovada pelo Parlamento no Trimestre 4”; “o governo apresentará um Plano de Privatização ao Parlamento e cuidará para que seja aprovado sem demora”; e até, “o governo deverá apresentar ex ante, para discussão, a adoção de quaisquer medidas não previstas neste Memorando”.
Os resultados da administração econômica da Troika foram chocantes. Previa-se que o PIB da Grécia fosse cair 5% entre 2009 e 2012; já caiu 17%, e continua desabando. O desemprego não deveria superar 15% em 2012; já ultrapassou 25%, e segue em alta. Ninguém foi considerado responsável por essa verdadeira debacle. Novas rodadas de cortes estão previstas para 2013, sem que se conheçam suas razões econômicas. Outros 15 mil trabalhadores do setor público ainda precisam ser demitidos para que as metas do atual trimestre sejam atingidas; todos os funcionários da emissora estatal grega de rádio e televisão foram dispensados. Os gastos hospitalares devem sofrer um corte de 5%, depois dos 8% de 2012, e a Troika pretende ver uma redução ainda mais substancial no número total de leitos hospitalares disponíveis no país.
O componente mais agressivo da Troika é a Diretoria de Assuntos Econômicos e Financeiros da Comissão Europeia. Sua face pública é o louro e corpulento Olli Rehn, geralmente fotografado admoestando legisladores mediterrâneos, como um vice-rei. Em sua Finlândia natal ele é comparado a Bobrikov, o detestado governador-geral da época czarista que tiranizou o país nos primeiros anos do século XX até ser abatido a tiros por um patriota.
Como muitos outros comissários europeus, Rehn tinha sido sumariamente rejeitado pelos eleitores de seu próprio país. Formado nos Estados Unidos e na Universidade de Oxford, no Reino Unido, ingressou no Parlamento de Helsinki em 1991, aos 29 anos, e logo foi cedido ao gabinete de Esko Aho, o primeiro-ministro do Partido do Centro. O governo de Aho era detestado devido aos radicais cortes de despesas que impôs, exacerbando a recessão já grave do início da década de 90. Quando o partido se viu transferido para a bancada oposicionista nas eleições de 1995, Rehn acabou a caminho de Bruxelas, onde obteve o excelente emprego de chefe de gabinete do representante finlandês na Comissão Europeia, cujos sapatos viria finalmente a calçar em 2004. (Aho tornou-se vice-presidente executivo da Nokia.)
Sua primeira missão foi a ampliação do bloco; Romênia e Bulgária foram admitidas no rebanho em 2007 (indícios maciços de corrupção política e econômica nesses países foram varridos para debaixo do tapete). Discípulo ardoroso do ministro das Finanças de Merkel, Wolfgang Schäuble, e de sua postura linha dura em relação à disciplina orçamentária, Rehn foi promovido à Diretoria de Assuntos Econômicos e Financeiros no momento em que a crise grega entrava em erupção, em 2010.
Desde então, o Conselho Europeu prorrogou várias vezes o mandato da Comissão Europeia para “controle e decisão econômicos”. Primeiro veio o Semestre Europeu (2010), um novo processo em que Bruxelas definiu metas para todos os Estados-membros, cujos orçamentos, a partir de então, passaram a ser submetidos ao gabinete de Rehn antes de apresentados aos respectivos parlamentos. Países considerados “em risco” ficaram sujeitos aos “procedimentos de déficit excessivo”, e podem ser multados em até 0,2% do respectivo PIB. Uma série de acordos intergovernamentais (o Pacto Euro Plus em 2011, o Pacto Fiscal de 2012) e regras da União Europeia (conhecidas em seu jargão medonho como “pacote de seis” e “pacote de dois”) a eles superpostas deram à Comissão poderes ainda maiores de intervenção caso algum Estado persistisse em desobedecer a suas instruções estritas para reduzir salários, aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho e proceder aos cortes orçamentários prescritos.
Em nível supranacional, “os controles” exigidos por Berlim produziram um diretório econômico ad hoc sem qualquer legitimação além da própria emergência. A Troika – que não tem nome oficial – foi formada às pressas em abril de 2010 para assumir a direção da economia grega, como condição para o primeiro empréstimo feito à Grécia pelo Fundo de Estabilização. Formada por funcionários da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu e do FMI, ela hoje governa Portugal, Irlanda, Chipre e Grécia, e foi inscrita em caráter permanente no Mecanismo Europeu de Estabilidade.
A Troika emite memorandos de entendimento seguindo o modelo de atuação do FMI, ditando cada detalhe dos programas que os Estados-membros devem aprovar em seus Legislativos: “O governo assegura que a legislação” – prevendo cortes na saúde e na educação e de gorduras do setor público, além de reduções nas aposentadorias pagas pelo Estado – “será apresentada ao Parlamento no Trimestre 3 e aprovada pelo Parlamento no Trimestre 4”; “o governo apresentará um Plano de Privatização ao Parlamento e cuidará para que seja aprovado sem demora”; e até, “o governo deverá apresentar ex ante, para discussão, a adoção de quaisquer medidas não previstas neste Memorando”.
Os resultados da administração econômica da Troika foram chocantes. Previa-se que o PIB da Grécia fosse cair 5% entre 2009 e 2012; já caiu 17%, e continua desabando. O desemprego não deveria superar 15% em 2012; já ultrapassou 25%, e segue em alta. Ninguém foi considerado responsável por essa verdadeira debacle. Novas rodadas de cortes estão previstas para 2013, sem que se conheçam suas razões econômicas. Outros 15 mil trabalhadores do setor público ainda precisam ser demitidos para que as metas do atual trimestre sejam atingidas; todos os funcionários da emissora estatal grega de rádio e televisão foram dispensados. Os gastos hospitalares devem sofrer um corte de 5%, depois dos 8% de 2012, e a Troika pretende ver uma redução ainda mais substancial no número total de leitos hospitalares disponíveis no país.
O componente mais agressivo da Troika é a Diretoria de Assuntos Econômicos e Financeiros da Comissão Europeia. Sua face pública é o louro e corpulento Olli Rehn, geralmente fotografado admoestando legisladores mediterrâneos, como um vice-rei. Em sua Finlândia natal ele é comparado a Bobrikov, o detestado governador-geral da época czarista que tiranizou o país nos primeiros anos do século XX até ser abatido a tiros por um patriota.
Como muitos outros comissários europeus, Rehn tinha sido sumariamente rejeitado pelos eleitores de seu próprio país. Formado nos Estados Unidos e na Universidade de Oxford, no Reino Unido, ingressou no Parlamento de Helsinki em 1991, aos 29 anos, e logo foi cedido ao gabinete de Esko Aho, o primeiro-ministro do Partido do Centro. O governo de Aho era detestado devido aos radicais cortes de despesas que impôs, exacerbando a recessão já grave do início da década de 90. Quando o partido se viu transferido para a bancada oposicionista nas eleições de 1995, Rehn acabou a caminho de Bruxelas, onde obteve o excelente emprego de chefe de gabinete do representante finlandês na Comissão Europeia, cujos sapatos viria finalmente a calçar em 2004. (Aho tornou-se vice-presidente executivo da Nokia.)
Sua primeira missão foi a ampliação do bloco; Romênia e Bulgária foram admitidas no rebanho em 2007 (indícios maciços de corrupção política e econômica nesses países foram varridos para debaixo do tapete). Discípulo ardoroso do ministro das Finanças de Merkel, Wolfgang Schäuble, e de sua postura linha dura em relação à disciplina orçamentária, Rehn foi promovido à Diretoria de Assuntos Econômicos e Financeiros no momento em que a crise grega entrava em erupção, em 2010.
Desde então, o Conselho Europeu prorrogou várias vezes o mandato da Comissão Europeia para “controle e decisão econômicos”. Primeiro veio o Semestre Europeu (2010), um novo processo em que Bruxelas definiu metas para todos os Estados-membros, cujos orçamentos, a partir de então, passaram a ser submetidos ao gabinete de Rehn antes de apresentados aos respectivos parlamentos. Países considerados “em risco” ficaram sujeitos aos “procedimentos de déficit excessivo”, e podem ser multados em até 0,2% do respectivo PIB. Uma série de acordos intergovernamentais (o Pacto Euro Plus em 2011, o Pacto Fiscal de 2012) e regras da União Europeia (conhecidas em seu jargão medonho como “pacote de seis” e “pacote de dois”) a eles superpostas deram à Comissão poderes ainda maiores de intervenção caso algum Estado persistisse em desobedecer a suas instruções estritas para reduzir salários, aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho e proceder aos cortes orçamentários prescritos.
Os novos poderes da Comissão Europeia e da Troika assinalam uma diminuição real do controle democrático. Antes da crise, a União Europeia deixava as decisões mais importantes sobre impostos, aposentadorias, seguro-desemprego, gastos públicos, saúde e educação por conta dos governos nacionais, considerando que essas questões eram sensíveis e demandavam legitimação parlamentar. Hoje, na prática, elas só dependem dos ditames dos funcionários da União Europeia. As aparências constitucionais só foram preservadas, até agora, porque as maiorias parlamentares cuidaram de aprovar as medidas de emergência.
Nos países onde o desemprego e as dificuldades econômicas só fazem crescer, porém, os congressistas só conservam o apoio de uma minoria dos eleitores. Na Grécia, menos de 30% do eleitorado total votou em favor da coalizão de centro-direita vitoriosa em junho de 2012; esses eleitores eram na maioria pensionistas e moradores do campo, preocupados com suas economias, enquanto nas cidades maiores e entre os menores de 55 anos a maioria votava a favor do partido Syriza, contrário ao Memorando da Troika. Na Espanha, o Partido Popular, atualmente no governo, só tem 32% de apoio nas pesquisas, os socialistas de centro-esquerda estão ainda mais fracos e o aperto no orçamento decidido em Madri é ferozmente contestado pela Catalunha. Na Itália, mais da metade dos eleitores optou por partidos “eurocéticos” em fevereiro de 2013.
Será a democracia eleitoral compatível com o tipo de política econômica que a União Europeia – apoiada a distância por Washington e Wall Street – pretende impor? Eis a questão que propõe o sociólogo Wolfgang Streeck, que vive em Colônia, na Alemanha, em Gekaufte Zeit, um livro que vem provocando grande polêmica em seu país. Segundo Streeck, depois que as taxas de crescimento da economia ocidental começaram a cair na década de 70, tornou-se cada vez mais difícil para os políticos ajustarem as exigências de lucratividade às do sucesso eleitoral; as tentativas de fazê-lo (de “ganhar” ou “comprar tempo” – Gekaufte Zeit significa “tempo comprado”) resultaram em déficits no gasto público e no crescimento das dívidas privadas.
A crise levou a extremos o conflito de interesses entre os mercados financeiros e a vontade popular: sempre que se aproxima uma eleição, os investidores especulam com o “risco”. Na Europa, a saída, segundo Streeck, será capitalista ou democrática, nunca as duas coisas ao mesmo tempo; dado o equilíbrio de forças atual, tudo indica que é a primeira que irá prevalecer. Ao alcance dos cidadãos só restarão as palavras – ou as pedras do calçamento.
A reação de Bruxelas ao encolhimento da democracia tem sido propor um “aumento equivalente” para o papel do Parlamento Europeu, o que emprestaria legitimidade democrática aos poderes aumentados da Comissão; mas nesse ponto esbarramos numa limitação constitucional do Parlamento Europeu. Seu processo eleitoral não pode ter o resultado que os eleitores esperam de eleições parlamentares – ou seja, não determina a composição de um governo.
A primeira encarnação do Parlamento Europeu, a Assembleia Comum, foi criada em 1951 a partir de uma reunião de congressistas dos parlamentos nacionais, de modo a criar um conselho teoricamente democrático para a Alta Autoridade da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, órgão precursor da Comissão Europeia. A Assembleia tinha o poder de destituir a Alta Autoridade e aprovar seu orçamento. Desde o início, porém, essas duas instituições tinham uma relação de cooperação estreita, porque isso reforçava seu poder de barganha diante dos governos nacionais, representados no Conselho de Ministros e mais tarde no Conselho Europeu.
Charles de Gaulle zombava da ideia de eleições diretas para a escolha de um órgão consultivo europeu, mas, na década de 70, Giscard D’Estaing autorizou que elas se realizassem. As primeiras eleições europeias ocorreram em 1979, mas a função do Parlamento Europeu ainda era de aconselhamento. Seus membros não eram legisladores; sua tarefa consistia apenas em emitir um parecer sobre as diretrizes traçadas pela Comissão Europeia e aprovadas pelo Conselho.
A ampliação das atribuições do Parlamento Europeu nos últimos vinte anos dotou-o da capacidade de propor emendas às propostas da Comissão – que o Conselho ainda assim pode vetar. A cooperação inicial persiste: a vasta maioria das diretrizes é acertada de antemão em “triálogos” informais entre representantes da Comissão, do Conselho e do Parlamento europeus. A condição para que um membro do Parlamento tenha uma emenda adotada é que ela seja considerada aceitável pelas outras duas instituições, e não sua importância para os eleitores da Europa.
A maior parte do trabalho dos parlamentares europeus se dá nas vinte e poucas comissões do Parlamento que cobrem áreas específicas: política externa, agricultura, transporte, Justiça, o Orçamento da União Europeia. As nomeações para as comissões são controladas pelas lideranças dos grupos partidários – o Partido Popular Europeu, de centro-direita; o Socialistas & Democratas, de centro-esquerda; a liberal Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa – e distribuídas em base proporcional. Nas plenárias realizadas mensalmente em Estrasburgo, os grupos partidários emitem orientações para guiar seus membros na votação de uma série estonteante de resoluções, que regem do funcionamento dos aeroportos no bloco à produção de rações para animais.
O Partido Popular Europeu e o Socialistas & Democratas controlam dois terços das cadeiras no Parlamento Europeu, de maneira que um acordo entre seus líderes já basta para garantir a maioria dos votos. A Comissão Europeia só teve elogios para a velocidade com que as comissões e os grupos partidários do Parlamento deram sua aprovação às medidas draconianas adotadas para a zona do euro. Numa guinada para conferir algum verniz democrático à Comissão Europeia, nas eleições para o Parlamento previstas para maio de 2014 cada um dos grupos partidários deverá indicar um candidato à presidência da Comissão, sucedendo o desafortunado português Durão Barroso. Se o comparecimento às urnas continuar caindo como vem ocorrendo desde 1979, o vencedor pode terminar tendo o apoio de menos de 10% do total de eleitores europeus. Em suma, o Parlamento Europeu parece encontrar-se além de qualquer possibilidade de reforma.
Nos países onde o desemprego e as dificuldades econômicas só fazem crescer, porém, os congressistas só conservam o apoio de uma minoria dos eleitores. Na Grécia, menos de 30% do eleitorado total votou em favor da coalizão de centro-direita vitoriosa em junho de 2012; esses eleitores eram na maioria pensionistas e moradores do campo, preocupados com suas economias, enquanto nas cidades maiores e entre os menores de 55 anos a maioria votava a favor do partido Syriza, contrário ao Memorando da Troika. Na Espanha, o Partido Popular, atualmente no governo, só tem 32% de apoio nas pesquisas, os socialistas de centro-esquerda estão ainda mais fracos e o aperto no orçamento decidido em Madri é ferozmente contestado pela Catalunha. Na Itália, mais da metade dos eleitores optou por partidos “eurocéticos” em fevereiro de 2013.
Será a democracia eleitoral compatível com o tipo de política econômica que a União Europeia – apoiada a distância por Washington e Wall Street – pretende impor? Eis a questão que propõe o sociólogo Wolfgang Streeck, que vive em Colônia, na Alemanha, em Gekaufte Zeit, um livro que vem provocando grande polêmica em seu país. Segundo Streeck, depois que as taxas de crescimento da economia ocidental começaram a cair na década de 70, tornou-se cada vez mais difícil para os políticos ajustarem as exigências de lucratividade às do sucesso eleitoral; as tentativas de fazê-lo (de “ganhar” ou “comprar tempo” – Gekaufte Zeit significa “tempo comprado”) resultaram em déficits no gasto público e no crescimento das dívidas privadas.
A crise levou a extremos o conflito de interesses entre os mercados financeiros e a vontade popular: sempre que se aproxima uma eleição, os investidores especulam com o “risco”. Na Europa, a saída, segundo Streeck, será capitalista ou democrática, nunca as duas coisas ao mesmo tempo; dado o equilíbrio de forças atual, tudo indica que é a primeira que irá prevalecer. Ao alcance dos cidadãos só restarão as palavras – ou as pedras do calçamento.
A reação de Bruxelas ao encolhimento da democracia tem sido propor um “aumento equivalente” para o papel do Parlamento Europeu, o que emprestaria legitimidade democrática aos poderes aumentados da Comissão; mas nesse ponto esbarramos numa limitação constitucional do Parlamento Europeu. Seu processo eleitoral não pode ter o resultado que os eleitores esperam de eleições parlamentares – ou seja, não determina a composição de um governo.
A primeira encarnação do Parlamento Europeu, a Assembleia Comum, foi criada em 1951 a partir de uma reunião de congressistas dos parlamentos nacionais, de modo a criar um conselho teoricamente democrático para a Alta Autoridade da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, órgão precursor da Comissão Europeia. A Assembleia tinha o poder de destituir a Alta Autoridade e aprovar seu orçamento. Desde o início, porém, essas duas instituições tinham uma relação de cooperação estreita, porque isso reforçava seu poder de barganha diante dos governos nacionais, representados no Conselho de Ministros e mais tarde no Conselho Europeu.
Charles de Gaulle zombava da ideia de eleições diretas para a escolha de um órgão consultivo europeu, mas, na década de 70, Giscard D’Estaing autorizou que elas se realizassem. As primeiras eleições europeias ocorreram em 1979, mas a função do Parlamento Europeu ainda era de aconselhamento. Seus membros não eram legisladores; sua tarefa consistia apenas em emitir um parecer sobre as diretrizes traçadas pela Comissão Europeia e aprovadas pelo Conselho.
A ampliação das atribuições do Parlamento Europeu nos últimos vinte anos dotou-o da capacidade de propor emendas às propostas da Comissão – que o Conselho ainda assim pode vetar. A cooperação inicial persiste: a vasta maioria das diretrizes é acertada de antemão em “triálogos” informais entre representantes da Comissão, do Conselho e do Parlamento europeus. A condição para que um membro do Parlamento tenha uma emenda adotada é que ela seja considerada aceitável pelas outras duas instituições, e não sua importância para os eleitores da Europa.
A maior parte do trabalho dos parlamentares europeus se dá nas vinte e poucas comissões do Parlamento que cobrem áreas específicas: política externa, agricultura, transporte, Justiça, o Orçamento da União Europeia. As nomeações para as comissões são controladas pelas lideranças dos grupos partidários – o Partido Popular Europeu, de centro-direita; o Socialistas & Democratas, de centro-esquerda; a liberal Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa – e distribuídas em base proporcional. Nas plenárias realizadas mensalmente em Estrasburgo, os grupos partidários emitem orientações para guiar seus membros na votação de uma série estonteante de resoluções, que regem do funcionamento dos aeroportos no bloco à produção de rações para animais.
O Partido Popular Europeu e o Socialistas & Democratas controlam dois terços das cadeiras no Parlamento Europeu, de maneira que um acordo entre seus líderes já basta para garantir a maioria dos votos. A Comissão Europeia só teve elogios para a velocidade com que as comissões e os grupos partidários do Parlamento deram sua aprovação às medidas draconianas adotadas para a zona do euro. Numa guinada para conferir algum verniz democrático à Comissão Europeia, nas eleições para o Parlamento previstas para maio de 2014 cada um dos grupos partidários deverá indicar um candidato à presidência da Comissão, sucedendo o desafortunado português Durão Barroso. Se o comparecimento às urnas continuar caindo como vem ocorrendo desde 1979, o vencedor pode terminar tendo o apoio de menos de 10% do total de eleitores europeus. Em suma, o Parlamento Europeu parece encontrar-se além de qualquer possibilidade de reforma.
Uma parte substancial da intelligentsia europeia defendeu a nova rodada de integração ditada pelos parâmetros do mercado como o melhor cenário possível. Jürgen Habermas dedica seu livro Sobre a Constituição da Europa (Unesp, 2012) a demonstrar que o equilíbrio do poder “deslocou-se dramaticamente, dentro da estrutura organizacional, em favor dos cidadãos europeus”. Embora os cidadãos propriamente ditos se mostrem lamentavelmente apáticos em relação a ela, uma democracia pós-nacional está bem encaminhada através do Parlamento Europeu; os meios de comunicação de massa deviam demonstrar maior empenho em fazer seus cidadãos tomarem consciência da importância desse momento.
Num ensaio recente opondo-se a Streeck, Habermas afirma que deixar de dar pleno apoio às medidas emergenciais na zona do euro equivale a uma capitulação ao populismo de direita. Ele espera que as eleições alemãs [deste mês de setembro] produzam uma “grande coalizão” – de democratas cristãos, social-democratas, liberais e verdes – capaz de encaminhar os projetos supranacionais de união fiscal e política da Europa. “Só a República Federal da Alemanha é capaz de responder por uma iniciativa tão difícil”, conclui ele, com o tipo de arrogância provinciana que costumava ser prerrogativa dos ingleses, mas se tornou comum na imprensa alemã.
O manifesto Pela Europa!, escrito a quatro mãos pelo verde alemão Daniel Cohn-Bendit e o liberal belga Guy Verhofstadt, faz afirmações ainda mais ambiciosas. “Só a União Europeia” será capaz de “garantir os direitos sociais de todos os cidadãos europeus e erradicar a pobreza”; “só a Europa” será capaz de resolver os problemas da globalização, das mudanças climáticas e da injustiça social; o “exemplo luminoso” da Europa “inspirou outros continentes a seguirem o caminho da cooperação regional”; “nenhum continente está mais bem equipado para renunciar a seu passado de violência e capitanear a defesa de um mundo mais pacífico”. Cohn-Bendit e Verhofstadt mostram-se ainda mais catastrofistas do que Habermas: se a moeda única fracassar, dizem eles, o mesmo ocorrerá com a União Europeia – e “2 mil anos de história correm o risco de serem simplesmente obliterados”.
Pela Europa! é um hino à disciplina, que emerge – surpreendentemente – como o tema central do liberalismo verde. Uma autoridade “forte” é necessária para “o cumprimento das regras”: “A disciplina é vital para a zona do euro.” Quando um repórter do jornal Libération perguntou-lhe se o Mecanismo Europeu de Estabilidade não seria uma “ditadura tecnocrática”, Verhofstadt preferiu defini-lo como um “estágio de transição” – afinal, os Estados-nação já existiam séculos antes do sufrágio universal.
O livro Das Deutsche Europa [Europa Alemã], do sociólogo Ulrich Beck, da Universidade de Munique, faz soar em seu início uma animadora nota crítica. Começa comentando sua incredulidade ao ouvir um locutor de rádio anunciar, no final de fevereiro de 2012, que “o Parlamento alemão decide hoje o destino da Grécia”. Para Beck, a nova hierarquia entre os países na zona do euro não tem a menor legitimidade democrática, e deriva exclusivamente do poder econômico.
A Espanha, a Grécia e a Itália estão sendo submetidas a medidas de austeridade prescritas por Berlim e planejadas tendo em mente o eleitorado alemão; em razão disso, regiões inteiras estão sendo “condenadas ao declínio social”. As nações devedoras estão sendo transformadas na nova subclasse da União Europeia. Seus direitos democráticos foram reduzidos à escolha entre permanecer na União ou abandoná-la. O que conta, para as medidas tomadas na zona do euro, é saber se irão promover ou não o interesse nacional alemão e a posição de Angela Merkel na política interna. A meta é “um neoliberalismo brutal no resto do mundo, e um consenso com matizes social-democratas dentro do país”.
Beck relaciona o universalismo “arrogante” de Berlim, sua “convicção presunçosa” de que a Alemanha tem o direito de determinar os interesses nacionais dos outros países, à anexação anterior da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental. Sua atitude “de quem acha que sabe tudo” e sua “ideia quase imperialista de superioridade” em relação aos alemães orientais tornaram-se o molde para a gestão da crise na zona do euro, com a diferença crítica de que, nesse caso, não há lugar para a solidariedade.
Mas a confiança dos mesmos “preceptores da Europa” no pacote neoliberal criado pelo chanceler social-democrata Gerhard Schröder em 2003 está equivocada, afirma Beck, pois seu efeito na Alemanha foi a criação de uma precariedade disseminada: dos novos empregos, 7,4 milhões são “miniempregos” remunerados a 400 euros mensais, 3 milhões são postos temporários, 1 milhão são empregos terceirizados. O crescimento alemão veio principalmente das exportações, inclusive para o sul da zona do euro.
Ainda assim, as prescrições finais de Beck não têm relação com seu diagnóstico. Seu entusiasmo pelas instituições que governam a economia da zona do euro, que não prestam contas a ninguém, é mais reticente que o de Habermas, Cohn-Bendit ou Verhofstadt. Como os outros, porém, ele acredita que elas precisam ser defendidas contra as acusações de se postar “acima da lei”, pois são necessárias para a salvação da ordem europeia.
O manifesto Pela Europa!, escrito a quatro mãos pelo verde alemão Daniel Cohn-Bendit e o liberal belga Guy Verhofstadt, faz afirmações ainda mais ambiciosas. “Só a União Europeia” será capaz de “garantir os direitos sociais de todos os cidadãos europeus e erradicar a pobreza”; “só a Europa” será capaz de resolver os problemas da globalização, das mudanças climáticas e da injustiça social; o “exemplo luminoso” da Europa “inspirou outros continentes a seguirem o caminho da cooperação regional”; “nenhum continente está mais bem equipado para renunciar a seu passado de violência e capitanear a defesa de um mundo mais pacífico”. Cohn-Bendit e Verhofstadt mostram-se ainda mais catastrofistas do que Habermas: se a moeda única fracassar, dizem eles, o mesmo ocorrerá com a União Europeia – e “2 mil anos de história correm o risco de serem simplesmente obliterados”.
Pela Europa! é um hino à disciplina, que emerge – surpreendentemente – como o tema central do liberalismo verde. Uma autoridade “forte” é necessária para “o cumprimento das regras”: “A disciplina é vital para a zona do euro.” Quando um repórter do jornal Libération perguntou-lhe se o Mecanismo Europeu de Estabilidade não seria uma “ditadura tecnocrática”, Verhofstadt preferiu defini-lo como um “estágio de transição” – afinal, os Estados-nação já existiam séculos antes do sufrágio universal.
O livro Das Deutsche Europa [Europa Alemã], do sociólogo Ulrich Beck, da Universidade de Munique, faz soar em seu início uma animadora nota crítica. Começa comentando sua incredulidade ao ouvir um locutor de rádio anunciar, no final de fevereiro de 2012, que “o Parlamento alemão decide hoje o destino da Grécia”. Para Beck, a nova hierarquia entre os países na zona do euro não tem a menor legitimidade democrática, e deriva exclusivamente do poder econômico.
A Espanha, a Grécia e a Itália estão sendo submetidas a medidas de austeridade prescritas por Berlim e planejadas tendo em mente o eleitorado alemão; em razão disso, regiões inteiras estão sendo “condenadas ao declínio social”. As nações devedoras estão sendo transformadas na nova subclasse da União Europeia. Seus direitos democráticos foram reduzidos à escolha entre permanecer na União ou abandoná-la. O que conta, para as medidas tomadas na zona do euro, é saber se irão promover ou não o interesse nacional alemão e a posição de Angela Merkel na política interna. A meta é “um neoliberalismo brutal no resto do mundo, e um consenso com matizes social-democratas dentro do país”.
Beck relaciona o universalismo “arrogante” de Berlim, sua “convicção presunçosa” de que a Alemanha tem o direito de determinar os interesses nacionais dos outros países, à anexação anterior da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental. Sua atitude “de quem acha que sabe tudo” e sua “ideia quase imperialista de superioridade” em relação aos alemães orientais tornaram-se o molde para a gestão da crise na zona do euro, com a diferença crítica de que, nesse caso, não há lugar para a solidariedade.
Mas a confiança dos mesmos “preceptores da Europa” no pacote neoliberal criado pelo chanceler social-democrata Gerhard Schröder em 2003 está equivocada, afirma Beck, pois seu efeito na Alemanha foi a criação de uma precariedade disseminada: dos novos empregos, 7,4 milhões são “miniempregos” remunerados a 400 euros mensais, 3 milhões são postos temporários, 1 milhão são empregos terceirizados. O crescimento alemão veio principalmente das exportações, inclusive para o sul da zona do euro.
Ainda assim, as prescrições finais de Beck não têm relação com seu diagnóstico. Seu entusiasmo pelas instituições que governam a economia da zona do euro, que não prestam contas a ninguém, é mais reticente que o de Habermas, Cohn-Bendit ou Verhofstadt. Como os outros, porém, ele acredita que elas precisam ser defendidas contra as acusações de se postar “acima da lei”, pois são necessárias para a salvação da ordem europeia.
De maneira talvez contraintuitiva, as discussões alemãs se concentram na política e na sociologia da crise europeia, enquanto as alternativas econômicas mais imaginativas vêm da França. Michel Aglietta e Jean-Luc Gréau apresentam propostas para federações orçamentárias democráticas na zona do euro, enquanto em Les Dettes Illégitimes [As Dívidas Ilegítimas] François Chesnais recorre à experiência da crise da dívida latino-americana em busca de lições que possam ser de alguma utilidade, evocando a bem-sucedida “auditoria da dívida” promovida no Equador, examinando em detalhe quais compromissos foram assumidos em nome do Estado e quais podem ser legitimamente repudiados. Aglietta também esboça um caminho passo a passo que a Grécia poderia seguir para adotar uma nova moeda, por meio de uma reestruturação da dívida e de uma desvalorização controlada, sem para tanto precisar desligar-se da União Europeia. O preço seria caro, mas não mais alto que aquele que os gregos já tiveram de pagar. (Quanto ao efeito de um calote grego nos títulos das dívidas italiana e espanhola, este preço também já foi pago.)
No número de maio do Cambridge Journal of Economics, Jacques Mazier e Pascal Petit imaginam um sistema monetário múltiplo para a Europa: um euro externo único, que flutuaria contra as outras moedas nos mercados internacionais, mas que coexistiria com euros nacionais não conversíveis, que teriam paridades fixas, mas reajustáveis dentro da Europa – uma variante do que a China imagina como um estágio intermediário para a conversibilidade do yuan.
Mas quaisquer que sejam os méritos dessas ideias, ainda faltam forças políticas que as adotem e defendam. Ainda assim, o domínio alemão ao longo de toda a crise europeia dependeu acima de tudo da complacência francesa: sob Nicolas Sarkozy, uma colaboração ativa; sob François Hollande, uma ausência passiva de oposição. Há algo de anômalo na neutralização da França como ator no palco europeu, e é disso que deve advir parte do caráter frágil da hegemonia alemã.
A explicação convencional reza que a economia francesa está sobrecarregada demais por seu legado estatista, e por isso o Palácio do Eliseu não tem como manifestar muita autoridade. Mas essa avaliação não é confirmada pelos números. A França se recuperou mais rápido da crise do que o Reino Unido. Sua dívida pública, incluindo o resgate dos bancos, é menor que a britânica, e seu setor industrial se encontra em melhor situação. O desemprego está mais acentuado, mas a renda média por família é maior, a desigualdade é menor e a infraestrutura e a assistência médica estão em outro patamar. A França tem diante de si os mesmos problemas globais de outras economias avançadas, mas o motivo de ter parado de desempenhar um papel de liderança na Europa deve ser outro – talvez um sistema político esclerosado e um fascínio intelectual pelo liberalismo atlântico, sem contar as encrencas em que os bancos BNP Paribas e a Société Générale se envolveram no estrangeiro.
No número de maio do Cambridge Journal of Economics, Jacques Mazier e Pascal Petit imaginam um sistema monetário múltiplo para a Europa: um euro externo único, que flutuaria contra as outras moedas nos mercados internacionais, mas que coexistiria com euros nacionais não conversíveis, que teriam paridades fixas, mas reajustáveis dentro da Europa – uma variante do que a China imagina como um estágio intermediário para a conversibilidade do yuan.
Mas quaisquer que sejam os méritos dessas ideias, ainda faltam forças políticas que as adotem e defendam. Ainda assim, o domínio alemão ao longo de toda a crise europeia dependeu acima de tudo da complacência francesa: sob Nicolas Sarkozy, uma colaboração ativa; sob François Hollande, uma ausência passiva de oposição. Há algo de anômalo na neutralização da França como ator no palco europeu, e é disso que deve advir parte do caráter frágil da hegemonia alemã.
A explicação convencional reza que a economia francesa está sobrecarregada demais por seu legado estatista, e por isso o Palácio do Eliseu não tem como manifestar muita autoridade. Mas essa avaliação não é confirmada pelos números. A França se recuperou mais rápido da crise do que o Reino Unido. Sua dívida pública, incluindo o resgate dos bancos, é menor que a britânica, e seu setor industrial se encontra em melhor situação. O desemprego está mais acentuado, mas a renda média por família é maior, a desigualdade é menor e a infraestrutura e a assistência médica estão em outro patamar. A França tem diante de si os mesmos problemas globais de outras economias avançadas, mas o motivo de ter parado de desempenhar um papel de liderança na Europa deve ser outro – talvez um sistema político esclerosado e um fascínio intelectual pelo liberalismo atlântico, sem contar as encrencas em que os bancos BNP Paribas e a Société Générale se envolveram no estrangeiro.
Pensando num prazo mais longo, não existe escassez de propostas para a “união econômica” e a “união política” da Europa, tópicos que cobrem uma ampla variedade de arranjos. Todos os esquemas se apoiam na premissa de que a política econômica deverá estar voltada para a redução do gasto público e do custo da mão de obra; todas veem a união política como um meio para a adoção dessas políticas; quase todas apontam o Parlamento Europeu como o mecanismo que pode conferir-lhes “legitimidade”. Onde as propostas diferem é no peso maior que atribuem aos organismos intergovernamentais ou às agências supranacionais, e nas suas versões minimalistas ou maximalistas.
As decisões dependerão não só do equilíbrio de forças entre os diversos países, mas também de choques externos, como demonstram as negociações em curso sobre a união bancária. Uma supervisão supranacional dos bancos pelo Banco Central Europeu causa pouca controvérsia; mas Berlim lidera a resistência às propostas da Comissão Europeia em favor de um seguro de depósitos vigente em todo o bloco e de uma autoridade supranacional que teria o poder de intervir em bancos alemães falidos. Ainda assim, um novo abalo financeiro poderia provocar a criação improvisada de algum mecanismo de emergência que, como a Troika, acabaria depois fazendo parte do sistema da União Europeia.
As versões minimalistas do modelo intergovernamental de união econômica e política – esboçadas no relatório do Conselho Europeu de junho de 2012 e hoje endossadas por Angela Merkel – tendem para a adoção de “estruturas integradas”, por meio das quais os governos concordam em coordenar suas políticas orçamentária e econômica, sob a supervisão da Comissão Europeia. Um modelo intergovernamental maximalista, apoiado por Schäuble, o ministro das Finanças da Alemanha, prevê uma coordenação explícita das políticas apenas para a zona do euro, com os ministros das Finanças formando um quase gabinete.
Os modelos supranacionais ou “federalistas” de união política e econômica concentram-se no fortalecimento da Comissão Europeia, atribuindo importância maior ao Parlamento Europeu. Entre as variantes maximalistas supranacionais encontram-se o relatório enviado por Durão Barroso em setembro de 2012 ao Parlamento Europeu e o “Projeto de uma união econômica e monetária profunda e genuína” que a Comissão divulgou em novembro de 2012, formulando planos de longo prazo para um orçamento autônomo da zona do euro e um mercado para os eurobônus, condicionados a controles centrais mais rigorosos sobre os gastos nacionais.
O problema são os cidadãos da Europa. Um aumento substancial dos poderes dos organismos supranacionais ou intergovernamentais exigiria um novo tratado, que por sua vez exigiria referendos para sua ratificação em pelo menos dois países-membros – na prática, um convite aos eleitores para exprimirem sua insatisfação. Na Espanha, a proporção dos consultados que manifestam “desconfiança” em relação à União Europeia aumentou de 23% para 72% nos últimos cinco anos; na Alemanha, na França, na Áustria e na Holanda, esse número fica em torno de 60%. Hoje, menos de um terço dos europeus “confia” no bloco; a maioria aponta o desemprego e o estado da economia como suas maiores preocupações.
Ainda assim, muita coisa pode ser feita sem o envolvimento dos eleitores, como afirma Jean-Claude Piris em The Future of Europe: Towards a Two-Speed eu? [O Futuro da Europa: Uma União Europeia em Duas Velocidades?]. Piris foi o principal advogado do bloco por duas décadas, tendo respondido pelos detalhes técnicos dos tratados de Maastricht, Amsterdã, Nice, Constitucional e de Lisboa antes de aposentar-se em 2010. Piris é um crítico severo de seu próprio trabalho: a expansão privou a União Europeia de sua coerência e identidade; o Parlamento Europeu não conseguiu conquistar a confiança dos eleitores; a Comissão Europeia é intelectualmente deficiente; o Conselho Europeu, obstruído pelas exigências de unanimidade; e a desilusão dos eleitores impede um recomeço necessário para essas instituições. Como alternativa, afirma Piris, o artigo 136 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia confere aos países da zona do euro uma ampla margem para a coordenação fiscal e econômica; um núcleo de países poderia usar uma declaração política para atribuir-se uma identidade coerente e um projeto para o futuro.
As decisões dependerão não só do equilíbrio de forças entre os diversos países, mas também de choques externos, como demonstram as negociações em curso sobre a união bancária. Uma supervisão supranacional dos bancos pelo Banco Central Europeu causa pouca controvérsia; mas Berlim lidera a resistência às propostas da Comissão Europeia em favor de um seguro de depósitos vigente em todo o bloco e de uma autoridade supranacional que teria o poder de intervir em bancos alemães falidos. Ainda assim, um novo abalo financeiro poderia provocar a criação improvisada de algum mecanismo de emergência que, como a Troika, acabaria depois fazendo parte do sistema da União Europeia.
As versões minimalistas do modelo intergovernamental de união econômica e política – esboçadas no relatório do Conselho Europeu de junho de 2012 e hoje endossadas por Angela Merkel – tendem para a adoção de “estruturas integradas”, por meio das quais os governos concordam em coordenar suas políticas orçamentária e econômica, sob a supervisão da Comissão Europeia. Um modelo intergovernamental maximalista, apoiado por Schäuble, o ministro das Finanças da Alemanha, prevê uma coordenação explícita das políticas apenas para a zona do euro, com os ministros das Finanças formando um quase gabinete.
Os modelos supranacionais ou “federalistas” de união política e econômica concentram-se no fortalecimento da Comissão Europeia, atribuindo importância maior ao Parlamento Europeu. Entre as variantes maximalistas supranacionais encontram-se o relatório enviado por Durão Barroso em setembro de 2012 ao Parlamento Europeu e o “Projeto de uma união econômica e monetária profunda e genuína” que a Comissão divulgou em novembro de 2012, formulando planos de longo prazo para um orçamento autônomo da zona do euro e um mercado para os eurobônus, condicionados a controles centrais mais rigorosos sobre os gastos nacionais.
O problema são os cidadãos da Europa. Um aumento substancial dos poderes dos organismos supranacionais ou intergovernamentais exigiria um novo tratado, que por sua vez exigiria referendos para sua ratificação em pelo menos dois países-membros – na prática, um convite aos eleitores para exprimirem sua insatisfação. Na Espanha, a proporção dos consultados que manifestam “desconfiança” em relação à União Europeia aumentou de 23% para 72% nos últimos cinco anos; na Alemanha, na França, na Áustria e na Holanda, esse número fica em torno de 60%. Hoje, menos de um terço dos europeus “confia” no bloco; a maioria aponta o desemprego e o estado da economia como suas maiores preocupações.
Ainda assim, muita coisa pode ser feita sem o envolvimento dos eleitores, como afirma Jean-Claude Piris em The Future of Europe: Towards a Two-Speed eu? [O Futuro da Europa: Uma União Europeia em Duas Velocidades?]. Piris foi o principal advogado do bloco por duas décadas, tendo respondido pelos detalhes técnicos dos tratados de Maastricht, Amsterdã, Nice, Constitucional e de Lisboa antes de aposentar-se em 2010. Piris é um crítico severo de seu próprio trabalho: a expansão privou a União Europeia de sua coerência e identidade; o Parlamento Europeu não conseguiu conquistar a confiança dos eleitores; a Comissão Europeia é intelectualmente deficiente; o Conselho Europeu, obstruído pelas exigências de unanimidade; e a desilusão dos eleitores impede um recomeço necessário para essas instituições. Como alternativa, afirma Piris, o artigo 136 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia confere aos países da zona do euro uma ampla margem para a coordenação fiscal e econômica; um núcleo de países poderia usar uma declaração política para atribuir-se uma identidade coerente e um projeto para o futuro.
O que será dos países da União Europeia fora da zona do euro? Em Au Revoir, Europe: What if Britain Left the eu? [E se a Grã-Bretanha se Retirasse da ue?], David Charter, jornalista doTimes de Londres, afirma que a combinação do euroceticismo no Reino Unido com sua integração crescente à zona do euro significa que ou Londres terá de negociar alguma forma de participação de segunda linha no bloco – já foi proposta a criação de um círculo exterior mais frouxo da União Europeia, que poderia incluir a Turquia e os países balcânicos, além da Grã-Bretanha – ou deverá abandonar a União Europeia por completo.
E pode-se ver por que essa possibilidade seria bem recebida por muita gente na Europa. A Grã-Bretanha cumpriu fielmente a profecia de De Gaulle, de que serviria de cavalo de Troia para os interesses americanos na Europa. Ultimamente, Cameron não tem poupado esforços em manter suas instituições que negociam derivativos – na maioria, subsidiárias de bancos americanos – fora do alcance das regras da União Europeia, e mais ainda de seus impostos, ao mesmo tempo que apoia os programas mais ferozes de austeridade e insiste com a Alemanha para que não hesite em cumprir o seu papel.
E pode-se ver por que essa possibilidade seria bem recebida por muita gente na Europa. A Grã-Bretanha cumpriu fielmente a profecia de De Gaulle, de que serviria de cavalo de Troia para os interesses americanos na Europa. Ultimamente, Cameron não tem poupado esforços em manter suas instituições que negociam derivativos – na maioria, subsidiárias de bancos americanos – fora do alcance das regras da União Europeia, e mais ainda de seus impostos, ao mesmo tempo que apoia os programas mais ferozes de austeridade e insiste com a Alemanha para que não hesite em cumprir o seu papel.
A história traçada por Charter da relação entre o Reino Unido e a Europa é um lembrete útil de que muito do que as pessoas mais detestam na União Europeia foi resultado da intervenção britânica. As pesquisas mostram que a maioria seria favorável a um mercado único – o sonho de Thatcher – sem todo o acúmulo de regras do bloco, mas essas últimas são uma pré-condição para a existência do primeiro. No início da década de 80, todas as economias industriais avançadas tinham construído seus próprios emaranhados de regras de saúde e segurança, e não sem motivo: especificações para a rotulagem de produtos; exigências de segurança para aparelhos elétricos; padrões para produtos alimentares e agências de inspeção de matadouros; restrições a substâncias tóxicas, tais como tintas à base de chumbo em brinquedos.
As tarifas nacionais de importação podiam ser removidas por uma simples decisão, mas para a criação de um mercado único essas “barreiras não tarifárias ao comércio” precisaram ser harmonizadas, setor a setor. Naturalmente, os comitês de Bruxelas encarregados da tarefa transformaram-se em alvo de lobistas das grandes empresas. Então, a partir de 2006, a pretensão da União Europeia de se tornar uma líder global da regulação ambiental – avidamente apoiada por Blair, que esperava usar a fama de verde para limpar sua reputação – ajudou a produzir uma pletora de novos editos, tratando de tudo, de plásticos a lâmpadas elétricas.
Au Revoir, Europe apresenta uma análise sumária do custo-benefício do que representaria para a Grã-Bretanha deixar a União Europeia. As conclusões de Charter quanto aos efeitos econômicos coincidem em termos gerais com as da revista The Economist, que se declarou contrária à retirada britânica do bloco num artigo de dezembro de 2012. Já na suposição plausível de que o Reino Unido conseguiria negociar um acordo bilateral de comércio com a União Europeia, os efeitos de médio prazo seriam irrisórios. O impacto de curto prazo sobre o investimento seria mais dramático, comparável talvez ao momento da crise financeira, quando os investimentos estrangeiros no Reino Unido caíram de 196 bilhões de libras para 46 bilhões entre 2007 e 2010. No médio prazo, o investimento se recuperaria juntamente com o crescimento, assim que os acertos pós-União Europeia tivessem se consolidado.
Retirar-se da União Europeia permitiria ao Reino Unido adotar um sistema rígido de controle de vistos para os demais europeus; cidadãos do bloco constituem 40% da imigração líquida no Reino Unido, e no momento lhes é concedida entrada livre por até três meses, com licença de permanência indefinida se conseguirem um emprego ou começarem a trabalhar como autônomos. Por outro lado, os ingleses estariam sujeitos a barreiras equivalentes para entrar na União Europeia; cerca de 1 milhão de britânicos residem em outros países do bloco, especialmente na Espanha, onde podem receber suas pensões do Reino Unido nas agências locais dos Correios e gozar gratuitamente de assistência médica.
Depois da saída da União Europeia, a repatriação dos velhinhos da Costa Brava aumentaria os custos sociais no Reino Unido; a recalibragem demográfica precisaria de ajustes para incluir mais velhos e mais dependentes, além da exclusão de poloneses e romenos jovens e saudáveis. Para The Economist, o trabalho barato dos imigrantes é uma das principais razões para a permanência britânica na União Europeia (além de poder mostrar utilidade a Washington e manter voz ativa na regulação do setor financeiro); Charter sugere que os custos e benefícios nesta área se anulam uns aos outros.
Au Revoir, Europe foi publicado antes de Cameron prometer realizar um referendo em 2017 para decidir se o Reino Unido continua ou não na União Europeia, mas Charter já antecipa alguma coisa nessa direção. Esboça uma trajetória de retirada que se distribuiria ao longo dos próximos dez anos. O quanto essa projeção é plausível? A gratidão de Edward Miliband, o líder dos trabalhistas, pela orientação da Casa Branca no caso – uma consulta popular sobre a União Europeia foi contrarrecomendada secamente por Obama, que a considerou “pouco útil” – garante que o tema não irá aparecer na campanha eleitoral do partido em 2015. Os liberais-democratas não tiveram qualquer escrúpulo em deixar de lado seu compromisso anterior com o referendo ao formarem a coalizão de governo com os conservadores em 2010. Assim, o referendo ficaria dependendo de uma vitória nítida dos conservadores em 2015, o que no momento parece altamente improvável.
Se a consulta fosse realizada, porém, o resultado mais provável seria a confirmação do status quo. A atual ascensão do Partido Independente do Reino Unido não se deve a uma erupção súbita de euroceticismo na Inglaterra depois da crise, mas ao colapso do apoio eleitoral aos seus três maiores partidos. Pelos primeiros quinze anos de sua existência, o Partido Independente sempre precisou lutar muito para obter 3% dos votos nas eleições nacionais. A mudança só ocorreu nas eleições de 2004 para o Parlamento Europeu. À medida que os demais partidos caíam a níveis sem precedentes – os trabalhistas por causa do apoio à guerra no Iraque, os conservadores ainda perdidos no deserto pós-Thatcher –, o Partido Independente conquistou 16% dos votos e elegeu doze representantes ao Parlamento Europeu, um sexto de todo o contingente do Reino Unido, cujos generosos salários, assessores e recursos puderam ser canalizados para a construção local do partido.
A partir de 2010, a pregação dos liberais-democratas em favor dos cortes de gastos e da cobrança de mensalidades no ensino criou um consenso tripartidário, fazendo do Partido Independente o receptáculo mais evidente para os votos de protesto. Enquanto isso, a política inglesa deu tamanha guinada para a direita que a plataforma dos independentes – a limitação dos vistos para imigrantes, a demissão de professores e de funcionários públicos locais – se tornou apenas uma versão exagerada da que os outros partidos britânicos defendem. As pesquisas de opinião no Reino Unido indicam que hoje entre 41% e 54% são a favor da saída britânica da União Europeia, com 24% a 38% em favor da permanência e 8% a 30% de eleitores indecisos ou que não sabem. Mas esses números não são precisos, e refletem visões mais imediatistas do que refletidas.
Os Estados Unidos certamente vão exagerar a importância das perturbações financeiras que ocorrerão em curto prazo caso os britânicos optem pela saída do bloco europeu; o medo irá favorecer o status quo. O cavalo de Troia permanecerá em seu posto. Também nessa frente a sorte da Europa não irá melhorar.
As tarifas nacionais de importação podiam ser removidas por uma simples decisão, mas para a criação de um mercado único essas “barreiras não tarifárias ao comércio” precisaram ser harmonizadas, setor a setor. Naturalmente, os comitês de Bruxelas encarregados da tarefa transformaram-se em alvo de lobistas das grandes empresas. Então, a partir de 2006, a pretensão da União Europeia de se tornar uma líder global da regulação ambiental – avidamente apoiada por Blair, que esperava usar a fama de verde para limpar sua reputação – ajudou a produzir uma pletora de novos editos, tratando de tudo, de plásticos a lâmpadas elétricas.
Au Revoir, Europe apresenta uma análise sumária do custo-benefício do que representaria para a Grã-Bretanha deixar a União Europeia. As conclusões de Charter quanto aos efeitos econômicos coincidem em termos gerais com as da revista The Economist, que se declarou contrária à retirada britânica do bloco num artigo de dezembro de 2012. Já na suposição plausível de que o Reino Unido conseguiria negociar um acordo bilateral de comércio com a União Europeia, os efeitos de médio prazo seriam irrisórios. O impacto de curto prazo sobre o investimento seria mais dramático, comparável talvez ao momento da crise financeira, quando os investimentos estrangeiros no Reino Unido caíram de 196 bilhões de libras para 46 bilhões entre 2007 e 2010. No médio prazo, o investimento se recuperaria juntamente com o crescimento, assim que os acertos pós-União Europeia tivessem se consolidado.
Retirar-se da União Europeia permitiria ao Reino Unido adotar um sistema rígido de controle de vistos para os demais europeus; cidadãos do bloco constituem 40% da imigração líquida no Reino Unido, e no momento lhes é concedida entrada livre por até três meses, com licença de permanência indefinida se conseguirem um emprego ou começarem a trabalhar como autônomos. Por outro lado, os ingleses estariam sujeitos a barreiras equivalentes para entrar na União Europeia; cerca de 1 milhão de britânicos residem em outros países do bloco, especialmente na Espanha, onde podem receber suas pensões do Reino Unido nas agências locais dos Correios e gozar gratuitamente de assistência médica.
Depois da saída da União Europeia, a repatriação dos velhinhos da Costa Brava aumentaria os custos sociais no Reino Unido; a recalibragem demográfica precisaria de ajustes para incluir mais velhos e mais dependentes, além da exclusão de poloneses e romenos jovens e saudáveis. Para The Economist, o trabalho barato dos imigrantes é uma das principais razões para a permanência britânica na União Europeia (além de poder mostrar utilidade a Washington e manter voz ativa na regulação do setor financeiro); Charter sugere que os custos e benefícios nesta área se anulam uns aos outros.
Au Revoir, Europe foi publicado antes de Cameron prometer realizar um referendo em 2017 para decidir se o Reino Unido continua ou não na União Europeia, mas Charter já antecipa alguma coisa nessa direção. Esboça uma trajetória de retirada que se distribuiria ao longo dos próximos dez anos. O quanto essa projeção é plausível? A gratidão de Edward Miliband, o líder dos trabalhistas, pela orientação da Casa Branca no caso – uma consulta popular sobre a União Europeia foi contrarrecomendada secamente por Obama, que a considerou “pouco útil” – garante que o tema não irá aparecer na campanha eleitoral do partido em 2015. Os liberais-democratas não tiveram qualquer escrúpulo em deixar de lado seu compromisso anterior com o referendo ao formarem a coalizão de governo com os conservadores em 2010. Assim, o referendo ficaria dependendo de uma vitória nítida dos conservadores em 2015, o que no momento parece altamente improvável.
Se a consulta fosse realizada, porém, o resultado mais provável seria a confirmação do status quo. A atual ascensão do Partido Independente do Reino Unido não se deve a uma erupção súbita de euroceticismo na Inglaterra depois da crise, mas ao colapso do apoio eleitoral aos seus três maiores partidos. Pelos primeiros quinze anos de sua existência, o Partido Independente sempre precisou lutar muito para obter 3% dos votos nas eleições nacionais. A mudança só ocorreu nas eleições de 2004 para o Parlamento Europeu. À medida que os demais partidos caíam a níveis sem precedentes – os trabalhistas por causa do apoio à guerra no Iraque, os conservadores ainda perdidos no deserto pós-Thatcher –, o Partido Independente conquistou 16% dos votos e elegeu doze representantes ao Parlamento Europeu, um sexto de todo o contingente do Reino Unido, cujos generosos salários, assessores e recursos puderam ser canalizados para a construção local do partido.
A partir de 2010, a pregação dos liberais-democratas em favor dos cortes de gastos e da cobrança de mensalidades no ensino criou um consenso tripartidário, fazendo do Partido Independente o receptáculo mais evidente para os votos de protesto. Enquanto isso, a política inglesa deu tamanha guinada para a direita que a plataforma dos independentes – a limitação dos vistos para imigrantes, a demissão de professores e de funcionários públicos locais – se tornou apenas uma versão exagerada da que os outros partidos britânicos defendem. As pesquisas de opinião no Reino Unido indicam que hoje entre 41% e 54% são a favor da saída britânica da União Europeia, com 24% a 38% em favor da permanência e 8% a 30% de eleitores indecisos ou que não sabem. Mas esses números não são precisos, e refletem visões mais imediatistas do que refletidas.
Os Estados Unidos certamente vão exagerar a importância das perturbações financeiras que ocorrerão em curto prazo caso os britânicos optem pela saída do bloco europeu; o medo irá favorecer o status quo. O cavalo de Troia permanecerá em seu posto. Também nessa frente a sorte da Europa não irá melhorar.
Quanto ao futuro imediato, é provável que o eixo Berlim–Bruxelas [a sede da Comissão Europeia fica na capital belga] continue a administrar a crise de acordo com os termos ditados pela Alemanha, pelo menos enquanto seus piores efeitos permanecerem confinados às pequenas economias periféricas – Grécia, Chipre, Portugal e Irlanda. As cifras mais recentes indicam um frágil aumento de 0,3% no crescimento da zona do euro no segundo trimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2012, sustentado quase inteiramente pela Alemanha e França. Mas, se a economia mundial piorar ainda mais, a Espanha e a Itália irão criar problemas de outra escala. O programa de compra de títulos da dívida pelo Banco Central Europeu obrigaria os políticos desses países, já desacreditados, a submeter-se aos ditames da Troika.
Ainda assim, a turbulência no mercado financeiro em resposta a um murmúrio de Ben Bernanke, o presidente do Banco Central americano, falando do fim da expansão monetária nos Estados Unidos foi um lembrete de que a bonança não irá durar para sempre. Cinco anos de taxa de juros zero e 14 trilhões de dólares injetados pelo Banco Central na economia americana produziram apenas um crescimento muito hesitante. A China, que enfrenta a queda de suas exportações, balança à beira de uma quebra dos bancos e dos governos locais, atolados em dívidas. A Europa se mostra vulnerável pelos dois lados: o aumento da taxa de juros irá aumentar o risco de calote dos bancos e dos seus Estados, enquanto as exportações alemãs dependem cada vez mais do boom da construção na China.
Neste verão europeu de 2013, o Banco Central alemão reviu para baixo os prognósticos de crescimento do país em 2014. O regime de austeridade ainda tem que ser testado em sua pátria de origem.





