Peter Gowan
New Left Review
 |
| NLR 55 • JAN/FEB 2009 |
Tradução / A longa crise do crédito que teve início no mundo atlântico em agosto de 2007 é estranha por seus escopo e intensidade extraordinários. O discurso mainstream, ao referir-se a uma crise do subprime, implica que a crise do crédito foi causada por, em vez de ter disparado, uma bolha na economia real. Isso é, na melhor das hipóteses, uma ingenuidade: afinal, o estouro de uma bolha igualmente grande no mercado imobiliário espanhol não levou a tamanha explosão em seu sistema bancário nacional (Crawford & Tett, 2008). A noção de que uma queda no preço das casas possa suspender metade de todos os empréstimos na economia americana em uma questão de meses – e não apenas hipotecas, mas financiamentos de carros, cartões de crédito, papéis comerciais, propriedades comerciais e dívidas corporativas – não faz sentido. Em termos quantitativos, isso significou um encolhimento de cerca de US$ 24 trilhões no crédito, quase o dobro do Produto Interno Bruto (PIB) americano. [1] Os credores de outrora logo começaram a correr não apenas de títulos subprime, mas também da dívida supostamente mais segura de todas, a categoria "supersênior", cujo preço no fim de 2007 era um décimo do que havia sido apenas um ano antes (Patterson, 2008).
Para entender a crise do crédito, é preciso que transcendamos o senso comum de que mudanças na chamada economia real provocam resultados numa suposta superestrutura financeira. Promover essa "ruptura epistemológica" não é fácil. Uma razão pela qual tão poucos economistas viram que uma crise estava chegando, ou não conseguiram perceber a sua escala mesmo depois que ela chegou, foi a de que seus modelos presumiam tanto que sistemas financeiros "funcionam", no sentido de ajudar eficientemente as operações da economia real, quanto que tendências financeiras são, em si, pouco significativas.[2] Daí a presunção de que a enorme bolha nos preços de petróleo entre o outono de 2007 e o verão de 2008 foi causada por fatores de oferta e demanda, e não por operadores financeiros que, vacilantes por causa do início da crise, fizeram subir o preço de US$ 70 por barril para US$ 140 em menos de um ano, antes de deixar a bolha estourar em junho último; um ciclo que teve efeitos enormemente negativos na "economia real". Explicações semelhantes foram oferecidas para o aumento no preço das commodities no mesmo período; mas esse aumento foi causado, em grande parte, por investidores institucionais, fundos de pensão e fundos do mercado monetário evitando emprestar aos bancos de Wall Street, que injetaram centenas de bilhões de dólares em índices de commodities, enquanto os fundos hedge, apertados contra a parede, ajudaram a inflar bolhas nos mercados de café e cacau (Blas, 2008; Flood, 2008).[3]
Romper com a noção ortodoxa de que foram atores da "economia real" que causaram a crise carrega consigo um preço político: significa que os mutuários não podem mais ser culpados pela crise do crédito, nem os chineses pela bolha no mercado de commodities, nem produtores árabes inflexíveis pelo repentino aumento no preço do petróleo. Mas essa ruptura pode permitir que entendamos aspectos da crise que seriam de outra forma inexplicáveis; sendo um dos mais importantes o crescimento extraordinário do próprio subprime. Tomaremos como ponto de partida, portanto, a necessidade de analisar a transformação estrutural do sistema financeiro americano nos últimos 25 anos. Defenderei que um Novo Sistema de Wall Street surgiu nos Estados Unidos nesse período, produzindo novos atores, novas práticas e novas dinâmicas. A estrutura financeira resultante, aliada a seus agentes, foi a força motriz por trás da crise atual. No percurso, ela provou ser um sucesso espetacular para os grupos mais ricos nos Estados Unidos: o setor financeiro era, de longe, o componente mais lucrativo das economias americana e britânica e seu mais importante produto de "exportação". Em 2006, nada menos que 40% dos lucros corporativos americanos foram para o setor financeiro (Summers, 2008).[4] Mas a nova estrutura necessariamente produziu a dinâmica que levou à explosão.
Esta análise não é oferecida como uma explicação monocausal da crise. Uma condição fundamental, que criou o solo no qual o Novo Sistema de Wall Street podia brotar e florescer, foi o projeto do sistema de dólar fiduciário, a privatização do risco cambial e a retirada dos controles de câmbio – todos chamados pelo eufemismo de "globalização financeira". Além disso, o sistema não poderia ter brotado e florescido se não oferecesse respostas – não importa quão doentias em última instância – para diversos problemas entranhados no capitalismo americano como um todo. Há, portanto, um cerne racional, dialético na distinção superficial entre a superestrutura financeira e a economia americana "real". A seguir, esboçarei em primeiro lugar os principais elementos do Novo Sistema de Wall Street e mostrarei brevemente como sua crise assumiu formas tão espetaculares. Em seguida, defenderei que, para entender as raízes mais profundas desse mal-estar generalizado, precisamos realmente investigar as características socioeconômicas e sociopolíticas gerais do capitalismo americano na forma pela qual ele se desenvolveu nos últimos 25 anos. Levantarei a possibilidade de sistemas alternativos, incluindo um modelo bancário e de crédito de utilidade pública. Finalmente, discutirei as dinâmicas internacionais desencadeadas pela presente crise e suas implicações para o que chamei em outros artigos de Regime de Dólar-Wall Street.[5]
1. O Novo Sistema de Wall Street
A estrutura e a dinâmica do sistema bancário de Wall Street mudaram drasticamente no quarto de século após meados dos anos 1980. As principais características do novo sistema incluem: (i) a ascensão do modelo credor-negociante; (ii) a arbitragem especulativa e o estouro da bolha no preço dos ativos; (iii) o empenho em maximizar a alavancagem e a expansão do balanço patrimonial; (iv) a ascensão do sistema bancário paralelo, com seu braço londrino, e as "inovações financeiras" associadas; (v) a proeminência dos mercados monetários e sua transformação em financiadores de negócios especulativos em bolhas de ativos; (iv) o novo papel central de derivativos de crédito. Essas mudanças reforçaram-se mutuamente, formando um todo integrado e complexo, que depois se desintegrou ao longo de 2008. Examinaremos cada uma delas brevemente.
Modelos de negócios
Durante a maior parte do período pós-guerra, os bancos de investimento de Wall Street envolviam-se muito pouco eles mesmos no comércio de títulos, diferentemente do que faziam em nome de seus clientes; enquanto os bancos comerciais depositários desprezavam esse tipo de atividade. Mas, a partir de meados da década de 1980, os investimentos diretos (proprietary trading) em títulos financeiros e outros foram se transformando numa atividade cada vez mais central para os bancos de investimento e até mesmo para muitos bancos comerciais. Essa mudança estava relacionada, de início, à nova volatilidade dos mercados de câmbio após o desmantelamento de Bretton Woods; e, depois, às oportunidades criadas pela liberalização financeira doméstica, sobretudo ao descarte dos controles de capital e à abertura de outros sistemas financeiros nacionais a operadores americanos. Essas mudanças proporcionaram oportunidades para uma grande expansão das negociações em Wall Street, que se tornariam uma fonte crucial de lucros para os bancos de investimento.[6] A guinada na direção do investimento direto especulativo em títulos financeiros foi liderada pelo Salomon Brothers, cujo Arbitrage Group foi estabelecido em 1977 e adquiriu lucratividade extraordinária sob o comando de John Meriwether durante os anos 1980.[7]
Além de começar a investir eles mesmos em títulos financeiros, os bancos de Wall Street envolveram-se cada vez mais no empréstimo de fundos a outras instituições, para que elas os usassem em negociações: fundoshedges, os chamados grupos de private equity (que investem em empresas), ou veículos de investimento especial (SIV) e conduits, criados pelos próprios bancos de investimento.8 Esses empréstimos, conhecidos no jargão como corretagem prime, também eram uma atividade extremamente lucrativa para os bancos de Wall Street: para muitos, sua principal fonte de renda (Mackintosh, 2008). Essa guinada para o modelo credor-negociante não significou que os bancos de investimento suspenderam suas atividades de corretagem, administração de fundos etc. Mas essas atividades adquiririam nova importância à medida que forneciam aos bancos grandes quantidades de informações em tempo real sobre os mercados, algo de grande valia para suas próprias atividades de negociação.9
Atividades de negociação, aqui, não significam investimentos de longo prazo, no estilo de Warren Buffet, neste ou naquele título, mas comprar e vender ativos reais e financeiros para explorar – até mesmo gerando – diferenças de preço e variações de preço. Esse tipo de "arbitragem especulativa" tornou-se uma das atividades centrais não apenas dos bancos de investimento, mas também de bancos comerciais (Saber, 1999). O mesmo ocorreu com o esforço para gerar bolhas nos preços de ativos. Repetidamente, Wall Street podia entrar num mercado em particular, gerar uma bolha de preços, auferir grandes lucros provenientes de especulação e então se retirar, estourando a bolha. Esse tipo de atividade era muito fácil nas chamadas economias emergentes com mercados pequenos de ações ou de títulos de dívidas. Os bancos de Wall Street ganharam muita experiência em inflar essas bolhas nos mercados de ações poloneses, checos ou russos nos anos 1990 e depois estourá-las, gerando muitos lucros. A bolha ponto.com nos Estados Unidos mostrou então como a mesma operação poderia ser realizada no centro sem prejuízo significativo para os bancos de Wall Street (diferentemente de alguns operadores europeus, notadamente as companhias de seguros, ansiosas por lucrar com a bolha, mas atingidas por seu estouro).
Tanto os reguladores de Washington quanto Wall Street aparentemente acreditavam que, juntos, conseguiriam administrar os estouros (Greenspan, 2008). Isso significava que não havia necessidade de evitar que essas bolhas ocorressem: ao contrário, é óbvio e patente que tanto os reguladores quanto os operadores ativamente geraram-nas, sem dúvida acreditando que uma das formas de administrar estouros era inflar outra bolha dinâmica em outro setor: depois da ponto.com, a bolha imobiliária; depois, uma bolha nos preços de energia ou em mercados emergentes etc. Isso parece implicar uma autoridade financeira formidavelmente centralizada operando no coração desses mercados. De fato: o Novo Sistema de Wall Street era dominado por apenas cinco bancos de investimento, reunindo mais de US$ 4 trilhões em ativos e capazes de requisitar ou literalmente mover outros trilhões de dólares das instituições por trás deles, tais como os bancos comerciais, os fundos monetários, os fundos de pensão, e assim por diante. O sistema estava muito distante do mercado descentralizado, com milhares de atores, todos obedientes aos preços que lhe são impostos, retratado pela economia neoclássica. De fato, os sistemas de crença operantes no que pode ser chamado de Greenspan-Rubin-Paulson milieu pareciam ser pós-minskianos. Eles entendiam a teoria de Minsky sobre bolhas e estouros, mas acreditavam que pudessem usá-la estrategicamente para inflar bolhas, estourá-las e administrar o resultado inflando mais algumas.
Maximizando a alavancagem
O processo de arbitragem e estouro de bolhas requer mais dos operadores financeiros do que simplesmente juntar o máximo de informação possível sobre as condições em todos os mercados; também exige a capacidade de mobilizar fundos gigantescos para injetar em qualquer jogo de arbitragem em particular, para mudar a dinâmica do mercado em favor do especulador. Os bancos de investimento usaram seu grau de alavancagem como a meta a ser atingida sempre, em vez de como um limite máximo de risco, a ser reduzido quando possível, mantendo superávit de capital. Um relatório recente do Federal Reserve (FED) de Nova York demonstra como essa abordagem provou ser poderosamente pró-cíclica em uma bolha do mercado de ativos, levando os bancos a ampliar seus empréstimos conforme subiam os preços dos ativos (Adrian & Song Shin,2008).10 Em sua ilustração, os autores do relatório, Tobias Adrian e Hyun Song Shin, presumem que o banco ativamente gerencia seu balanço para manter um grau constante de alavancagem a 10. Supondo que o balanço inicial seja assim: o banco tem 100 em títulos, e financiou isso com um patrimônio de 10, mais dívidas valendo 90.
O grau de alavancagem do banco de títulos em relação ao patrimônio é, portanto, 100/10 = 10.
Suponha que o preço dos títulos aumente então 1%, para 101. As proporções serão então: títulos 101, patrimônio 11, dívida 90. Então, sua alavancagem está agora em 101/11 = 9,2. Se o banco ainda tem como meta uma alavancagem de 10, precisa contrair mais dívidas ("d"), para comprar d títulos do lado do passivo, para que a proporção de ativo/patrimônio seja: (101+d)/11 = 10, ou seja d = - 9.
O banco contrai então uma dívida adicional de 9, e com esse dinheiro compra títulos no valor de 9. Depois da compra, a alavancagem está de volta a 10. Assim, um aumento de 1 no preço do título leva a uma posição adicional de 9: a curva de demanda está ascendente.
O mecanismo funciona ao contrário também. Suponha que o preço dos títulos sofra um choque, de forma que o valor dos títulos caia para 109 agora. Do lado do passivo, o ônus do ajuste recai sobre o patrimônio, já que o valor da dívida permanece aproximadamente constante.
Mas com títulos a 109, patrimônio a 10 e dívida a 99, a alavancagem está agora muito alta: 109/10 = 10.9
O banco pode ajustar sua alavancagem vendendo títulos no valor de 9, e amortizando 9 de sua dívida. Assim, uma queda no preço dos títulos leva a uma venda de títulos: a curva da oferta está descendente.
Um mecanismo importante por meio do qual os bancos de investimento podiam reagir a aumentos nos preços de ativos era tomar empréstimos no mercado de "acordo de recompra" – ou "repo". Tipicamente, o banco de investimentos quer comprar um título, mas precisa tomar fundos emprestados para fazê-lo. Na data de liquidação, o banco recebe o título, e então usa-o como garantia para o empréstimo necessário para pagar por ele. Ao mesmo tempo, ele promete ao credor que vai recomprar o título numa determinada data futura. Dessa forma, o banco pagará o empréstimo e receberá o título. Mas tipicamente os fundos para recomprar o título do credor são adquiridos mediante a venda do título para outra pessoa. Assim, no dia da liquidação, o credor original do banco de investimento é pago e entrega o título, que é imediatamente repassado ao novo comprador em troca de dinheiro. Esse tipo de operação de financiamento repo pressupõe uma alta nos preços dos ativos. Foi responsável por um aumento de 43% na alavancagem entre bancos de Wall Street, segundo o mesmo relatório do FED de Nova York. Os repos também foram a maior forma de dívida nos balanços dos bancos de investimento em 2007-2008 (Adrian & Song Shin, 2008).
Surge a questão de por que os bancos de Wall Street (seguidos de outros) estenderam seus empréstimos ao limite da alavancagem de forma tão sistemática. Uma explicação é a de que eles o faziam de acordo com os desejos de seus acionistas (uma vez que haviam se transformado em companhias de sociedade limitada). O capitalismo do "valor para o acionista" supostamente exige que a proporção de ativos em relação ao capital seja maximizada. O superávit de capital reduz o retorno do patrimônio acionário e puxa para baixo os rendimentos por ação.11 Mas também há outra possível explicação para tomar empréstimos até o limite da alavancagem: a briga pela participação no mercado e pelo maior poder de precificação em atividades de negociação. Se você é um arbitrador especulativo ou um inflador de bolhas de ativos, a escala operacional financeira é essencial para mover mercados, por meio da alteração dos preços na direção para a qual você quer que eles sigam. Ao avaliar qual dessas pressões – o poder dos acionistas ou o poder de estabelecer preços – deu impulso ao processo, é preciso observar quão prontos estavam os executivos do Tesouro, do FED e de Wall Street para pisotear os interesses dos acionistas durante a crise do crédito, mas quão resolutamente tentaram proteger os níveis de alavancagem dos maiores bancos de investimento durante a bolha. De tudo o que se sabe, a guinada do Citigroup na direção da expansão de seu balanço e de sua alavancagem até o máximo possível para atividades de investimento derivou não da pressão de seus acionistas, mas da chegada de Robert Rubin (2008), após seu período como secretário do Tesouro americano.
O sistema bancário paralelo
O ímpeto por escala e por alavancagem cada vez mais alta leva a outra característica básica do Novo Sistema de Wall Street: o esforço para criar e expandir um setor bancário paralelo. Suas características mais óbvias eram os novos bancos inteiramente desregulamentados, sobretudo os fundos hedge. Eles não têm nenhum papel funcional específico – eles têm sido simplesmente bancos de negócios livres de qualquer controle regulatório ou transparência em sua arbitragem especulativa. Grupos de private equity também são, em essência, bancos de negócios paralelos, especializados na compra e venda de companhias. Os Veículos de Investimento Especial (SIV) e conduits são, de forma semelhante, parte desse sistema. Nas palavras do diretor de regulação do Banco Central da Espanha, esses SIV e conduits "eram como bancos, mas sem capital ou supervisão". Ainda assim, como uma matéria do Financial Times observou: "Nas últimas duas décadas, a maioria dos reguladores encorajou os bancos a tirar seus ativos do balanço e colocá-los em SIV e conduits" (Crawford & Tett, 2008).
O sistema bancário paralelo não competia com o sistema regulado: era um produto dele. Os bancos comerciais e de investimento regulados funcionavam como os corretores preferenciais (prime brokers) dos operadores dos bancos paralelos, auferindo assim grandes lucros com suas atividades. Essa característica cada vez mais importante da atividade bancária oficial era, na realidade, uma forma de expandir maciçamente seus balanços e sua alavancagem. Para conseguir financiamento dos bancos de Wall Street, os fundos de hedge tinham que lhes dar garantias; mas por meio de uma prática conhecida como re-hipotecagem, uma proporção desses ativos dados como garantia podia ser usada pelo prime broker como sua própria garantia para levantar seus próprios fundos. O resultado era o autofinanciamento de atividades de prime brokerage altamente lucrativas pelos bancos de Wall Street, em grande escala, sem nenhum comprometimento extra de seu próprio capital: uma forma engenhosa de aumentar muito seus graus de alavancagem (Mackintosh, 2008). O debate ao redor da questão se a desregulação ou a reregulação no setor financeiro tem ocorrido desde os anos 1980 parece ignorar que havia uma combinação de um sistema regulado e um sistema desregulado paralelo, trabalhando juntos de forma dinâmica.
O sistema bancário paralelo refere-se não apenas a agentes institucionais, como os fundos de hedge, mas também a práticas e produtos que permitiram que os bancos de investimento expandissem sua alavancagem. Desde o fim dos anos 1990, uma parte cada vez mais importante desse lado do sistema bancário paralelo tem sido um mercado de derivativos de crédito do "mercado de balcão", notadamente Obrigações de Dívida Colateralizada (CDO) e Credit Default Swaps (CDS). O atrativo mais óbvio deles repousa na arbitragem regulatória que ofereciam, permitindo que os bancos expandissem sua alavancagem (Bannier & Hänsel, 2008). Tradicionalmente, os bancos tinham que segurar suas operações de crédito, e esse seguro implicava o fornecimento de garantias. A beleza dos CDS estava no fato de que, por serem produtos paralelos do "mercado de balcão", eles não exigiam o compromisso de parcelas de capital como garantia e, assim, permitiam mais alavancagem. A expansão dos CDS ganhou escala depois que especialistas em derivativos do JP Morgan Chase convenceram a AIG de começar a vendê-los a eles para garantir CDO em 1998 (Morgenson, 2008).
Os CDO também eram uma solução inteligente para problemas de alavancagem. Ao adquirir grandes quantidades de empréstimos securitizados e, dessa forma, expandir muito seus balanços, os bancos deveriam ter expandido sua base patrimonial. Mas os CDO famosamente agregavam dezenas ou centenas desse tipo de empréstimos, de qualidade muito variada, permitindo que os bancos aumentassem sua alavancagem. Os CDO eram tipicamente emitidos pelas agências de classificação de risco, mediante o pagamento de uma taxa, e em seguida classificados com uma avaliação Triplo A pela mesma agência, mediante o pagamento de uma segunda taxa. Essas avaliações permitiam que os comprometimentos de patrimônio do banco fossem minimizados. Esses empréstimos securitizados – especialmente do mercado imobiliário, mas também de dívidas de cartões de crédito e financiamentos de carros – ofereciam aos investidores taxas muito mais altas de retorno do que eles podiam obter nos mercados monetários. O aspecto principal desses chamados "títulos estruturados" não era o fato de que eram empréstimos securitizados: esse tipo de empréstimo poderia, em princípio, ser perfeitamente seguro; afinal, uma obrigação nada mais é, na verdade, do que um empréstimo securitizado. Mas as obrigações têm uma fonte claramente identificável: um operador econômico cuja solvabilidade e capacidade de fluxo de caixa podem ser avaliadas; elas também têm preços claros em mercados secundários de obrigações. Os produtos que eram agregados nos CDO, contudo, vinham de centenas de milhares de fontes, cuja solvabilidade e capacidade de fluxo de caixa não eram conhecidas; eles eram vendidos no "mercado de balcão", sem nenhum mercado secundário para determinar preços, muito menos um mercado organizado para minimizar o risco da contraparte. Em resumo, eles eram, na melhor das hipóteses, extremamente arriscados porque quase totalmente obscuros para aqueles que os compravam. Na pior das hipóteses, eles provaram ser um conto-do-vigário, tanto que, em poucos meses no final de 2007, as parcelas de dívida supostamente superseguras e supersênior desses CDO estavam sendo rebaixadas ao status de lixo (junk).
Restrições à alavancagem também estavam sendo removidas por meio de políticas públicas. Hank Paulson teve sucesso notável nessa área em 2004, quando, como presidente do Goldman Sachs, liderou a campanha em Wall Street para conseguir que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) concordasse em relaxar a chamada "regra do capital líquido", que restringia a alavancagem para grandes bancos de investimento. A partir daí, as empresas eram efetivamente permitidas a decidir sobre sua própria alavancagem tendo como base seus modelos de risco. O resultado foi um aumento rápido nos graus de alavancagem dos grandes bancos (Labaton, 2008).12 Um aspecto importante disso é que permitia que eles transferissem sua base de capital para novas atividades, como as obrigações de dívida colateralizadas, que subsequentemente se tornaram um elemento tão importante de seus negócios.
O papel de Londres
Todas essas mudanças são agrupadas sob o título eufemístico de "inovação financeira" – mudanças em arranjos institucionais, produtos, estruturas de supervisão, permitindo que os bancos de Wall Street escapassem de restrições regulatórias e expandissem suas atividades e lucros. Dezenas de mudanças desse tipo poderiam ser documentadas. Mas uma das mais fundamentais foi a construção de um novo e grande sistema bancário paralelo em Londres, ao lado do setor regulado "oficial". No início dos anos 1990, os bancos de investimento americanos tinham eliminado suas contrapartes londrinas e dominado os mercados de ativos do centro financeiro de Londres, que adquiriu um papel cada vez mais "wimbledonizado" no Novo Sistema de Wall Street.13 Gordon Brown institucionalizou o novo relacionamento em 1997 criando a Financial Services Authority [Autoridade de Serviços Financeiros], que alegava operar de acordo com "princípios" em vez de regras: um dos princípios mais importantes era o de que os bancos de Wall Street podiam se autorregular. Londres assim se tornou para Nova York algo como o que Guantánamo se tornaria para Washington: o lugar onde você pode fazer no estrangeiro o que não pode fazer em casa; nesse caso, um local para arbitragem regulatória.
O termo "Wall Street" deveria, portanto, ser entendido como incluindo Londres, como um satélite para esses operadores americanos.14 Juntas, Londres e Nova York dominam a emissão de novas ações e obrigações. Elas são o centro do mercado cambial. De forma mais significativa, elas dominaram a venda de derivativos do mercado de balcão, que representam a vasta maioria das vendas de derivativos.15 Em 2007, o Reino Unido tinha uma participação de 42,5% nos derivativos mundiais baseados em taxas de juros e moedas, e os Estados Unidos, 24%. Em termos de negociações de derivativos de crédito, os Estados Unidos foram responsáveis por 40% delas em 2006, enquanto Londres negociou 37% (menos do que os 51% em 2002).
Financiando a especulação
A enorme expansão das atividades dos bancos de Wall Street e de seu sistema paralelo exigia fundos cada vez maiores. Esses fundos, classicamente, eram providos pela reciclagem de poupanças de varejo paradas em contas de depósito e, de forma ainda mais importante, pela criação pelos bancos de grandes ofertas de crédito. Mas, na América pós-década de 1980, essas poupanças eram minúsculas – uma questão para a qual retornaremos –, e o dinheiro de crédito dos bancos comerciais, apesar de significativo, era desesperadamente insuficiente. Nessas circunstâncias, os bancos de negócios voltaram-se aos mercados monetários por atacado. No cerne desses mercados estavam os mercados interbancários, com taxas de juros iguais à taxa do FED, ou apenas alguns pontos-base acima. Historicamente, esses mercados eram usados para assegurar que os bancos fossem capazes de fechar facilmente suas operações diárias, em vez de como uma fonte de financiamentos novos e de larga escala, muito menos de financiamentos especulativos. Também havia o mercado de papéis comerciais, tipicamente usados pelas grandes corporações para financiamentos de curto prazo, mais uma vez, especialmente para facilitar suas operações.
No Novo Sistema de Wall Street, porém, esses mercados monetários se transformaram. Eles permaneceram sendo centros de oferta de empréstimos de curto prazo, mas passaram cada vez mais a financiar negociações especulativas. Do lado da oferta, os fundos disponíveis para empréstimos a Wall Street expandiam-se rapidamente, em especial por meio da expansão dos fundos de pensão durante os anos 1980 e 1990. De forma tipicamente americana, uma pequena mudança na legislação tributária por meio da emenda 401K em 1980 abriu as portas para esse desenvolvimento. Essa emenda concedeu isenção de impostos a empregados e empregadores se eles colocassem dinheiro em planos de pensão; o resultado foi um fluxo maciço de renda dos trabalhadores nesses planos, totalizando quase US$ 400 bilhões até o final dos anos 1980. No final dos anos 1990, essa quantia subira para quase US$ 2 trilhões (Lowenstein, 2004, p.24-5).16
Ao mesmo tempo que se tornaram fontes importantes para os passivos dos fundos de investimento por meio de empréstimos de curto prazo para eles, os fundos mútuos, fundos de pensão etc. também se tornaram alvos importantes para os esforços de Wall Street para vender títulos lastreados em ativos, em particular obrigações de dívida colateralizada. Assim, o Novo Sistema de Wall Street tentou atrair os gestores de fundos para atividades de inflação de bolhas tanto do lado do financiamento (passivo) quanto do lado dos ativos, permitindo a expansão cada vez maior de seus balanços.
As causas da crise
Pode ser, em princípio, que o conjunto de inovações mutuamente reforçadas que chamamos de Novo Sistema de Wall Street tenha sido uma reação ao surgimento de uma bolha no mercado imobiliário dos Estados Unidos a partir de 2001. Se esse fosse o caso, teríamos tido uma crise minskiana clássica relacionada ao mercado imobiliário. Mas, na verdade, todas as inovações-chave já haviam sido feitas antes do início da bolha. De fato, há diversos indícios de que os bancos de Wall Street planejaram uma bolha no preço dos imóveis de forma bastante deliberada e gastaram bilhões de dólares em campanhas publicitárias para persuadir os americanos a aumentar sua dívida relacionada à hipoteca. O Citigroup lançou uma campanha de um bilhão de dólares com o tema "Viva ricamente" nos anos 1990, com o objetivo de fazer que proprietários de imóveis fizessem uma segunda hipoteca para gastar com o que quisessem. Outros bancos de Wall Street agiram de forma semelhante, com muito sucesso: a dívida proveniente de segundas hipotecas subiu para mais de US$ 1 trilhão.
A bolha que gerou a crise do crédito de 2007 repousava, porém, não apenas – e nem mesmo especialmente – no mercado imobiliário, mas no próprio sistema financeiro. A crise foi desencadeada não apenas pelo tamanho da bolha de dívidas, mas por suas formas. Numa crise normal gerada por excesso de oferta de empréstimos, quando os bancos acabam com empréstimos não-honrados (como ocorreu no Japão na década de 1990), tanto a localização quanto o tamanho do problema podem ser identificados sem muita dificuldade. Mas, em 2007, a bolha de dívidas dentro do sistema financeiro estava concentrada em derivativos do mercado de balcão, na forma de CDO individuais que não tinham preço de mercado ou mecanismo de precificação – além da opinião das agências de classificação de risco – e que eram distribuídos às dezenas de milhares às instituições no topo do sistema financeiro, assim como seus órgãos-satélite, tais como os SIV. Uma vez que esse conjunto de arranjos de acúmulo de dívidas demonstrou ser lixo (junk), nos dois casos Paribas em agosto de 2007, os financiadores de crédito, como os fundos monetários e de pensão, perceberam que não tinham como saber quanto do resto da montanha de CDO também não tinha nenhum valor. Então eles fugiram. Sua recusa em continuar fornecendo ao punhado de bancos de investimento obscuros de Wall Street e seus filhotes os fundos necessários para manter o mercado de CDO a salvo foi o que produziu a crise do crédito.
Os bancos de investimento haviam inicialmente espalhado por aí que o efeito da sua securitização de dívidas havia sido a vasta disseminação do risco por diversas de entidades. Mas isso parece ser uma falsidade: as próprias instituições no topo de Wall Street estavam segurando as chamadas parcelas supersênior de dívidas, em dezenas de milhares de CDO (Tett, 2008). Elas haviam tomado bilhões emprestados nos mercados monetários para comprar esses instrumentos, ganhando juros sobre eles às vezes 10 pontos-base acima dos seus custos de empréstimo. Para continuar tendo tamanho lucro, elas tiveram que recorrer repetidamente aos mercados monetários para arrolar suas dívidas. Mas agora os mercados monetários estavam fechando suas portas.17 Quando investidores dos mercados monetários fugiram da reciclagem de empréstimos de curto prazo no verão de 2007, a pirâmide inteira centrada nos CDO começou a desmoronar. Quando os bancos de Wall Street tentaram passar para a frente seus CDO, descobriram que não havia mercado para eles. As companhias de seguro que haviam segurado os CDO com CDS encontraram seu mercado em colapso também.
Muito permanece obscuro sobre os mecanismos precisos por meio dos quais a crise do crédito ganhou tamanho escopo e profundidade em 2007 e 2008, especialmente porque os principais operadores de Wall Street tentaram eles mesmos esconder a natureza de seus apuros e suas táticas de sobrevivência. Mas é possível traçar diversas fases pelas quais a crise passou. Primeiro, a tentativa pelo FED e pelo Tesouro de defender o modelo de bancos de investimento como o topo do sistema, agindo como seu emprestador de último recurso. Segundo, com a queda do Lehman Brothers, o colapso dessa tentativa e o desaparecimento do modelo do banco de investimento, produziu-se um ímpeto para consolidar um modelo de banco universal no qual as negociações dos bancos de investimento ocorreriam dentro do banco universal depositário, e seriam protegidas por ele. Nessa fase, o FED essencialmente colocou-se no lugar das instituições credoras do sistema de crédito, fornecendo empréstimos e financiamento de "mercado monetário" e de "mercado de papéis comerciais" aos bancos. Entre abril e outubro de 2008, essa enorme operação de financiamento do Banco Central envolveu US$ 5 trilhões em créditos pelo FED, o ECB e o Bank of England – equivalente a 14% do PIB mundial. Enquanto esse financiamento estatal puder continuar ocorrendo sem criar problemas sérios de solvência soberana, a fase mais difícil e perigosa da reação à crise pode começar seriamente. Envolverá a desalavancagem dos maiores bancos, agora no contexto de loops de feedback negativo de recessões cada vez mais profundas. Como e quando isso acontecerá nos dará uma noção dos contornos da crise do crédito.
Teorias prevalecentes
Grande parte do debate mainstream sobre as causas da crise tomou a forma de uma teoria de "acidentes", explicando a catástrofe como o resultado de ações contingenciais por, digamos, o Federal Reserve de Greenspan, os bancos, os reguladores ou as agências de classificação de risco. Já contestamos isso, propondo que uma estrutura relativamente coerente que chamamos de Novo Sistema de Wall Street deve ser entendida como tendo gerado a crise. Mas, além do argumento anterior, devemos observar outro aspecto crucial dos últimos 20 anos: a extraordinária harmonia entre operadores de Wall Street e reguladores de Washington. Típicas da história americana são fases de grande tensão, não apenas entre Wall Street e o Congresso, mas também entre Wall Street e o Executivo. Isso ocorreu, por exemplo, em grande parte dos anos 1970 e início dos anos 1980. Mas uma convergência ocorreu claramente no último quarto de século, sinalizando um projeto bastante bem integrado.18
Uma explicação alternativa, muito favorecida em círculos social-democratas, defende que tanto Wall Street quanto Washington foram tomados por uma ideologia "neoliberal" ou "de livre-mercado" falsa, que os desviou do caminho. Uma variação engenhosa disso proposta pela direita sugere que a ideologia problemática era a dolaissez-faire – ou seja, a ausência de regulação – enquanto o que é necessário é o "pensamento de livre-mercado", que implica alguma regulação. A consequência de ambas as versões é geralmente uma discussão sem rumo sobre "quanta" e "que tipo" de regulação colocaria as coisas no rumo certo.19 O problema dessa explicação é que, apesar de o Novo Sistema de Wall Street ter sido legitimado por pontos de vista favoráveis ao livre-mercado, ao laissez-faire ou neoliberais, eles não pareciam ser ideologias operantes entre seus praticantes, seja em Wall Street, seja em Washington. O estudo detalhado de Philip Augar sobre os bancos de investimento de Wall Street, The Greed Merchants (os mercadores da ganância), citado antes, defende que eles operaram em grande parte como um cartel consciente – o oposto de um mercado livre.
É evidente que nem Greenspan nem os chefes dos bancos acreditavam na versão séria dessa doutrina: a economia financeira neoclássica. Greenspan não argumentou que os mercados financeiros são eficientes ou transparentes; ele admitiu integralmente que eles podem tender a criar bolhas e estouros. Ele e seus colegas tinham muita consciência do risco de uma crise financeira séria, na qual o Estado americano teria de injetar enormes quantidades de dinheiro dos contribuintes para tentar salvar o sistema. Eles também entendiam que todos os diversos modelos de risco usados pelos bancos de Wall Street eram falhos, e estavam destinados a sê-lo, já que pressupunham um contexto geral de estabilidade do mercado financeiro, no qual um banco, em um setor do mercado, poderia enfrentar uma ameaça repentina; suas soluções giravam, em essência, ao redor da diversificação do risco por vários mercados. Os modelos, portanto, pressupunham que não ocorreria a ameaça sistêmica da qual Greenspan e outros tinham plena consciência: nomeadamente, uma mudança repentina negativa em todos os mercados (Greenspan, 2008; Beattie & Politi, 2008).
As duas principais alegações de Greenspan eram bastante diferentes. A primeira era que, entre o estouro de uma bolha e outro, a melhor forma de o mercado financeiro fazer grandes quantidades de dinheiro é retirar as restrições ao que os atores privados podem fazer; um setor altamente regulado vai lucrar muito menos. Essa alegação é certamente verdadeira. Sua segunda alegação era a de que, quando bolhas estouram e explosões acontecem, os bancos, com forte auxílio das autoridades estatais, conseguem lidar com as consequências. Como observou William White, do BIS, isso também era um artigo de fé para Bernanke (apud Cassidy, 2008).
3. Opções sistêmicas
O verdadeiro debate sobre a organização de sistemas financeiros nas economias capitalistas não diz respeito a métodos e modos de regulação. É um debate entre opções sistêmicas, em dois níveis:
- Um sistema bancário de utilidade pública, voltado para a acumulação de capital no setor produtivo versus um sistema bancário e de crédito capitalista, subordinando todas as outras atividades econômicas a seus próprios esforços para ter lucro.
- Um sistema financeiro e monetário internacional sob controle cooperativo nacional-multilateral versus um sistema de caráter imperial, dominado pelos bancos e Estados atlânticos trabalhando em conjunto.
Podemos analisar cada uma dessas opções brevemente.
Um modelo de utilidade pública?
Todos os sistemas econômicos modernos, capitalistas ou não, precisam de instituições de crédito para facilitar trocas e transações; eles precisam de bancos para produzir dinheiro de crédito e sistemas de compensação para facilitar o pagamento de dívidas. Esses são serviços públicos vitais, como um sistema de saúde. Eles também são inerentemente instáveis: a essência de um banco, afinal, é que não mantém fundos suficientes para cobrir saques simultâneos de todos os depositários em nenhum dado momento. Assegurar a segurança do sistema exige que a concorrência entre bancos seja suprimida. Além disso, questões relacionadas a políticas sobre para onde o crédito deveria ser canalizado têm muita relação com o momento econômico, social e político. Assim, a propriedade pública do sistema bancário e de crédito é racional e, de fato, necessária, ao lado do controle democrático.
Um modelo de utilidade pública nessa linha pode, em princípio, operar dentro do capitalismo. Até hoje, a maior parte do sistema bancário alemão permanece nas mãos do Estado, por meio de bancos de poupança e Landesbanken. O sistema financeiro chinês é fortemente centrado em um punhado de bancos enormes, públicos, e o governo chinês direciona de fato as estratégias de crédito desses bancos. É possível vislumbrar um modelo de utilidade pública assim operando com bancos privatizados. Pode-se dizer que o sistema bancário japonês do pós-guerra tinha esse caráter, com todos os seus bancos estritamente subordinados ao controle do Banco do Japão via um "sistema de limitação de empréstimos (window-guidance)". O cartel de bancos comerciais britânicos do pós-guerra também poderia ser visto como tendo operado nesse sistema, apesar de ter auferido lucros excessivos de seus clientes.
Um sistema de crédito capitalista privado, centrado nos bancos, operaria, porém, sob a lógica do capital monetário – na fórmula de Marx, M-M': adiante dinheiro a outros para fazer mais dinheiro. Uma vez que esse princípio é aceito como o alfa e o ômega do sistema bancário, a lógica funcional aponta para a apoteose de Greenspan. Esse foi o modelo adotado nos Estados Unidos e no Reino Unido desde os anos 1980: tornar o capital monetário rei. Isso implica a total subordinação das funções públicas do sistema de crédito à autoexpansão do capital monetário. De fato, todo o espectro da atividade capitalista é puxado pela correnteza do capital monetário, no sentido de que o último absorve uma fatia cada vez maior dos lucros gerados em todos os outros setores. Esse é o modelo que se tornou dominante no que chamamos de Novo Sistema de Wall Street. Gerou uma riqueza extraordinária dentro do sistema financeiro e transformou de fato o processo de formação de classes nas economias anglo-saxãs. Esse modelo está agora passando por uma profunda crise.
O segundo debate centra-se na subscrição dos sistemas financeiros. Sejam eles públicos ou privados, sistemas bancários e de crédito são inerentemente instáveis em qualquer sistema no qual o produto é validado depois da produção, no mercado.20 Em tais circunstâncias, esses sistemas precisam ser subscritos e controlados por autoridades públicas com capacidade de arrecadar impostos e imprimir dinheiro. À medida que são órgãos minimamente públicos – não totalmente capturados pelos interesses privados do capital monetário –, essas autoridades vão tentar evitar crises por meio da tentativa de alinhar aproximadamente o comportamento do sistema financeiro a objetivos (micro e macro) econômicos amplos. Hoje, apenas Estados têm a capacidade de desempenhar esse papel. Acordos como o Basileia I e Basileia II não a têm; nem a Comissão da União Europeia ou o Banco Central Europeu.
De forma intrigante, os projetos atlânticos agrupados sob o nome de "globalização econômica" – o sistema de dólar fiduciário, o fim dos controles de capital, a livre entrada e saída de grandes operadores atlânticos em outros sistemas financeiros – asseguraram que a maioria dos Estados fosse privada da capacidade de subscrever e controlar seus próprios sistemas financeiros: daí as explosões financeiras sem fim no Sul nos últimos 30 anos. Os interesses empresariais atlânticos se beneficiaram dessas crises, não apenas porque suas perdas eram integralmente cobertas pelo seguro do FMI – pagas depois pelos pobres nos países atingidos –, mas também porque foram usadas como ocasiões para abrir os mercados de produtos e trabalho desses países para a penetração atlântica. Mas agora as explosões atingiram a própria metrópole. Obviamente, as economias atlânticas vão querer manter esse sistema funcionando: as práticas cobertas pela "globalização financeira" são seu setor de exportação mais lucrativo. Mas não está tão claro que o resto do mundo vai comprar uma fórmula para mais do mesmo. A alternativa seria algum retorno ao controle público, assim como à subscrição pública. Isso só poderia ser realizado por Estados-nação individuais retomando o controle efetivo, via novos sistemas cooperativos multilaterais comparáveis àqueles que existiam antes de 1971, implantados em escala regional, se não inteiramente internacional.
Aqui, contudo, iremos nos concentrar na questão de por que o modelo financeiro centrado no Novo Sistema de Wall Street conseguiu adquirir tamanha hegemonia no capitalismo americano nas últimas décadas. Isso nos leva, finalmente, para fora da esfera financeira e para dentro do campo mais amplo das relações socioeconômicas e sociopolíticas nos Estados Unidos desde os anos 1970. Dentro desse contexto mais amplo, podemos começar a entender como a ascensão do Novo Sistema de Wall Street até atingir o domínio dentro dos Estados Unidos poderia ter sido vista como uma ideia estratégica para lidar com os problemas da economia americana.
Domínio financeiro como estratégia nacional
Dos anos 1970 até o início dos anos 1980, o Estado americano lutou uma batalha vigorosa para ressuscitar a economia industrial, em parte por meio de uma guinada mercantilista na política externa comercial, mas sobretudo por meio de um confronto nacional com a força de trabalho para reduzir sua fatia da renda nacional. Essa era a visão de líderes como Paul Volcker; presumia-se que essas medidas levariam a indústria americana de volta ao domínio mundial. Ainda assim, o esperado revival industrial de base ampla não aconteceu. Em meados dos anos 1980, a América corporativa não financeira começou a ser influenciada pelas táticas de engenharia financeira de curto prazo, voltadas para o objetivo de aumentar o "valor para o acionista" imediato. O que se seguiu foi onda após onda de fusões e aquisições e buyouts por operadores financeiros, encorajados por bancos de investimento de Wall Street que lucravam consideravelmente com essas operações. O argumento legitimador de que isso estava "aumentando a eficiência industrial" parece pouco crível. Um argumento mais convincente seria o de que essas tendências eram impulsionadas pela nova centralidade do setor financeiro dentro da estrutura do capitalismo americano.21
Uma explicação completa dessa evolução não está, creio, disponível ainda. Mas a tendência produziu algumas características estruturais do capitalismo americano que estão presentes desde então. Por um lado, um setor militar-industrial protegido permanece intacto, financiado por orçamentos federais e estaduais. Alguns setores de alta tecnologia, especialmente tecnologias de comunicação e informação (TIC), também foram fortemente apoiados por subsídios estatais nos anos 1980 e 1990 e envolveram novos investimentos industriais reais, não tendo ainda desempenhado um papel transformador na economia geral: o principal impacto das TIC foi no setor financeiro e no varejo. Mas a parte principal da economia americana, da qual o crescimento depende, foi marcada por uma estagnação ou queda na renda da massa da população e nenhum motor de crescimento a partir de novos investimentos, públicos ou privados. Com a exceção parcial do investimento em TIC no final dos anos 1990, o crescimento do PIB nos Estados Unidos não foi impulsionado por novos investimentos. Como é amplamente reconhecido, ele passou a depender do estímulo da demanda do consumidor; ainda assim, o consumo doméstico foi ele próprio inibido pelas rendas estagnadas da população.
Essa quadratura do círculo foi famosamente resolvida de duas formas. Na primeira e mais importante delas, o problema de estimular a demanda do consumidor foi resolvido pela contínua oferta de crédito pelo sistema financeiro. Na segunda, commodities baratas podiam ser compradas indefinidamente de outros países – especialmente da China – já que o domínio do dólar permitia aos Estados Unidos acumular enormes déficits em conta corrente, já que os outros países permitiam que suas exportações aos Estados Unidos fossem pagas em dólar. A oferta de crédito do sistema financeiro à massa de consumidores por meio dos mecanismos habituais de cartão de crédito, financiamento de carro e outros empréstimos e hipotecas foi, contudo, suplementada pelo mecanismo particular das bolhas nos preços dos ativos, que gerou os chamados efeitos de riqueza numa camada relativamente ampla. A bolha no mercado de ações dos anos 1990 elevou o valor dos papéis das pensões privadas da massa de americanos, dando-lhes assim a sensação de que estavam ficando mais ricos e podiam gastar (e se endividar) mais. A bolha imobiliária teve um efeito duplo: não apenas fez que consumidores americanos se sentissem confiantes de que o valor de suas casas estava subindo, permitindo-lhes gastar mais, como também foi reforçada por uma intensa campanha dos bancos, como vimos, exortando-os a fazer segundas hipotecas e a usar o dinheiro novo em despesas de consumo.
Assim, o Novo Sistema de Wall Street alimentou diretamente o boom americano liderado pelos consumidores de 1995-2008, que garantiu que os Estados Unidos continuassem sendo o maior condutor da economia mundial. Isso foi apoiado por uma campanha global segundo a qual o boom americano não era resultado de um crescimento alimentado por dívidas, auxiliado por tendências destrutivas no sistema financeiro, mas das instituições de livre-mercado americanas. Aqui, então, estava a base nas relações sociais mais amplas do capitalismo americano para a ascensão até a dominância do Novo Sistema de Wall Street: ele desempenhava o papel principal na garantia do crescimento alimentado por dívidas. Esse modelo anglo-saxão era baseado na acumulação de dívidas pelo consumidor: era crescimento hoje pago com o crescimento esperado de amanhã. Não era baseado no fortalecimento dos meios de geração de valor nas economias envolvidas. Em resumo, era um blefe, sustentado por algumas práticas criativas de contabilidade nacional que exageravam a extensão doboom americano e dos ganhos de produtividade na economia dos Estados Unidos.22
O papel da China e de outras economias exportadoras asiáticas nesse modelo de crescimento estendia-se além da exportação de seus grandes excedentes de bens de consumo aos Estados Unidos. Esses excedentes de exportação eram reciclados de volta ao sistema financeiro americano por meio da compra de ativos financeiros dos Estados Unidos, barateando assim os custos da dívida ao expandir maciçamente a "liquidez" dentro do sistema financeiro. Os resultados dessas tendências podem ser resumidos nos números a seguir. A dívida agregada americana como porcentagem do PIB subiu de 163% em 1980 para 346% em 2007. Os dois setores responsáveis por esse aumento foram o da dívida das famílias e o da dívida interna do setor financeiro. A dívida das famílias subiu de 50% do PIB em 1980 para 100% do PIB em 2007. Mas o salto realmente dramático no endividamento ocorreu dentro do próprio sistema financeiro: de 21% do PIB em 1980 para 83% em 2000 e 116% em 2007 (Wolf, 2008).
4. Implicações
Os efeitos ideológicos da crise serão significativos, apesar de que, é claro, muito menos significativos do que o imaginado por aqueles que acreditam que os regimes financeiros são produto de paradigmas intelectuais e não de relações de poder. Ainda assim, a cantilena do Tesouro Americano e do FMI chegou ao fim. Modelos de sistema financeiro no estilo americano são agora percebidos como perigosos. Não menos arriscada é a estrutura do sistema financeiro e bancário da União Europeia, que a crise demonstrou ser um castelo de cartas, mesmo que ele ainda esteja de pé no momento em que escrevo este artigo. A ideia que guia a União Europeia é a de que sistemas bancários são protegidos por boas normas em vez de por Estados com autoridade e poderes de tributação. Isso demonstrou ser uma piada perigosa. O projeto da União Econômica e Monetária da União Europeia encorajou os bancos a crescer demais para que seus Estados nacionais os salvem, ao mesmo tempo que não oferece nenhuma alternativa no nível da União Europeia ou mesmo da Eurozona. De forma absurda, as normas do Mercado Único e da concorrência no setor financeiro insistem na livre-concorrência entre bancos a qualquer custo, e proíbem qualquer assistência estatal a eles; enquanto, se os critérios de estabilidade fossem respeitados, qualquer crise de crédito totalmente desenvolvida necessariamente se transformaria em uma depressão como a ocorrida nos anos 1930. Obviamente, essas normas são ridículas, mas ao mesmo tempo são os principais esteios da economia política da União Europeia.23
Essa crise das estruturas americanas e europeias sem dúvida terá dois efeitos intelectuais. Primeiramente, aumentar a credibilidade do modelo chinês de um sistema financeiro estatal centrado em bancos. Essa é a alternativa séria aos modelos de crédito do mundo atlântico. A manutenção de controles de capital e uma moeda não conversível – que a China possui – são essenciais para a segurança desse sistema. Em segundo lugar, conforme a crise se desenrola, é provável que uma discussão mais ampla sobre o modelo de utilidade pública retorne à vida política, reabrindo um debate que parecia ter sido silenciado desde 1991.
Alguns preveem mudanças de curto prazo muito mais arrebatadoras, como a substituição do dólar como a moeda global ou o colapso das instituições líderes ocidentais na economia mundial. Uma desvalorização completa do dólar pelo governo Obama poderia, talvez, levar a uma corrida para liquidá-lo globalmente, junto com uma retirada para blocos de comércio imperiais regionais ou estreitos.24 Mas não menos improvável seria um fortalecimento temporário do dólar na próxima década: uma longa estagnação nos Estados Unidos pode muito bem ser acompanhada de taxas de juros muito baixas e um dólar baixo. Isso poderia produzir um novocarry-trade com dólares, no qual todos tomam emprestado em dólares para convertê-los em ativos de maior valor. Isso produziria uma tendência forte de desacoplamento (decoupling) de outras taxas de câmbio do dólar, mas não necessariamente prejudicaria o elemento central da dominância do dólar: a disposição de outros Estados de receber pagamentos por seus bens e créditos em dólares.
Também é provável que vejamos a intensificação das duas tendências estruturais básicas nas relações de longo prazo de crédito e dívida na economia mundial. Em primeiro lugar, as relações de credor entre o mundo atlântico e seu Sul tradicional na América Latina, na África e em outros locais, historicamente policiados pelo FMI. Essa relação se enfraqueceu na última década, mas deve ser reforçada durante a presente crise. Em segundo lugar, as relações complicadas de devedor entre os Estados Unidos e as economias do Novo Centro de Crescimento do Leste Asiático, que também devem se aprofundar e se tornar mais próximas, particularmente entre a China e os Estados Unidos. Essa é uma relação de poder na qual a China (e outros credores) pode exercer influência política real sobre Washington. Já vimos isso acontecendo tanto no timing quanto na forma da renacionalização da Fannie Mae e da Freddie Mac.25 Vamos voltar a vê-lo quando o Tesouro dos Estados Unidos procurar compradores para suas grandes novas parcelas de dívida em 2009.
As economias do Leste Asiático, sobretudo a China, provavelmente serão cada vez mais críticas em relação às tendências macroeconômicas globais, enquanto a antiga centralidade dos Estados Unidos enfraquecerá durante sua longa estagnação. O poder financeiro fortalecido da China e de outros Estados do Leste Asiático poderia se chocar com as velhas relações imperiais de crédito e dívida entre o mundo atlântico e o Sul, ao oferecer ao último fontes alternativas de apoio financeiro. Essa ameaça já está instigando exortações no mundo atlântico para que Washington amenize as condições predatórias que tradicionalmente impôs na África, na América Latina e em outros locais (Rothkopf, 2008).
Se isso, porém, significa que o Leste Asiático vai começar a construir novos arranjos institucionais de mercado para a economia mundial, desafiando aqueles do mundo anglo-americano, não se sabe, por dois motivos: primeiro, as divisões internas no Leste Asiático; e, segundo, a questão das prioridades estratégicas atuais da China. Assim, o Leste Asiático tem um óbvio interesse coletivo racional em construir seus próprios mercados decommodities e de petróleo centralizados e levá-los à liderança mundial, acabando com o domínio de Londres e Chicago. Novas estruturas de mercado surgiram, mas estão divididas: uma em Hong Kong, uma no Japão e uma em Cingapura. Quanto à China, está hoje sobretudo concentrada em manter o crescimento doméstico e completar o salto de acumulação dinâmica de capital da costa para o interior. Atualmente, não está demonstrando o menor interesse em desafiar os americanos pela liderança na influência sobre as instituições da economia mundial. Assim, os Estados Unidos têm algum espaço para respirar. Mas tamanha é a força social e econômica de Wall Street, e tamanha a fraqueza das forças sociais que poderiam pressionar por um revivalindustrial nos Estados Unidos, que parece mais provável que a classe capitalista americana vá desperdiçar sua chance. Se isso ocorrer, gozará de mais uma rodada de crescimento do PIB alimentado pela dívida e financiado pela China e outros, enquanto os Estados Unidos se tornarão cada vez menos centrais para a economia mundial, cada vez menos capazes de determinar suas regras e cada vez mais enredados na subordinação de suas dívidas de longo prazo à matriz de crédito do Leste Asiático.
1 A dívida total dos setores privados financeiros e não financeiros nos Estados Unidos em 2008 foi calculada em US$ 48 trilhões (Magnus, 2008).
2 Para uma pesquisa útil sobre por que a maioria dos economistas foram completamente incapazes de perceber a crise, ver Giles (2008).
3 O fato de que esses operadores financeiros foram capazes de inflar e estourar essas bolhas deriva, é claro, do fato de que os mercados de petróleo e commodities estão organizados em Londres, Nova York e Chicago, com normas pensadas para combinar com os interesses do capital americano e britânico. Como Jeff Sprecher (2008), executivo do Intercontinental Exchange (ICE) – o mercado sediado em Londres cujas normas permitiram inflar a bolha do petróleo –, explicou ao Financial Times, os organizadores do mercado não conseguiam entender por que membros do Congresso quereriam abrir mão do controle deste setor por meio do fechamento do ICE.
4 A porcentagem de 40% na verdade é menor do que a fatia dos lucros que vão para o sistema financeiro, já que parte deles é ocultada ao ser transformada em enormes bônus aos funcionários para reduzir os lucros aparentes; uma razão para o sistema de bônus é que é frequentemente ignorado.
5 Para uma análise anterior dessas questões, ver Gowan (1999).
6 A maior parte da renda dos bancos de investimento de Wall Street eram comissões (cartelizadas) para negociar títulos em nome de clientes até 1975, quando uma mudança na lei limitou essas comissões. No início dos anos 1980, essa renda proveniente de comissões ainda era maior do que os lucros advindos de negócios feitos em causa própria. Mas, a partir de meados dos anos 1980, esses bancos mergulharam seriamente nos investimentos diretos. No fim dos anos 1990, a renda proveniente dessas negociações era um terço maior do que a renda advinda de comissões para negociar em nome de outros. E, em alguns dos maiores bancos, metade de seus lucros veio dessas negociações (ver Gapper, 2008).
7 Sobre o Salomon Brothers e a subsequente carreira da equipe de John Meriwether nos anos 1990, quando eles construíram o Long-Term Capital Management com o patrocínio da Merrill Lynch, ver (Lowenstein, 2001).
8 Depois do escândalo da Enron, SIV e conduits foram inicialmente proibidos de se envolver em negociações em causa própria, mas essa restrição foi logo levantada.
9 Philip Augar (2006) fornece uma vívida narrativa sobre quão importante foi essa centralização de informações para dar aos bancos de investimento uma decisiva vantagem competitiva em relação aos bancos menores, de investimento ou não, seus concorrentes.
10 O termo alavancagem refere-se à relação entre o "patrimônio" ou "capital" de um banco e seus ativos — a soma que ele emprestou. É geralmente expressa como uma proporção, de forma que, se dissermos, por exemplo, que a alavancagem do Lehman no momento de seu colapso era de 25, isso significa que, para cada dólar de capital, o banco tinha 25 dólares de ativos. Mas isso também significa que, para cada dólar de capital, o Lehman tinha 24 dólares de dinheiro que tomou emprestado – ou seja, passivo.
11 Os bônus de altos executivos dos bancos eram frequentemente ligados ao aumento dos rendimentos por ação (ver Kay, 2008).
12 Em uma manobra típica, isso foi vendido como uma guinada da SEC na direção de maior regulação dos bancos de investimento. Do ponto de vista formal, isso estava correto: a SEC adquiriu jurisdição regulatória sobre eles, mas simultaneamente removeu restrições básicas relacionadas à base de capital. Além disso, de 2004 em diante, a SEC tinha sete funcionários para supervisionar os cinco grandes bancos de investimento, que tinham ativos combinados de mais de US$ 4 trilhões em 2007.
13 O torneio anual de tênis em Wimbledon é amplamente considerado, pelo menos no Reino Unido, como o mais importante do mundo, mas há décadas nenhum britânico chega às finais.
14 Existem alguns bancos comerciais britânicos muito grandes, mas eles deveriam ser diferenciados da City londrina porque, enquanto alguns participaram ativamente do Novo Sistema de Wall Street, outros como o Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), segundo alguns critérios o maior banco do mundo, e o Standard Chartered Bank têm se concentrado fortemente em atividades no Leste Asiático.
15 A Chicago Mercantile Exchange, contudo, domina as vendas de derivativos negociados em bolsa.
16 Essa expansão do financiamento bancário a negociações especulativas por meio da transformação de mercados "de atacado" cruzava, é claro, com o fim dos controles de capital, permitindo o crescimento da tomada de empréstimos internacionais por atacado pelos bancos e a ascensão de operações de "carry trade", como aquela baseada no iene: bancos tomando dinheiro emprestado em iene, a 0,5% ou menos, e investindo os fundos para a coroa islandesa, a 18%. O financiamento de bancos comerciais britânicos, em sua grande maioria doméstico no início dos anos 1990, tornara-se em grande parte baseado em empréstimos estrangeiros de atacado, chegando a cerca de 650 bilhões de libras em 2007.
17 Para uma narrativa útil (e apologética) de mainstream sobre os riscos envolvidos em CDO e derivativos de mercado de balcão como CDS, ver a publicação do FMI escrita por Schinasi (2006).
18 Houve tensões entre Wall Street e o regulador do Estado de Nova York Eliot Spitzer depois que a bolha ponto.com estourou, mas isso simplesmente destacou quão forte era o consenso nos níveis superiores.
19 Referências a esses tipos de debates podem ser encontradas em Baker et al. (2005).
20 Apesar de isso não significar que eles sejam todos igualmente instáveis.
21 Isso não quer dizer que a produção industrial americana desapareceu: ela permaneceu grande, especialmente no setor relacionado ao orçamento de defesa, assim como nos setores automobilístico, aeroespacial, de TIC e farmacêutico.
22 Uma série de mudanças em regras nacionais de contabilidade a partir de 1995 exagerou tanto os números de crescimento quanto os de produtividade. Notável aqui foi o uso dos chamados "indicadores hedônicos".
23 Adicionalmente, os Estados ocidentais da União Europeia (EU) impuseram uma precondição não oficializada, mas real, para a expansão para o Leste de que os novos membros deveriam entregar a maior parte de seus bancos comerciais a suas contrapartes ocidentais; um lance imperialista digno de nota. Esses bancos comerciais agora vão querer deixar os membros orientais da UE a seco no que diz respeito ao crédito, enquanto tentam usar todos os truques para desalavancar-se e sobreviver. Irão as autoridades políticas da UE intervir no mercado para evitar isso? Em caso positivo, como?
24 Uma tendência nessa direção fica evidente na decisão dos Estados Unidos de dar tratamento especial ao México, ao Brasil, a Cingapura e à Coreia do Sul em termos de apoio em financiamento em dólares.
25 O Financial Times relatou que o secretário do Tesouro americano Paulson confrontou o fato de que "o Banco da China diminuíra sua exposição a títulos da dívida de organismos públicos (agency debt) durante o verão" e assim: "encontrou-se diante de um fait accompli. O governo federal tinha que restabelecer a confiança dos investidores estrangeiros em títulos da dívida de organismos públicos se quisesse evitar o caos nos mercados financeiros e uma pressão sobre o dólar. Isso cheira às antigas crises da dívida nos países da América Latina, onde a pressão final para o resgate veio de investidores estrangeiros" (Gapper, 2008).
2 Para uma pesquisa útil sobre por que a maioria dos economistas foram completamente incapazes de perceber a crise, ver Giles (2008).
3 O fato de que esses operadores financeiros foram capazes de inflar e estourar essas bolhas deriva, é claro, do fato de que os mercados de petróleo e commodities estão organizados em Londres, Nova York e Chicago, com normas pensadas para combinar com os interesses do capital americano e britânico. Como Jeff Sprecher (2008), executivo do Intercontinental Exchange (ICE) – o mercado sediado em Londres cujas normas permitiram inflar a bolha do petróleo –, explicou ao Financial Times, os organizadores do mercado não conseguiam entender por que membros do Congresso quereriam abrir mão do controle deste setor por meio do fechamento do ICE.
4 A porcentagem de 40% na verdade é menor do que a fatia dos lucros que vão para o sistema financeiro, já que parte deles é ocultada ao ser transformada em enormes bônus aos funcionários para reduzir os lucros aparentes; uma razão para o sistema de bônus é que é frequentemente ignorado.
5 Para uma análise anterior dessas questões, ver Gowan (1999).
6 A maior parte da renda dos bancos de investimento de Wall Street eram comissões (cartelizadas) para negociar títulos em nome de clientes até 1975, quando uma mudança na lei limitou essas comissões. No início dos anos 1980, essa renda proveniente de comissões ainda era maior do que os lucros advindos de negócios feitos em causa própria. Mas, a partir de meados dos anos 1980, esses bancos mergulharam seriamente nos investimentos diretos. No fim dos anos 1990, a renda proveniente dessas negociações era um terço maior do que a renda advinda de comissões para negociar em nome de outros. E, em alguns dos maiores bancos, metade de seus lucros veio dessas negociações (ver Gapper, 2008).
7 Sobre o Salomon Brothers e a subsequente carreira da equipe de John Meriwether nos anos 1990, quando eles construíram o Long-Term Capital Management com o patrocínio da Merrill Lynch, ver (Lowenstein, 2001).
8 Depois do escândalo da Enron, SIV e conduits foram inicialmente proibidos de se envolver em negociações em causa própria, mas essa restrição foi logo levantada.
9 Philip Augar (2006) fornece uma vívida narrativa sobre quão importante foi essa centralização de informações para dar aos bancos de investimento uma decisiva vantagem competitiva em relação aos bancos menores, de investimento ou não, seus concorrentes.
10 O termo alavancagem refere-se à relação entre o "patrimônio" ou "capital" de um banco e seus ativos — a soma que ele emprestou. É geralmente expressa como uma proporção, de forma que, se dissermos, por exemplo, que a alavancagem do Lehman no momento de seu colapso era de 25, isso significa que, para cada dólar de capital, o banco tinha 25 dólares de ativos. Mas isso também significa que, para cada dólar de capital, o Lehman tinha 24 dólares de dinheiro que tomou emprestado – ou seja, passivo.
11 Os bônus de altos executivos dos bancos eram frequentemente ligados ao aumento dos rendimentos por ação (ver Kay, 2008).
12 Em uma manobra típica, isso foi vendido como uma guinada da SEC na direção de maior regulação dos bancos de investimento. Do ponto de vista formal, isso estava correto: a SEC adquiriu jurisdição regulatória sobre eles, mas simultaneamente removeu restrições básicas relacionadas à base de capital. Além disso, de 2004 em diante, a SEC tinha sete funcionários para supervisionar os cinco grandes bancos de investimento, que tinham ativos combinados de mais de US$ 4 trilhões em 2007.
13 O torneio anual de tênis em Wimbledon é amplamente considerado, pelo menos no Reino Unido, como o mais importante do mundo, mas há décadas nenhum britânico chega às finais.
14 Existem alguns bancos comerciais britânicos muito grandes, mas eles deveriam ser diferenciados da City londrina porque, enquanto alguns participaram ativamente do Novo Sistema de Wall Street, outros como o Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), segundo alguns critérios o maior banco do mundo, e o Standard Chartered Bank têm se concentrado fortemente em atividades no Leste Asiático.
15 A Chicago Mercantile Exchange, contudo, domina as vendas de derivativos negociados em bolsa.
16 Essa expansão do financiamento bancário a negociações especulativas por meio da transformação de mercados "de atacado" cruzava, é claro, com o fim dos controles de capital, permitindo o crescimento da tomada de empréstimos internacionais por atacado pelos bancos e a ascensão de operações de "carry trade", como aquela baseada no iene: bancos tomando dinheiro emprestado em iene, a 0,5% ou menos, e investindo os fundos para a coroa islandesa, a 18%. O financiamento de bancos comerciais britânicos, em sua grande maioria doméstico no início dos anos 1990, tornara-se em grande parte baseado em empréstimos estrangeiros de atacado, chegando a cerca de 650 bilhões de libras em 2007.
17 Para uma narrativa útil (e apologética) de mainstream sobre os riscos envolvidos em CDO e derivativos de mercado de balcão como CDS, ver a publicação do FMI escrita por Schinasi (2006).
18 Houve tensões entre Wall Street e o regulador do Estado de Nova York Eliot Spitzer depois que a bolha ponto.com estourou, mas isso simplesmente destacou quão forte era o consenso nos níveis superiores.
19 Referências a esses tipos de debates podem ser encontradas em Baker et al. (2005).
20 Apesar de isso não significar que eles sejam todos igualmente instáveis.
21 Isso não quer dizer que a produção industrial americana desapareceu: ela permaneceu grande, especialmente no setor relacionado ao orçamento de defesa, assim como nos setores automobilístico, aeroespacial, de TIC e farmacêutico.
22 Uma série de mudanças em regras nacionais de contabilidade a partir de 1995 exagerou tanto os números de crescimento quanto os de produtividade. Notável aqui foi o uso dos chamados "indicadores hedônicos".
23 Adicionalmente, os Estados ocidentais da União Europeia (EU) impuseram uma precondição não oficializada, mas real, para a expansão para o Leste de que os novos membros deveriam entregar a maior parte de seus bancos comerciais a suas contrapartes ocidentais; um lance imperialista digno de nota. Esses bancos comerciais agora vão querer deixar os membros orientais da UE a seco no que diz respeito ao crédito, enquanto tentam usar todos os truques para desalavancar-se e sobreviver. Irão as autoridades políticas da UE intervir no mercado para evitar isso? Em caso positivo, como?
24 Uma tendência nessa direção fica evidente na decisão dos Estados Unidos de dar tratamento especial ao México, ao Brasil, a Cingapura e à Coreia do Sul em termos de apoio em financiamento em dólares.
25 O Financial Times relatou que o secretário do Tesouro americano Paulson confrontou o fato de que "o Banco da China diminuíra sua exposição a títulos da dívida de organismos públicos (agency debt) durante o verão" e assim: "encontrou-se diante de um fait accompli. O governo federal tinha que restabelecer a confiança dos investidores estrangeiros em títulos da dívida de organismos públicos se quisesse evitar o caos nos mercados financeiros e uma pressão sobre o dólar. Isso cheira às antigas crises da dívida nos países da América Latina, onde a pressão final para o resgate veio de investidores estrangeiros" (Gapper, 2008).
ADRIAN, T.; SONG SHIN, H. Liquidity and Leverage. Staff Report n.328, Federal Reserve Bank of New York, maio de 2008. [ Links ]
AUGAR, P. The Greed Merchants: How the Investment Banks Played the Free Market Game. London: s. n., 2006. [ Links ]
BAKER, A. et al. Governing Financial Globalization. London: s. n., 2005. [ Links ]
BANNIER, C.; HÄNSEL, D. Determinants of European Banks Engagement in Loan Securitization. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies n.10, 2008. [ Links ]
BEATTIE, A.; POLITI, J. Greenspan admits he made a mistake. Financial Times, 24 de outubro 2008. [ Links ]
BLAS, J. Commodities have proved a saving grace for investors. Financial Times, 6 de março de 2008. [ Links ]
CASSIDY, J. Anatomy of a Meltdown: Ben Bernanke and the Financial Crisis. New Yorker, 1º de dezembro de 2008. [ Links ]
CRAWFORD, L.; TETT, G. Spain spared because it learnt lesson the hard way. Financial Times, 5 de fevereiro de 2008. [ Links ]
FLOOD, C. Speculators give a stir to coffee and cocoa prices. Financial Times, 5 de fevereiro de 2008. [ Links ]
GAPPER, J. A US government bail-out of foreign investors. Financial Times, 8 de setembro de 2008. [ Links ]
________ . The last gasp of the brokerdealer. Financial Times, 16 de setembro de 2008. [ Links ]
GILES, C. The Vision Thing. Financial Times, 26 de novembro de 2008. [ Links ]
GOWAN, P. Global Gamble. New York: London: s. n., 1999. [ Links ]
GREENSPAN, A. We will never have a perfect model of risk. Financial Times, 17 de março de 2008. [ Links ]
KAY, J. Surplus capital is not for wimps after all. Financial Times, 22 de outubro de 2008. [ Links ]
LABATON, S. How sec opened path for storm in 55 minutes. International Herald Tribune, 4/5 de outubro de 2008. [ Links ]
LOWENSTEIN, R. When Genius Failed. London: s. n., 2001. [ Links ]
________ . Origins of the Crash. New York: s. n., 2004. [ Links ]
MACKINTOSH, J. Collapse of Lehman leaves prime broker model in question. Financial Times, 25 de setembro de 2008. [ Links ]
MAGNUS, G. Important to curb destructive power of deleveraging. Financial Times, 30 de setembro de 2008. [ Links ]
MORGENSON, G. Behind crisis at aig, a fragile web of risks. Tiny London unit set decline in motion. International Herald Tribune, 29 de setembro de 2008. [ Links ]
PATTERSON, D. Central Banks must find or become buyers of system risk. Financial Times, 5 de fevereiro de 2008. [ Links ]
ROTHKOPF, D. The Fund faces up to competition. Financial Times, 22 de outubro de 2008.
RUBIN, R. Singing the blues. Economist, 27 de novembro de 2008.
SABER, N. Speculative Capital: The Invisible Hand of Global Finance. London: s. n., 1999.
SCHINASI, G. Safeguarding Financial Stability: Theory and Practice. Washington, DC: s. n., 2006.
SPRECHER, J. View from the Top. Financial Times, 6 de agosto de 2008.
SUMMERS, L. The pendulum swings towards regulation. Financial Times, 27 de outubro de 2008.
TETT, G. Misplaced bets on the carry trade. Financial Times, 17 de abril de 2008.
WOLF, M. Why Paulson's Plan was not a true solution to the crisis. Financial Times, 24 de setembro de 2008.
AUGAR, P. The Greed Merchants: How the Investment Banks Played the Free Market Game. London: s. n., 2006. [ Links ]
BAKER, A. et al. Governing Financial Globalization. London: s. n., 2005. [ Links ]
BANNIER, C.; HÄNSEL, D. Determinants of European Banks Engagement in Loan Securitization. Deutsche Bundesbank, Discussion Paper Series 2: Banking and Financial Studies n.10, 2008. [ Links ]
BEATTIE, A.; POLITI, J. Greenspan admits he made a mistake. Financial Times, 24 de outubro 2008. [ Links ]
BLAS, J. Commodities have proved a saving grace for investors. Financial Times, 6 de março de 2008. [ Links ]
CASSIDY, J. Anatomy of a Meltdown: Ben Bernanke and the Financial Crisis. New Yorker, 1º de dezembro de 2008. [ Links ]
CRAWFORD, L.; TETT, G. Spain spared because it learnt lesson the hard way. Financial Times, 5 de fevereiro de 2008. [ Links ]
FLOOD, C. Speculators give a stir to coffee and cocoa prices. Financial Times, 5 de fevereiro de 2008. [ Links ]
GAPPER, J. A US government bail-out of foreign investors. Financial Times, 8 de setembro de 2008. [ Links ]
________ . The last gasp of the brokerdealer. Financial Times, 16 de setembro de 2008. [ Links ]
GILES, C. The Vision Thing. Financial Times, 26 de novembro de 2008. [ Links ]
GOWAN, P. Global Gamble. New York: London: s. n., 1999. [ Links ]
GREENSPAN, A. We will never have a perfect model of risk. Financial Times, 17 de março de 2008. [ Links ]
KAY, J. Surplus capital is not for wimps after all. Financial Times, 22 de outubro de 2008. [ Links ]
LABATON, S. How sec opened path for storm in 55 minutes. International Herald Tribune, 4/5 de outubro de 2008. [ Links ]
LOWENSTEIN, R. When Genius Failed. London: s. n., 2001. [ Links ]
________ . Origins of the Crash. New York: s. n., 2004. [ Links ]
MACKINTOSH, J. Collapse of Lehman leaves prime broker model in question. Financial Times, 25 de setembro de 2008. [ Links ]
MAGNUS, G. Important to curb destructive power of deleveraging. Financial Times, 30 de setembro de 2008. [ Links ]
MORGENSON, G. Behind crisis at aig, a fragile web of risks. Tiny London unit set decline in motion. International Herald Tribune, 29 de setembro de 2008. [ Links ]
PATTERSON, D. Central Banks must find or become buyers of system risk. Financial Times, 5 de fevereiro de 2008. [ Links ]
ROTHKOPF, D. The Fund faces up to competition. Financial Times, 22 de outubro de 2008.
RUBIN, R. Singing the blues. Economist, 27 de novembro de 2008.
SABER, N. Speculative Capital: The Invisible Hand of Global Finance. London: s. n., 1999.
SCHINASI, G. Safeguarding Financial Stability: Theory and Practice. Washington, DC: s. n., 2006.
SPRECHER, J. View from the Top. Financial Times, 6 de agosto de 2008.
SUMMERS, L. The pendulum swings towards regulation. Financial Times, 27 de outubro de 2008.
TETT, G. Misplaced bets on the carry trade. Financial Times, 17 de abril de 2008.
WOLF, M. Why Paulson's Plan was not a true solution to the crisis. Financial Times, 24 de setembro de 2008.
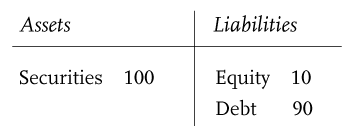
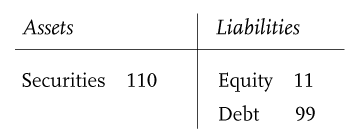
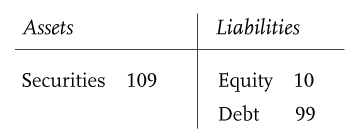
%20%20%5BPDF%5D.jpg)






