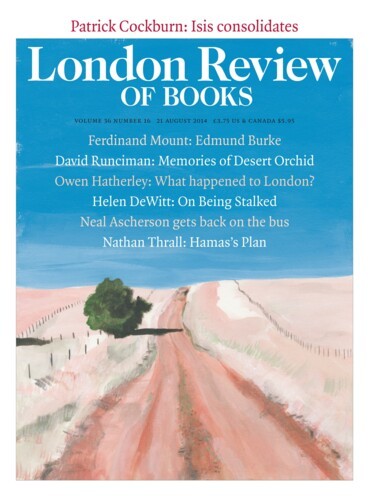Eli Friedman
Jacobin
Tradução / Durante anos, uma forte aliança entre o capital e os mais baixos níveis do estado chinês significou que as greves eram tratadas ou com repressão policial ou com um sistema de mediação ad hoc entre o sindicato e os funcionários governamentais que se concentrava quase exclusivamente em retomar a produção sem ter em conta os resultados para os trabalhadores.
Mas por volta de 2010, o governo central chinês e as autoridades provinciais de Guangdong não só estavam prontos para procurar um novo modelo de acumulação no delta do Rio das Pérolas como estavam dispostos a (indiretamente) aliar-se aos trabalhadores revoltosos para realizar este objectivo.
Tal aliança, conquanto tenha sido condicional e efémera, surgiu no decurso da greve da Nanhai Honda que, por sua vez, permitiu aos grevistas alcançar ganhos econômicos e começar a desenvolver objetivos políticos. Em grande parte por causa desta pequena abertura política, o carácter do protesto na onda grevista de 2010 mostrou algumas tendências não habituais ( senão mesmo sem precedentes), com significado para o facto de que as exigências tinham uma natureza mais ofensiva do que defensiva.
No entanto, mesmo embora os trabalhadores da Honda tenham tido importantes ganhos econômicos, todos os níveis do estado e dos sindicatos permanecem vigilantes quanto ao desenvolvimento das bases autônomas do poder operário. Embora tenham ocorrido ganhos econômicos na onda grevista de 2010, persiste o desapontamento dos trabalhadores com os sindicatos de empresas ligadas ao estado.
A Explosão na Honda
A cadeia de produção da Honda na China consiste num complicado sistema de propriedade. A empresa mais importante é a Guangzhou Honda, uma aliança (joint venture) a 50% com a Guangzhou Automobile Group Corporation detida pelo estado, onde a maioria das unidades é produzida. Outras fábricas de montagem incluem a Honda Automobile (China) que produz para os mercados estrangeiros e a joint venture Dongfeng Honda localizada em Wuhan.
Estas fábricas são servidas por uma variedade de fabricantes de peças incluindo a Nanhai Honda, totalmente detida por japoneses. Arrancando com a produção em Março de 2007 com um investimento inicial de $98 milhões de dólares americanos, a companhia foi a quarta fábrica de produção de transmissões automáticas integradas da Honda, no mundo. Para além de produzir transmissões, a fábrica também faz eixos de transmissão e barras de ligação para os motores.
Em parte porque a Honda acreditava que era altamente improvável paragens no trabalho na autoritária China, a fábrica Nanhai foi estabelecida como o único fornecedor de diversas peças chave para o funcionamento de toda a China. Produzindo a partir da China em vez de do Japão ou do sudeste asiático, a Honda podia reduzir custos, poupando no transporte e na mão-de-obra.
Em parte por causa da posição chave que a produção automóvel detém na economia, o governo deu primazia a manter boas relações laborais neste sector. Em resultado disso, todas as fábricas de montagem e de produção de peças da Honda em Guangdong, estabeleceram sindicatos. O sindicato na Guangzhou Honda tinha recebido vários prémios oficiais pelo seu bom trabalho e frequentemente recebia a visita de delegações de sindicalistas estrangeiros.
Mas havia limites rígidos até onde mesmo este sindicato modelo podia apoiar os seus trabalhadores. Durante um almoço em Dezembro de 2008 entre o presidente da Guangzhou Honda e dirigentes sindicais dos EUA, a conversa virou-se para a cooperação internacional entre sindicatos do sector automóvel. O presidente do sindicato disse que tinha visitado o Japão antes para trocar opiniões com outros representantes dos sindicatos automóveis e que sentia que tinham muito em comum.
Aludindo às dificuldades que as fábricas automóveis americanas enfrentavam na altura, gracejava que tinha dito ao seu homólogo japonês, “Temos um sindicato forte, como vocês. Mas não queremos ser demasiado fortes; veja só todos os problemas que eles têm nos Estados Unidos!”
De facto, sucedeu que a verdadeira fraqueza do sindicato da fábrica fornecedora de Nanhai tornou impossível que as reivindicações dos trabalhadores fossem ouvidas sem o recurso à greve; não apenas a fábrica de Nanhai, mas, em consequênca, o funcionamento da Honda em toda a China.
Embora os trabalhadores em Nanhai há muito estivessem descontentes com os salários e tivessem discutido entrarem em greve, nenhum dos trabalhadores sabia que Tan Guocheng ia iniciar a greve. Uma semana antes da greve, Tan encontrou-se com quinze trabalhadores do departamento de montagem onde trabalhava; antes, “só tinham tido conversas ocasionais sobre o autocarro (shuttle bus) que estavam a produzir.”
Um trabalhador deste departamento disse que a ideia tinha sido discutida, mas que ninguém a queria liderar. Em entrevistas separadas, trabalhadores de outros departamentos confirmaram que não tinham ouvido nada sobre a greve até ela ter começado. Mas de acordo com Tan, mais de vinte pessoas, a maioria de Hunan, estavam dentro do plano na altura em que ele foi posto a andar.
Na manhã de 17 de Maio, logo que a produção começou à hora habitual, às 7:50, Tan acionou o botão de paragem de emergência e as duas linhas de produção no departamento de montagem foram paradas. Tan e o co-organizador Xiao gritaram para cada linha de montagem: “Os nossos salários são tão baixos, vamos parar o trabalho!”
Para a maioria dos cerca de dois mil trabalhadores da fábrica, esta foi a primeira vez que ouviram falar da greve. Mesmo um trabalhador que era do departamento de montagem e tinha ouvido falar da possibilidade da greve, foi apanhado desprevenido: “Não sabia que a greve ia acontecer… Não estava lá na altura [porque tinha ido à casa de banho] Quando saí da casa de banho vi que não havia ninguém. Fiquei parado a olhar: ‘Que é isto, não se trabalha?’ ”
À medida que os trabalhadores do departamento de montagem se deslocavam através das instalações, gritavam para os seus colegas pararem o trabalho e juntarem-se-lhes para lutarem por salários mais altos. Inicialmente, tiveram digamos que uma recepção fria nos outros sectores e finalmente iniciaram um sit-in em frente da fábrica com apenas cerca de cinquenta trabalhadores.
Mas dada a posição crítica do sector da montagem no processo de produção, os outros departamentos foram forçados a fechar numa questão de horas. Nessa tarde, a direcção tinha colocado caixas de sugestões e suplicado aos trabalhadores que retomassem o trabalho, prometendo-lhes que iriam considerar a sua reivindicação de melhores salários e dar uma resposta completa dentro de quatro dias. Talvez por causa do seu número relativamente pequeno, os grevistas acreditaram na palavra da direcção e a produção foi retomada nesse mesmo dia.
A 20 de Maio, a direcção, os funcionários governamentais, os funcionários sindicais e os representantes dos trabalhadores iniciaram as negociações. A exigência dos trabalhadores nesta altura era simplesmente aumentar todos os salários em 800 RMB. Entretanto, os grevistas voltaram ao trabalho, embora a produção tenha reduzido muito durante estes dias.
No dia seguinte, as negociações foram interrompidas e a greve continuou. No fim de semana, os organizadores continuaram a fazer contactos e o número de grevistas em frente da fábrica subiu para cima de 300. A 22 de Maio a direcção anunciou que Tan e Xiao, os líderes iniciais da greve, tinham sido despedidos.
Mas com esta tentativa de repressão apenas lhes saiu o tiro pela culatra, porque no dia seguinte a greve ficou mais forte. Agora, preocupados com o seu sustento, os trabalhadores cobriam os rostos com máscaras cirúrgicas, mas continuaram a resistir.
Ao longo deste processo, o sindicato da empresa alternou entre a passividade e a hostilidade. Os trabalhadores queixaram-se que durante a sessão de negociação, o representante do sindicato não disse nada e apenas se limitou a observar. Quando a greve começou, uma equipa de investigadores do departamento laboral do distrito e o sindicato foram enviados para a fábrica.
Não deixando dúvidas quanto ao lado em que estavam da luta, os funcionários anunciaram: “De acordo com as normas relevantes, não encontrámos nada que configure que a fábrica esteja a violar quaisquer leis.”
Um trabalhador que foi seleccionado como representante estava muito desapontado com o comportamento do presidente do sindicato da empresa, Wu Youhe, na primeira ronda de negociações:
A 24 de Maio, os representantes dos trabalhadores foram convencidos a voltar à mesa das negociações numa sessão presidida pelo presidente do sindicato de empresa. Continuando a tentar servir como intermediário, o presidente do sindicato tentou persuadir os trabalhadores a aceitar a oferta da direcção de um aumento de 55 RMB no subsídio de alimentação – muito longe dos 800 RMB que eles reivindicavam.
Esta ineficácia não estava perdida nos trabalhadores, comentando um grevista: “O sindicato disse que defendia os nossos interesses. Disseram que nós, empregados, podíamos entregar-lhes quaisquer reivindicações, que eles as transmitiriam à direcção e que resolveriam as nossas questões. Mas não fizeram nada disso. “
Os grevistas recusaram a oferta da direcção a 24 de Maio e a situação subiu de tom. A 25 de Maio as coisas ficaram muito mais tensas quando todas as quatro fábricas de montagem da Honda na China estavam completamente paradas por causa da falta de peças.
Contando originalmente com uma força de trabalho disciplinada, a Honda só tinha um fornecedor de transmissões no país e todas as quatro fábricas de montagem na China estavam altamente dependentes da Nanhai. Calcula-se que as perdas diárias combinadas das cinco fábricas foram de 240 milhões RMB.
A direcção cedeu, produzindo uma segunda oferta de aumentos salariais a 26 de Maio. Esta proposta apontava para o aumento dos salários dos trabalhadores habituais em cerca de 200 RMB por mês e 155 em subsídios para despesas e um aumento do salário de 477 para contratados que estivessem na fábrica há mais de três meses. Mas os trabalhadores também rejeitaram esta oferta e a greve continuou.
Neste ponto, os trabalhadores formalizaram as suas reivindicações. A acrescentar à primeira exigência de aumento de salários para todos os trabalhadores em 800 RMB, reivindicavam também que os trabalhadores despedidos fossem readmitidos, que não houvesse castigos contra os grevistas e que o sindicato da empresa fosse “reorganizado” (chongzheng). De acordo com alguns grevistas, a exigência de reorganização do sindicato provinha do que tinham visto do falhanço do sindicato em representar activamente os trabalhadores nas anteriores reuniões de negociação.
Com as perdas a subirem, a direcção ficou desesperada e fez o máximo para tentar quebrar a luta e a unidade dos grevistas. O ataque mais directo foi a 28 de Maio quando os directores tentaram forçar os trabalhadores a assinar um compromisso de que “nunca mais iriam dirigir, organizar ou participar em diminuição da produção, paragens no trabalho ou greves.”
Mas esta táctica produziu o efeito contrário na medida em que praticamente ninguém concordou em assiná-lo. Um trabalhador disse: “logo que o vi [o acordo] deitei-o fora. Não vamos assiná-lo.” Um grupo de trabalhadoras disse que “ninguém mexeu uma mão.” Quando lhe perguntaram se tinham medo de recusar a exigência da direcção, uma trabalhadora insistiu: “Ninguém estava com medo! Quem havia de estar? Se eles quiserem despedir-nos, então vão ter que despedir-nos a todas!”
A greve estava a entrar numa fase decisiva. Provavelmente já a greve mais longa alguma vez feita por trabalhadores imigrantes na era da reforma, a situação tinha-se tornado uma crise política para o estado local. Apesar dos crescentes custos económicos e políticos, os acontecimentos de 31 de Maio apanharam toda a gente de surpresa.
O Sindicato como fura greves
Quando os trabalhadores chegaram à fábrica nessa manhã, foram informados que cada secção teria reuniões para discutir a resolução da greve. Quando os trabalhadores esperavam em várias salas do principal edifício da administração, apareceu um grande contingente de carrinhas e autocarros.
Os veículos tinham dúzias de homens, todos eles com chapéus amarelos e com emblemas onde se lia “Federação de Sindicatos de Shishan”, que é a organização sindical imediatamente subordinada do ramo do sindicato da empresa.
Pouco depois, o departamento de montagem, fundamental para reanimar a produção, encontrou-se com o director geral da fábrica e fez uma nova oferta para um aumento salarial. Embora ainda insatisfeitos com a nova oferta da direcção, os trabalhadores foram persuadidos a voltar às suas linhas de montagem. Começaram a surgir indicações de que a unidade dos grevistas se desmoronava, pois alguns departamentos começaram a ligar as suas linhas de montagem. Indivíduos do sindicato dispersaram-se por cada um dos departamentos e encorajaram os trabalhadores a retomar imediatamente a produção.
Quando alguns trabalhadores do departamento de montagem se deslocaram para regressar à área em frente da fábrica onde se tinham manifestado durante as duas últimas semanas, surgiu um confronto com o grupo do sindicato. Tal como foi confirmado de múltiplas fontes independentes, o pessoal do sindicato começou a filmar os trabalhadores e exigiu que regressassem à fábrica e parassem com a greve.
Rapidamente se criou uma situação de tensão que em breve deu azo a um confronto físico durante o qual vários trabalhadores foram agredidos por indivíduos do sindicato. Isto enfureceu os trabalhadores e uma greve que parecia estar a perder gás rapidamente ganhou força.
Trabalhadores de outros departamentos que tinham retomado a produção correram para o local logo que tiveram notícias da violência e rapidamente se juntou uma grande multidão. Ocorreu um novo confronto físico e, desta vez, o lado do sindicato foi ainda mais violento do que antes, com vários trabalhadores a sofrer ligeiros ferimentos. Os agressores regressaram rapidamente aos seus veículos e recusaram-se a sair.
Neste ponto, o governo decidiu que as coisas tinham ido longe demais e tomou medidas para resolver o conflito. A polícia anti-motim foi chamada, embora nunca se tenha envolvido com os trabalhadores. Além disso, as autoridades fizeram um cordão de protecção exterior à fábrica de modo a impedir a entrada a quem quer que fosse. Quaisquer que fossem as agências governamentais que tivessem apoiado a greve pacífica não estavam interessadas em mais confrontos violentos nem na possibilidade de que os grevistas pudessem deixar os campos da produção.
É certo que a maior parte dos que vinham substituir os grevistas não eram de facto funcionários sindicais. A primeira coisa referida por muitos trabalhadores foi que parecia absurdo que a federação ao nível municipal com apenas alguns membros pagos pudesse recrutar tantos funcionários de outras sucursais sindicais. Um trabalhador envolvido na contenda disse que alguns dos furagreves (todos homens) tinham brincos e tatuagens, coisas que os funcionários sindicais dificilmente exibiriam.
Mas se a maior parte dos capangas não eram de facto funcionários sindicais, não se pode, no entanto, negar que a federação sindical do distrito teve um papel na organização dos furagreves uma questão que se tornou óbvia numa carta que escreveu aos trabalhadores. Um trabalhador especializado do departamento de montagem foi frontal na sua apreciação: “Claro que foi ideia do sindicato. Quem mais podia ter tido tão estúpida ideia? Só os sindicatos chineses podiam ter pensado nisto.” Não é, contudo, claro até que ponto a federação sindical estava a agir a pedido da direcção ou se estava a executar uma acção independente.
Quando os trabalhadores receberam no dia seguinte uma carta aberta das Federações dos Sindicatos do Município de Shishan e do Distrito de Nanhai, os dirigentes sindicais locais deram uma desculpa morna e não denunciaram a violência que tinha ocorrido no dia anterior, nem tentaram negar que tinham organizado os furagreves:
A carta prosseguiu admoestando os trabalhadores por recusarem aceitar a oferta que a direcção tinha feito. Numa última tentativa para controlar os estragos, terminava dizendo, “Por favor, confiem no sindicato. Confiem em cada nível de funcionários do partido e do governo. Iremos sem dúvida alguma defender a justiça.”
A carta das federações dos sindicatos de Shishan e Nanhai não agradou aos grevistas. Como afirmou um trabalhador activista, “A carta de desculpas dos sindicatos não foi nenhuma carta de pedido de desculpas e por isso nós ficámos muito zangados.”
Uma carta aberta dos representantes dos trabalhadores que apareceu dois dias depois da carta de desculpas do sindicato foi desafiadora: “O sindicato deve proteger os direitos colectivos e os interesses dos trabalhadores e conduzi-los na greve. Mas até agora, têm andado à procura de desculpas para a violência do sindicato contra os trabalhadores em greve e nós condenamos isso violentamente.”
Ainda, a carta continuava exprimindo “extrema raiva” por o sindicato reclamar que tinha sido o grande trabalho do sindicato que tinha levado a direcção a aumentar a sua oferta de aumentos salariais, contestando que estes tinham “sido ganhos com o sangue e suor dos trabalhadores em greve enfrentando pressões extremas.” As relações entre os grevistas e o sindicato ao nível do município não podiam ter sido piores e certamente elevaram a tensão do drama a decorrer.
Resolução
Enquanto que a táctica do sindicato ao nível do município não conseguiu quebrar o impasse, os níveis mais altos do sindicato e do Partido foram muito mais compreensivos com os grevistas. Ouvi por parte da liderança do GZFTU que o secretário do Partido Guangdong Wang Yang apoiava a greve e as exigências salariais dos trabalhadores e mesmo que havia apoio no governo central.
O Departamento de Propaganda Central não emitiu uma nota de proibição senão a 29 de Maio, quase duas semanas após os confrontos, numa altura em que a onda grevista se tinha espalhado a outras fábricas. Mas isto era uma indicação que o governo central tinha vontade de que se desenvolvesse mais pressão sobre a direcção, na medida em que é raro que se faça a cobertura de greves durante tanto tempo. O presidente deputado do GDFTU, Kong Xianghong, desempenhou um papel activo nas negociações e apoiou as reivindicações salariais. Sobretudo depois do confronto entre o sindicato de Shishan e os trabalhadores, as autoridades a nível provincial estavam desejosas em resolver rapidamente o conflito.
De modo a encontrarem uma resolução ordeira, as várias agências governamentais que se tinham envolvido na greve exigiram que os trabalhadores escolhessem representantes. Embora tivesse sido seleccionado precipitadamente um conjunto de negociadores para a primeira ronda de negociações, os grevistas tinham ficado relutantes em arranjar representantes, sobretudo depois de os dois homens que tinham iniciado a greve terem sido despedidos.
Esta relutância em negociar era inaceitável para o estado o que levou a que Zeng Qinghong, delegado do Congresso Nacional do Povo e membro da Guangzhou Automotive CEO viesse falar com os trabalhadores. Através de amáveis e paternalistas métodos de persuasão, Zeng Qinghong convenceu os grevistas a escolher representantes e iniciar uma retoma condicional da produção.
Na sua carta aberta, os representantes dos trabalhadores disseram que se a direcção não respondesse às suas reivindicações dentro de três dias, a greve iria continuar. Além disso, a carta também afirmava que “os representantes negociais não aceitarão nada menos do que as exigências acima referidas sem a autorização de uma assembleia geral de trabalhadores.” Finalmente, as negociações começaram no terceiro dia.
A 4 de Junho, aos representantes dos trabalhadores juntou-se Chang Kai, um muito conhecido erudito especialista em trabalho, de Pequim, que serviu como seu advogado. As negociações estenderam-se pela noite dentro e finalmente foi firmado um acordo.
Os trabalhadores habituais iriam receber aumentos salariais de aproximadamente 500 RMB, pelo que os seus salários mensais iriam ficar acima dos 2,000 RMB. Os eventuais com baixos salários que trabalhavam ao lado dos trabalhadores habituais viram os seus salários aumentados em mais de 70% para mais de 600 RMB. Um aumento salarial tão grande em resposta a greves foi algo sem precedentes na China e pode deixar uma importante marca nas lutas que estão para vir.
Tradução / Durante anos, uma forte aliança entre o capital e os mais baixos níveis do estado chinês significou que as greves eram tratadas ou com repressão policial ou com um sistema de mediação ad hoc entre o sindicato e os funcionários governamentais que se concentrava quase exclusivamente em retomar a produção sem ter em conta os resultados para os trabalhadores.
Mas por volta de 2010, o governo central chinês e as autoridades provinciais de Guangdong não só estavam prontos para procurar um novo modelo de acumulação no delta do Rio das Pérolas como estavam dispostos a (indiretamente) aliar-se aos trabalhadores revoltosos para realizar este objectivo.
Tal aliança, conquanto tenha sido condicional e efémera, surgiu no decurso da greve da Nanhai Honda que, por sua vez, permitiu aos grevistas alcançar ganhos econômicos e começar a desenvolver objetivos políticos. Em grande parte por causa desta pequena abertura política, o carácter do protesto na onda grevista de 2010 mostrou algumas tendências não habituais ( senão mesmo sem precedentes), com significado para o facto de que as exigências tinham uma natureza mais ofensiva do que defensiva.
No entanto, mesmo embora os trabalhadores da Honda tenham tido importantes ganhos econômicos, todos os níveis do estado e dos sindicatos permanecem vigilantes quanto ao desenvolvimento das bases autônomas do poder operário. Embora tenham ocorrido ganhos econômicos na onda grevista de 2010, persiste o desapontamento dos trabalhadores com os sindicatos de empresas ligadas ao estado.
A Explosão na Honda
A cadeia de produção da Honda na China consiste num complicado sistema de propriedade. A empresa mais importante é a Guangzhou Honda, uma aliança (joint venture) a 50% com a Guangzhou Automobile Group Corporation detida pelo estado, onde a maioria das unidades é produzida. Outras fábricas de montagem incluem a Honda Automobile (China) que produz para os mercados estrangeiros e a joint venture Dongfeng Honda localizada em Wuhan.
Estas fábricas são servidas por uma variedade de fabricantes de peças incluindo a Nanhai Honda, totalmente detida por japoneses. Arrancando com a produção em Março de 2007 com um investimento inicial de $98 milhões de dólares americanos, a companhia foi a quarta fábrica de produção de transmissões automáticas integradas da Honda, no mundo. Para além de produzir transmissões, a fábrica também faz eixos de transmissão e barras de ligação para os motores.
Em parte porque a Honda acreditava que era altamente improvável paragens no trabalho na autoritária China, a fábrica Nanhai foi estabelecida como o único fornecedor de diversas peças chave para o funcionamento de toda a China. Produzindo a partir da China em vez de do Japão ou do sudeste asiático, a Honda podia reduzir custos, poupando no transporte e na mão-de-obra.
Em parte por causa da posição chave que a produção automóvel detém na economia, o governo deu primazia a manter boas relações laborais neste sector. Em resultado disso, todas as fábricas de montagem e de produção de peças da Honda em Guangdong, estabeleceram sindicatos. O sindicato na Guangzhou Honda tinha recebido vários prémios oficiais pelo seu bom trabalho e frequentemente recebia a visita de delegações de sindicalistas estrangeiros.
Mas havia limites rígidos até onde mesmo este sindicato modelo podia apoiar os seus trabalhadores. Durante um almoço em Dezembro de 2008 entre o presidente da Guangzhou Honda e dirigentes sindicais dos EUA, a conversa virou-se para a cooperação internacional entre sindicatos do sector automóvel. O presidente do sindicato disse que tinha visitado o Japão antes para trocar opiniões com outros representantes dos sindicatos automóveis e que sentia que tinham muito em comum.
Aludindo às dificuldades que as fábricas automóveis americanas enfrentavam na altura, gracejava que tinha dito ao seu homólogo japonês, “Temos um sindicato forte, como vocês. Mas não queremos ser demasiado fortes; veja só todos os problemas que eles têm nos Estados Unidos!”
De facto, sucedeu que a verdadeira fraqueza do sindicato da fábrica fornecedora de Nanhai tornou impossível que as reivindicações dos trabalhadores fossem ouvidas sem o recurso à greve; não apenas a fábrica de Nanhai, mas, em consequênca, o funcionamento da Honda em toda a China.
Embora os trabalhadores em Nanhai há muito estivessem descontentes com os salários e tivessem discutido entrarem em greve, nenhum dos trabalhadores sabia que Tan Guocheng ia iniciar a greve. Uma semana antes da greve, Tan encontrou-se com quinze trabalhadores do departamento de montagem onde trabalhava; antes, “só tinham tido conversas ocasionais sobre o autocarro (shuttle bus) que estavam a produzir.”
Um trabalhador deste departamento disse que a ideia tinha sido discutida, mas que ninguém a queria liderar. Em entrevistas separadas, trabalhadores de outros departamentos confirmaram que não tinham ouvido nada sobre a greve até ela ter começado. Mas de acordo com Tan, mais de vinte pessoas, a maioria de Hunan, estavam dentro do plano na altura em que ele foi posto a andar.
Na manhã de 17 de Maio, logo que a produção começou à hora habitual, às 7:50, Tan acionou o botão de paragem de emergência e as duas linhas de produção no departamento de montagem foram paradas. Tan e o co-organizador Xiao gritaram para cada linha de montagem: “Os nossos salários são tão baixos, vamos parar o trabalho!”
Para a maioria dos cerca de dois mil trabalhadores da fábrica, esta foi a primeira vez que ouviram falar da greve. Mesmo um trabalhador que era do departamento de montagem e tinha ouvido falar da possibilidade da greve, foi apanhado desprevenido: “Não sabia que a greve ia acontecer… Não estava lá na altura [porque tinha ido à casa de banho] Quando saí da casa de banho vi que não havia ninguém. Fiquei parado a olhar: ‘Que é isto, não se trabalha?’ ”
À medida que os trabalhadores do departamento de montagem se deslocavam através das instalações, gritavam para os seus colegas pararem o trabalho e juntarem-se-lhes para lutarem por salários mais altos. Inicialmente, tiveram digamos que uma recepção fria nos outros sectores e finalmente iniciaram um sit-in em frente da fábrica com apenas cerca de cinquenta trabalhadores.
Mas dada a posição crítica do sector da montagem no processo de produção, os outros departamentos foram forçados a fechar numa questão de horas. Nessa tarde, a direcção tinha colocado caixas de sugestões e suplicado aos trabalhadores que retomassem o trabalho, prometendo-lhes que iriam considerar a sua reivindicação de melhores salários e dar uma resposta completa dentro de quatro dias. Talvez por causa do seu número relativamente pequeno, os grevistas acreditaram na palavra da direcção e a produção foi retomada nesse mesmo dia.
A 20 de Maio, a direcção, os funcionários governamentais, os funcionários sindicais e os representantes dos trabalhadores iniciaram as negociações. A exigência dos trabalhadores nesta altura era simplesmente aumentar todos os salários em 800 RMB. Entretanto, os grevistas voltaram ao trabalho, embora a produção tenha reduzido muito durante estes dias.
No dia seguinte, as negociações foram interrompidas e a greve continuou. No fim de semana, os organizadores continuaram a fazer contactos e o número de grevistas em frente da fábrica subiu para cima de 300. A 22 de Maio a direcção anunciou que Tan e Xiao, os líderes iniciais da greve, tinham sido despedidos.
Mas com esta tentativa de repressão apenas lhes saiu o tiro pela culatra, porque no dia seguinte a greve ficou mais forte. Agora, preocupados com o seu sustento, os trabalhadores cobriam os rostos com máscaras cirúrgicas, mas continuaram a resistir.
Ao longo deste processo, o sindicato da empresa alternou entre a passividade e a hostilidade. Os trabalhadores queixaram-se que durante a sessão de negociação, o representante do sindicato não disse nada e apenas se limitou a observar. Quando a greve começou, uma equipa de investigadores do departamento laboral do distrito e o sindicato foram enviados para a fábrica.
Não deixando dúvidas quanto ao lado em que estavam da luta, os funcionários anunciaram: “De acordo com as normas relevantes, não encontrámos nada que configure que a fábrica esteja a violar quaisquer leis.”
Um trabalhador que foi seleccionado como representante estava muito desapontado com o comportamento do presidente do sindicato da empresa, Wu Youhe, na primeira ronda de negociações:
[O presidente do sindicato da empresa] convidou um advogado [para a primeira ronda de negociações]. O advogado disse que a nossa greve é ilegal. Ele [O presidente do sindicato] não tinha opiniões próprias e não tomava decisões. Perguntava sempre ao director geral o que havia de fazer. No fundo, ele é presidente e não é controlado pela companhia; tem o seu poder. Mas para ele, tudo tinha de passar pelo director geral e ajudava o director geral a refutar aquilo que nós dizíamos.
A 24 de Maio, os representantes dos trabalhadores foram convencidos a voltar à mesa das negociações numa sessão presidida pelo presidente do sindicato de empresa. Continuando a tentar servir como intermediário, o presidente do sindicato tentou persuadir os trabalhadores a aceitar a oferta da direcção de um aumento de 55 RMB no subsídio de alimentação – muito longe dos 800 RMB que eles reivindicavam.
Esta ineficácia não estava perdida nos trabalhadores, comentando um grevista: “O sindicato disse que defendia os nossos interesses. Disseram que nós, empregados, podíamos entregar-lhes quaisquer reivindicações, que eles as transmitiriam à direcção e que resolveriam as nossas questões. Mas não fizeram nada disso. “
Os grevistas recusaram a oferta da direcção a 24 de Maio e a situação subiu de tom. A 25 de Maio as coisas ficaram muito mais tensas quando todas as quatro fábricas de montagem da Honda na China estavam completamente paradas por causa da falta de peças.
Contando originalmente com uma força de trabalho disciplinada, a Honda só tinha um fornecedor de transmissões no país e todas as quatro fábricas de montagem na China estavam altamente dependentes da Nanhai. Calcula-se que as perdas diárias combinadas das cinco fábricas foram de 240 milhões RMB.
A direcção cedeu, produzindo uma segunda oferta de aumentos salariais a 26 de Maio. Esta proposta apontava para o aumento dos salários dos trabalhadores habituais em cerca de 200 RMB por mês e 155 em subsídios para despesas e um aumento do salário de 477 para contratados que estivessem na fábrica há mais de três meses. Mas os trabalhadores também rejeitaram esta oferta e a greve continuou.
Neste ponto, os trabalhadores formalizaram as suas reivindicações. A acrescentar à primeira exigência de aumento de salários para todos os trabalhadores em 800 RMB, reivindicavam também que os trabalhadores despedidos fossem readmitidos, que não houvesse castigos contra os grevistas e que o sindicato da empresa fosse “reorganizado” (chongzheng). De acordo com alguns grevistas, a exigência de reorganização do sindicato provinha do que tinham visto do falhanço do sindicato em representar activamente os trabalhadores nas anteriores reuniões de negociação.
Com as perdas a subirem, a direcção ficou desesperada e fez o máximo para tentar quebrar a luta e a unidade dos grevistas. O ataque mais directo foi a 28 de Maio quando os directores tentaram forçar os trabalhadores a assinar um compromisso de que “nunca mais iriam dirigir, organizar ou participar em diminuição da produção, paragens no trabalho ou greves.”
Mas esta táctica produziu o efeito contrário na medida em que praticamente ninguém concordou em assiná-lo. Um trabalhador disse: “logo que o vi [o acordo] deitei-o fora. Não vamos assiná-lo.” Um grupo de trabalhadoras disse que “ninguém mexeu uma mão.” Quando lhe perguntaram se tinham medo de recusar a exigência da direcção, uma trabalhadora insistiu: “Ninguém estava com medo! Quem havia de estar? Se eles quiserem despedir-nos, então vão ter que despedir-nos a todas!”
A greve estava a entrar numa fase decisiva. Provavelmente já a greve mais longa alguma vez feita por trabalhadores imigrantes na era da reforma, a situação tinha-se tornado uma crise política para o estado local. Apesar dos crescentes custos económicos e políticos, os acontecimentos de 31 de Maio apanharam toda a gente de surpresa.
O Sindicato como fura greves
Quando os trabalhadores chegaram à fábrica nessa manhã, foram informados que cada secção teria reuniões para discutir a resolução da greve. Quando os trabalhadores esperavam em várias salas do principal edifício da administração, apareceu um grande contingente de carrinhas e autocarros.
Os veículos tinham dúzias de homens, todos eles com chapéus amarelos e com emblemas onde se lia “Federação de Sindicatos de Shishan”, que é a organização sindical imediatamente subordinada do ramo do sindicato da empresa.
Pouco depois, o departamento de montagem, fundamental para reanimar a produção, encontrou-se com o director geral da fábrica e fez uma nova oferta para um aumento salarial. Embora ainda insatisfeitos com a nova oferta da direcção, os trabalhadores foram persuadidos a voltar às suas linhas de montagem. Começaram a surgir indicações de que a unidade dos grevistas se desmoronava, pois alguns departamentos começaram a ligar as suas linhas de montagem. Indivíduos do sindicato dispersaram-se por cada um dos departamentos e encorajaram os trabalhadores a retomar imediatamente a produção.
Quando alguns trabalhadores do departamento de montagem se deslocaram para regressar à área em frente da fábrica onde se tinham manifestado durante as duas últimas semanas, surgiu um confronto com o grupo do sindicato. Tal como foi confirmado de múltiplas fontes independentes, o pessoal do sindicato começou a filmar os trabalhadores e exigiu que regressassem à fábrica e parassem com a greve.
Rapidamente se criou uma situação de tensão que em breve deu azo a um confronto físico durante o qual vários trabalhadores foram agredidos por indivíduos do sindicato. Isto enfureceu os trabalhadores e uma greve que parecia estar a perder gás rapidamente ganhou força.
Trabalhadores de outros departamentos que tinham retomado a produção correram para o local logo que tiveram notícias da violência e rapidamente se juntou uma grande multidão. Ocorreu um novo confronto físico e, desta vez, o lado do sindicato foi ainda mais violento do que antes, com vários trabalhadores a sofrer ligeiros ferimentos. Os agressores regressaram rapidamente aos seus veículos e recusaram-se a sair.
Neste ponto, o governo decidiu que as coisas tinham ido longe demais e tomou medidas para resolver o conflito. A polícia anti-motim foi chamada, embora nunca se tenha envolvido com os trabalhadores. Além disso, as autoridades fizeram um cordão de protecção exterior à fábrica de modo a impedir a entrada a quem quer que fosse. Quaisquer que fossem as agências governamentais que tivessem apoiado a greve pacífica não estavam interessadas em mais confrontos violentos nem na possibilidade de que os grevistas pudessem deixar os campos da produção.
É certo que a maior parte dos que vinham substituir os grevistas não eram de facto funcionários sindicais. A primeira coisa referida por muitos trabalhadores foi que parecia absurdo que a federação ao nível municipal com apenas alguns membros pagos pudesse recrutar tantos funcionários de outras sucursais sindicais. Um trabalhador envolvido na contenda disse que alguns dos furagreves (todos homens) tinham brincos e tatuagens, coisas que os funcionários sindicais dificilmente exibiriam.
Mas se a maior parte dos capangas não eram de facto funcionários sindicais, não se pode, no entanto, negar que a federação sindical do distrito teve um papel na organização dos furagreves uma questão que se tornou óbvia numa carta que escreveu aos trabalhadores. Um trabalhador especializado do departamento de montagem foi frontal na sua apreciação: “Claro que foi ideia do sindicato. Quem mais podia ter tido tão estúpida ideia? Só os sindicatos chineses podiam ter pensado nisto.” Não é, contudo, claro até que ponto a federação sindical estava a agir a pedido da direcção ou se estava a executar uma acção independente.
Quando os trabalhadores receberam no dia seguinte uma carta aberta das Federações dos Sindicatos do Município de Shishan e do Distrito de Nanhai, os dirigentes sindicais locais deram uma desculpa morna e não denunciaram a violência que tinha ocorrido no dia anterior, nem tentaram negar que tinham organizado os furagreves:
Ontem, o sindicato participou em reuniões de mediação entre os trabalhadores e a direcção da Honda. Porque uma parte dos empregados da Honda recusou regressar ao trabalho, a produção da fábrica foi severamente reduzida. No processo de discussão com cerca de quarenta empregados, a certa altura ocorreram alguns malentendidos e desacordos verbais de ambas as partes.
Devido ao estado emocional impulsivo de alguns dos empregados, ocorreu um conflito físico entre alguns empregados e representantes do sindicato. Este incidente deixou uma impressão negativa nos empregados. Uma parte destes empregados, depois de terem sabido do incidente, parece terem interpretado erradamente as acções do sindicato como estando ao lado da direcção. O incidente de ontem deixou-nos completamente chocados. Se as pessoas sentem que alguns dos métodos usados no incidente de ontem foram um pouco difíceis de aceitar, pedimos desculpas.
O comportamento do acima mencionado grupo de perto de quarenta trabalhadores já prejudicou os interesses da maioria dos empregados. Além disso, tal comportamento prejudica a produção da fábrica. O facto de o sindicato se ter levantado e admoestado estes trabalhadores fá-lo totalmente pelo interesse da maioria dos empregados. É responsabilidade do sindicato!
Seria insensato que os trabalhadores procedessem de modo a irem contra os seus próprios interesses e de outros, por actos impulsivos. Alguns empregados estão preocupados que os seus representantes, que querem defendê-los e participar em discussões com a direcção,venham a ter mais tarde represálias por parte da direcção. Trata-se de um malentendido.
A carta prosseguiu admoestando os trabalhadores por recusarem aceitar a oferta que a direcção tinha feito. Numa última tentativa para controlar os estragos, terminava dizendo, “Por favor, confiem no sindicato. Confiem em cada nível de funcionários do partido e do governo. Iremos sem dúvida alguma defender a justiça.”
A carta das federações dos sindicatos de Shishan e Nanhai não agradou aos grevistas. Como afirmou um trabalhador activista, “A carta de desculpas dos sindicatos não foi nenhuma carta de pedido de desculpas e por isso nós ficámos muito zangados.”
Uma carta aberta dos representantes dos trabalhadores que apareceu dois dias depois da carta de desculpas do sindicato foi desafiadora: “O sindicato deve proteger os direitos colectivos e os interesses dos trabalhadores e conduzi-los na greve. Mas até agora, têm andado à procura de desculpas para a violência do sindicato contra os trabalhadores em greve e nós condenamos isso violentamente.”
Ainda, a carta continuava exprimindo “extrema raiva” por o sindicato reclamar que tinha sido o grande trabalho do sindicato que tinha levado a direcção a aumentar a sua oferta de aumentos salariais, contestando que estes tinham “sido ganhos com o sangue e suor dos trabalhadores em greve enfrentando pressões extremas.” As relações entre os grevistas e o sindicato ao nível do município não podiam ter sido piores e certamente elevaram a tensão do drama a decorrer.
Resolução
Enquanto que a táctica do sindicato ao nível do município não conseguiu quebrar o impasse, os níveis mais altos do sindicato e do Partido foram muito mais compreensivos com os grevistas. Ouvi por parte da liderança do GZFTU que o secretário do Partido Guangdong Wang Yang apoiava a greve e as exigências salariais dos trabalhadores e mesmo que havia apoio no governo central.
O Departamento de Propaganda Central não emitiu uma nota de proibição senão a 29 de Maio, quase duas semanas após os confrontos, numa altura em que a onda grevista se tinha espalhado a outras fábricas. Mas isto era uma indicação que o governo central tinha vontade de que se desenvolvesse mais pressão sobre a direcção, na medida em que é raro que se faça a cobertura de greves durante tanto tempo. O presidente deputado do GDFTU, Kong Xianghong, desempenhou um papel activo nas negociações e apoiou as reivindicações salariais. Sobretudo depois do confronto entre o sindicato de Shishan e os trabalhadores, as autoridades a nível provincial estavam desejosas em resolver rapidamente o conflito.
De modo a encontrarem uma resolução ordeira, as várias agências governamentais que se tinham envolvido na greve exigiram que os trabalhadores escolhessem representantes. Embora tivesse sido seleccionado precipitadamente um conjunto de negociadores para a primeira ronda de negociações, os grevistas tinham ficado relutantes em arranjar representantes, sobretudo depois de os dois homens que tinham iniciado a greve terem sido despedidos.
Esta relutância em negociar era inaceitável para o estado o que levou a que Zeng Qinghong, delegado do Congresso Nacional do Povo e membro da Guangzhou Automotive CEO viesse falar com os trabalhadores. Através de amáveis e paternalistas métodos de persuasão, Zeng Qinghong convenceu os grevistas a escolher representantes e iniciar uma retoma condicional da produção.
Na sua carta aberta, os representantes dos trabalhadores disseram que se a direcção não respondesse às suas reivindicações dentro de três dias, a greve iria continuar. Além disso, a carta também afirmava que “os representantes negociais não aceitarão nada menos do que as exigências acima referidas sem a autorização de uma assembleia geral de trabalhadores.” Finalmente, as negociações começaram no terceiro dia.
A 4 de Junho, aos representantes dos trabalhadores juntou-se Chang Kai, um muito conhecido erudito especialista em trabalho, de Pequim, que serviu como seu advogado. As negociações estenderam-se pela noite dentro e finalmente foi firmado um acordo.
Os trabalhadores habituais iriam receber aumentos salariais de aproximadamente 500 RMB, pelo que os seus salários mensais iriam ficar acima dos 2,000 RMB. Os eventuais com baixos salários que trabalhavam ao lado dos trabalhadores habituais viram os seus salários aumentados em mais de 70% para mais de 600 RMB. Um aumento salarial tão grande em resposta a greves foi algo sem precedentes na China e pode deixar uma importante marca nas lutas que estão para vir.