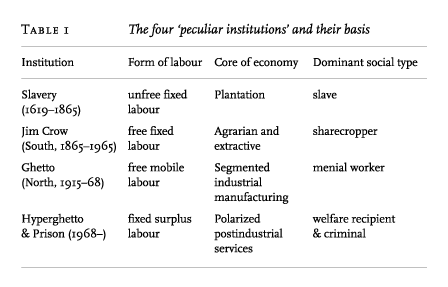Não só uma, mas várias “instituições peculiares” agiram sucessivamente para definir, confinar e controlar os afro-americanos na história dos Estados Unidos. A primeira foi a escravidão, como pivô da economia de plantation e matriz inceptiva da divisão racial desde a época colonial até a Guerra Civil. A segunda foi o sistema Jim Crow de discriminação e segregação impostas por lei, do berço à sepultura, que firmou a sociedade predominantemente agrária do Sul desde o fim da Reconstrução até a revolução dos Direitos Civis que lhe pôs termo, um século inteiro depois da abolição. O terceiro aparelho especial dos Estados Unidos para conter os descendentes de escravos nas metrópoles industriais do norte do país foi o gueto, que corresponde à urbanização e proletarização conjuntas dos afro-americanos desde a Grande Migração de 1914-30 até a década de 1960, quando se tornou em parte obsoleto por causa da transformação coetânea da economia e do Estado e do aumento dos protestos dos negros contra a constante exclusão de casta, culminando com as explosivas desordens urbanas descritas no Relatório da Comissão Kerner[1].
A quarta, afirmo aqui, é o novo complexo institucional formado pelos remanescentes do gueto negro e pelo aparelho carcerário ao qual se uniu por meio de uma relação interligada de simbiose estrutural e sub-rogação funcional. Isso indica que a escravidão e o encarceramento em massa estão genealogicamente ligados e que não é possível entender este último – seu ritmo, composição e surgimento sem sobressaltos, assim como a ignorância ou a aceitação silenciosa de seus efeitos deletérios sobre aqueles a quem afeta – sem voltar à primeira como ponto de partida histórico e análogo funcional.
Vista contra o pano de fundo de toda a trajetória histórica da dominação racial nos Estados Unidos (resumida na Tabela 1), a “desproporcionalidade” gritante e crescente do encarceramento que vem afligindo os afro-americanos nas últimas três décadas pode ser entendida como resultado das funções “extrapenais” que o sistema prisional veio a assumir na esteira da crise do gueto e do estigma constante que aflige os descendentes de escravos em virtude de pertencerem a um grupo constitutivamente privado de honra étnica (Massehre, de Max Weber).
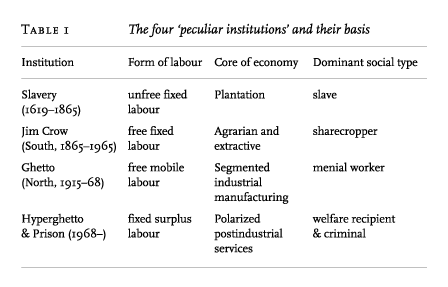
Não é o crime, mas a necessidade de sustentar uma clivagem de castas em erosão – além de reforçar o regime emergente de mão-de-obra assalariada e dessocializada ao qual estão fadados os negros, em sua maioria, por lhes faltar capital cultural comerciável e ao qual resistem os mais destituídos dentre eles refugiando-se na economia ilegal das ruas – que é o principal impulso por trás da expansão estupenda do estado penal dos Estados Unidos na época pós-keynesiana e de sua política de facto de “ação afirmativa carcerária” para com os afro-americanos[2].
Desproporcionalidade racial do encarceramento nos Estados Unidos
Três fatos cruéis se destacam e dão uma ideia da desproporção grotesca do impacto do encarceramento em massa sobre os afro-americanos. Primeiro, a composição étnica da população carcerária dos Estados Unidos praticamente inverteu-se no último meio século, passando de cerca de 70% de brancos (de origem inglesa) em meados do século XX para menos de 30% hoje em dia. Contrariamente à ideia mais comumente aceita, a predominância de negros atrás das grades não é um padrão antigo, mas um fenômeno novo e recente, com 1988 como ponto de inflexão: nesse ano, o então vice-presidente George Bush veiculou, durante a campanha presidencial, seu infame anúncio “Willie Horton”, mostrando imagens sinistras do estuprador negro de mulheres brancas como emblemáticas do “problema do crime” contemporâneo; também foi a partir desse ano que os afro-americanos passaram a ser maioria nos presídios do país como um todo[1].
Depois, embora a diferença entre a taxa de detenção de brancos e negros tenha ficado estável – com o percentual de negros oscilando entre 29% e 33% de todos os presos por crimes contra a propriedade e entre 44% e 47% por crimes violentos entre 1976 e 19922 –, o abismo entre brancos e negros encarcerados cresceu rapidamente no último quarto de século, pulando, em proporção, de 1 para 5 em 1985 para cerca de 1 para 8 hoje em dia. Essa tendência é ainda mais notável por ocorrer durante um período em que um número significativo de afro-americanos entrou para as fileiras da polícia, dos tribunais e da administração prisional, e nelas progrediu, e em que as formas mais visíveis de discriminação racial que nelas eram comuns na década de 1970 reduziram-se muito, quando não foram totalmente extintas[3].
Por fim, a probabilidade vitalícia cumulativa de “cumprir pena” numa penitenciária estadual ou federal com base nas taxas de encarceramento do início dos anos 1990 é de 4% para os brancos, 16% para os latinos e espantosos 29% para os negros [4]. Dado o gradiente de classe do encarceramento, esse número indica que a maioria dos afro-americanos de condição social (sub)proletária passa por uma pena de prisão de um ou mais anos (em muitos casos, várias penas) em algum ponto da vida adulta, com toda a desorganização familiar, profissional e legal que isso provoca, incluindo a redução dos direitos sociais e civis e a perda temporária ou permanente do direito de voto. Em 1997, quase um negro em cada seis, em todo o país, estava excluído das urnas em razão da condenação por crime grave, e mais de um quinto deles estava proibido de votar nos estados de Alabama, Connecticut, Flórida, Iowa, Mississippi, Novo México, Texas, Washington e Wyoming5. Apenas 35 anos depois que o movimento pelos direitos civis finalmente concedeu aos afro-americanos acesso efetivo às urnas, um século inteiro depois da abolição, esse direito lhes está sendo tomado pelo sistema penal por meio de disposições legais de validade constitucional duvidosa e que violam, em muitos casos (principalmente a perda vitalícia do direito de voto), as convenções internacionais sobre direitos humanos ratificadas pelos Estados Unidos.
Notas:
1 David Anderson, Crime and the politics of hysteria (Nova York, 1995).
2 Michael Tonry, Malign neglect (Oxford, 1995), p. 64.
3 Alfred Blumstein, “Racial disproportionality of US prisons revisited”, University of Colorado Law Review, v. 64, 1993, p. 743-60; mas ver o contra-argumento vigoroso de David Cole, Noequal justice (Nova York, 1999)
4 Thomas Bonczar e Alien Beck, “Lifetime likelihood of going to state or federal prison”, Bureau of Justice Statistics Special Report (BJS, Washington, março de 1997), p. 1; há uma análise,estado por estado, em Marc Mauer, “Racial disparities in prison getting worse in the 1990’s”,Overcrowded Times, v. 8, n. 1, fevereiro de 1997, p. 9-13.
5 John Hagan e Ronit Dinowitzer, “Collateral consequences of imprisonment for children, communities, and prisoners”, em Michael Tonry e Joan Petersilia (orgs.), Prisons (Chicago,1999), p. 121-62; e Jamie Fellner e Marc Mauer, Losing the vote: the impact of felony disenfranchisement in the US (Washington, 1998).
Extração do trabalho e divisão em castas
As três primeiras “instituições peculiares” dos Estados Unidos – escravidão, Jim Crow e o gueto – têm isto em comum: foram instrumentos para a extração de trabalho e a ostracização social conjuntas de um grupo desprezado e considerado inassimilável em virtude do estigma triplo e indelével que carrega. Os afro-americanos chegaram sob cativeiro à terra da liberdade. Foram devidamente privados do direito de voto no autodenominado berço da democracia (até 1965 para os residentes dos estados do Sul). E, por falta de filiação nacional reconhecível, foi-lhes tirada a honra étnica, fazendo com que, em vez de ficar simplesmente na parte de baixo da escala de prestígio de grupo da sociedade norte-americana, foram dela barrados ab initio3.
1. Escravidão (1619-1865). A escravidão é uma instituição maleabilíssima e versátil que pode ser atrelada a vários propósitos, mas nas Américas a propriedade de pessoas voltou-se sobretudo para o fornecimento e o controle da mão-de-obra4. Sua adoção nas regiões do Chesapeake, no litoral atlântico mediano e no sul dos Estados Unidos no século XVII serviu para recrutar e regulamentar a força de trabalho não-livre importada à força da África e das Índias Ocidentais para cuidar de seu fumo, seu arroz e sua economia agropecuária. (Os trabalhadores sob contrato de servidão vindos da Europa e os índios nativos não foram escravizados em virtude de sua maior capacidade de resistir e porque sua servidão impediria a imigração futura, além de exaurir rapidamente uma oferta limitada de mão-de-obra.) No final do século XVIII, a escravidão tornara-se capaz de se reproduzir sozinha e expandira-se para o crescente fértil do interior sulista, indo da Carolina do Sul à Louisiana, onde permitiu uma organização altamente lucrativa da mão-de-obra na produção algodoeira e foi a base de uma sociedade de plantation notável por sua cultura, política e psicologia quase feudais5.
Um subproduto imprevisto da escravização e da desumanização sistemáticas dos africanos e de seus descendentes em solo norte-americano foi a criação de uma linha de casta racial separando os que, mais tarde, seriam rotulados de “negros” e “brancos”. Como demonstrou Barbara Fields, a ideologia norte-americana da “raça”, como divisão biológica putativa baseada na aplicação inflexível da “regra de uma gota” juntamente com o princípio da hipodescendência, cristalizou-se para resolver a contradição gritante entre a servidão humana e a democracia6. A crença religiosa e pseudocientífica na diferença racial conciliou o fato cruel da mão-de-obra cativa com a doutrina da liberdade baseada em direitos naturais, ao reduzir o escravo a uma propriedade viva – três quintos de homem, segundo as sagradas escrituras da Constituição.
2. Jim Crow (sul, 1865-1965). A divisão racial foi conseqüência, e não precondição, da escravidão norte-americana, mas depois de instituída isolou-se de sua função inicial e adquiriu força social própria. Assim, a emancipação criou um dilema duplo para a sociedade sulista branca: como voltar a garantir a mão-de-obra dos ex-escravos, sem a qual a economia da região entraria em colapso, e como manter a distinção fundamental entre o status dos brancos e o das “pessoas de cor”, ou seja, a distância social e simbólica necessária para impedir o estigma da “amalgamação” com um grupo considerado inferior, sem raízes e vil. Depois de um prolongado interregno que durou até a década de 1890, durante o qual a histeria branca inicial deu lugar a um certo relaxamento, embora inconstante, das restrições etno-raciais, quando os negros tiveram permissão de votar, ocupar cargos públicos e misturar-se até certo ponto com os brancos, mantendo a intimidade entre os grupos promovida pela escravidão –, a solução veio na forma do regime “Jim Crow”7. Consistia em um conjunto de códigos sociais e legais que determinava a separação completa das “raças” e limitava acentuadamente as oportunidades de vida dos afro-americanos, ao mesmo tempo em que os prendia aos brancos numa relação de submissão generalizada sustentada pela coação legal e pela violência terrorista.
Importado do norte, onde fora experimentado em algumas cidades, esse regime determinava que os negros viajassem em vagões e bondes separados, com salas de espera também separadas; que morassem em cortiços nos “bairros negros”e freqüentassem escolas separadas (quando as freqüentavam); que prestigiassem estabelecimentos de serviço separados e usassem seus próprios banheiros e bebedouros; que orassem em igrejas separadas, se divertissem em lugares separados e se sentassem em “galerias para negros” nos teatros; que recebessem cuidados médicos em hospitais separados com equipe exclusivamente “de cor”, e que fossem encarcerados em celas separadas e sepultados em cemitérios separados. O mais importante foi que as leis uniram-se aos costumes para condenar o “crime inefável” do casamento, da coabitação ou da mera conjunção sexual inter-racial, de modo a defender a “lei suprema da autopreservação” das raças e o mito da superioridade branca inata. Com a propriedade da terra sempre nas mãos dos brancos e a generalização da parceria agrícola e da servidão por dívida, o sistema de plantation permaneceu praticamente intocado quando os ex-escravos se transformaram num “campesinato dependente e sem terras, oficialmente livre mas aprisionado pela pobreza, pela ignorância e pela nova servidão do arrendamento”8. Enquanto a parceria agrícola amarrava à fazenda a mão-de-obra afro-americana, uma etiqueta rígida garantia que brancos e negros nunca interagissem num plano de igualdade, nem mesmo numa pista de corrida ou num ringue de boxe – uma portaria de 1930, em Birmingham, tornou ilegal que jogassem xadrez ou dominó uns com os outros9. Sempre que a “linha da cor” fosse ultrapassada ou mesmo tocada de raspão, deflagrava-se uma torrente de violência na forma de pogroms periódicos, ataques da Ku Klux Klan e de “vigilantes”, açoitamentos públicos, matanças e linchamentos; esse assassinato ritual de casta tinha como objetivo manter os “pretos presunçosos” em seu devido lugar. Tudo isso foi possibilitado pela anulação rápida e quase completa do direito de voto dos negros, assim como pela imposição da “lei do negro” nos tribunais, que lhes concediam menos salvaguardas legais efetivas do que havia sido antes garantido aos escravos por força de serem ao mesmo tempo pessoas e propriedades.
3. Gueto (norte, 1915-68). A absoluta brutalidade da opressão de castas no Sul, o declínio da agricultura algodoeira em função das enchentes e da praga de bicudo, e a escassez premente de mão-de-obra nas fábricas nortistas provocada pelo início da Primeira Guerra Mundial estimularam os afro-americanos a emigrar em massa para os prósperos centros industriais do meio-oeste e do nordeste (mais de um milhão e meio partiram em 1910-30, seguidos por mais três milhões em 1940-60). Mas quando os migrantes, vindos desde o Mississippi até as Carolinas, chegaram em multidões às metrópoles do norte, descobriram que aquela não era a “terra prometida” da igualdade e da completa cidadania, mas sim outro sistema de isolamento racial, o gueto, que, embora fosse menos rígido e assustador que aquele do qual fugiram, era não menos abrangente e restritivo. É claro que a maior liberdade de ir e vir em lugares públicos e de consumir em estabelecimentos comerciais comuns, o desaparecimento dos cartazes humilhantes indicando “de cor” aqui e “branco” ali, a volta do acesso às urnas e a proteção dos tribunais, a possibilidade de limitado avanço econômico, a libertação da subserviência pessoal e do temor da onipresente violência branca, tudo isso tornava a vida no norte urbano incomparavelmente preferível à servidão constante no sul rural – “melhor ser um poste de luz em Chicago do que presidente em Dixie” era a famosa frase dita por migrantes a Richard Wright. Mas acordos restritivos obrigaram os afro-americanos a congregar-se num “Cinturão Negro” que logo ficou superpopuloso, malservido e eivado de crime, doença e dilapidação, enquanto o “teto empregatício” limitava-os às ocupações mais arriscadas, braçais e mal pagas, tanto no setor industrial quanto no de serviços pessoais. Quanto à “igualdade social”, entendida como possibilidade de “tornar-se membro de grupos, igrejas e associações de voluntários brancos ou casar-se com membros de suas famílias”, era-lhes firme e definitivamente negada[10].
Os negros tinham entrado na economia industrial fordista, para a qual contribuíram como fonte vital de mão-de-obra abundante e barata disposta a acompanhar seus ciclos de expansão e queda. Mas permaneceram presos a uma posição precária de marginalidade econômica estrutural e comprometidos com um microcosmo segregado e dependente, com sua própria divisão interna de trabalho, sua estratificação social e seus órgãos de voz coletiva e representação simbólica: uma “cidade dentro da cidade”, ancorada num complexo de igrejas negras e imprensa, profissões comerciais e liberais, lojas fraternas e associações comunitárias que constituíam tanto um “ambiente para americanos negros no qual [podem] dar significado à sua vida” quanto um bastião “para ‘proteger’ os Estados Unidos brancos do ‘contato social’ com os negros”11. A constante hostilidade de casta do lado de fora e a afinidade étnica renovada do lado de dentro convergiram para criar o gueto como terceiro veículo para extrair trabalho da mão-de-obra negra mantendo, ao mesmo tempo, os corpos negros a uma distância segura, para benefício material e simbólico da sociedade branca.
A época do gueto como principal mecanismo de dominação etnorracial iniciou-se com as rebeliões urbanas de 1917-19 (no lado leste de Saint Louis, em Chicago, Longview, Houston etc.). Terminou com uma onda de choques, saques e incêndios que abalou centenas de cidades norte-americanas de costa a costa, do levante de Watts em 1965 aos quebra-quebras de fúria e ressentimento provocados pelo assassinato de Martin Luther King no verão de 1968. Com efeito, no final da década de 1960 o gueto já estava se tornando funcionalmente obsoleto ou, para ser mais exato, cada vez mais inadequado para cumprir a dupla tarefa confiada historicamente às “instituições peculiares” dos Estados Unidos. Do lado da extração de trabalho, a passagem da economia industrial urbana para a economia de serviços suburbana e a conseqüente dualização da estrutura ocupacional, junto com o surto de imigração operária do México, do Caribe e da Ásia, fez com que grandes segmentos da força de trabalho contida nos “Cinturões Negros” das metrópoles do norte simplesmente não fossem mais necessários. Do lado do confinamento etnorracial, as décadas de mobilização dos afro-americanos contra as regras do sistema de castas acabaram por obrigar o governo federal – na propícia conjuntura de crise nascida da guerra do Vietnã e da generalizada insatisfação social – a desmontar a maquinaria legal da exclusão de casta. Depois de garantir os direitos civis e o voto, os negros tornaram-se finalmente cidadãos de verdade, que não suportariam mais o mundo separado e inferior do gueto[12].
Mas embora os brancos, em princípio e de má vontade, aceitassem a “integração”, na prática esforçaram-se para manter um abismo social e simbólico intransponível entre eles e seus compatriotas de ascendência africana. Abandonaram as escolas públicas, evitaram os espaços comuns e fugiram aos milhões para os subúrbios, para evitar se misturar, defendendo-se do espectro da “igualdade social” na cidade. Então, voltaram-se contra o Estado de bem-estar social e aqueles pro- gramas dos quais mais dependia o progresso coletivo dos negros. Pelo contrário, aumentaram o apoio entusiasmado às políticas de “lei e ordem” voltadas a reprimir com mão forte as desordens urbanas, congenitamente percebidas como ameaças raciais13. Essas políticas apontavam para mais uma instituição especial capaz de confinar e controlar, se não toda a comunidade afro-americana, pelo menos seus integrantes mais desordeiros, menos respeitáveis e mais perigosos: a prisão.
O gueto como prisão, a prisão como gueto
Para perceber o parentesco íntimo entre gueto e prisão, o que ajuda a explicar como o declínio estrutural e a superfluidade funcional de um levou à ascensão inesperada e ao crescimento espantoso da outra durante os últimos 25 anos, é necessário, primeiro, caracterizar com exatidão o gueto14. Mas então deparamos com o problema de que as ciências sociais deixaram de desenvolver um conceito analítico rigoroso do gueto; em vez disso, contentaram-se em tomar emprestado o conceito popular presente no discurso político e público de cada época. Isso provocou muita confusão, já que o gueto foi sucessivamente fundido e confundido com um distrito segregado, um bairro étnico, um território de intensa pobreza ou decadência habitacional e até, com o surgimento do mito político da “subclasse” em período mais recente, um mero acúmulo de patologias urbanas e comporta- mentos anti-sociais[15].
Uma sociologia comparativa e histórica dos bairros reservados aos judeus nas cidades da Europa renascentista e da “Bronzeville” dos Estados Unidos na metrópole fordista do século XX revela que o gueto, em essência, é um mecanismo socioespacial que permite a um grupo de posição social dominante em ambiente urbano condenar ao ostracismo e ao mesmo tempo explorar um grupo subordinado dotado de capital simbólico negativo, ou seja, uma propriedade encarnada percebida como capaz de tornar seu contato degradante, em virtude do que Max Weber chama de “estimativa social negativa da honra”. Em outras palavras, é uma relação de controle e confinamento etnorracial construída com quatro elementos: (i) estigma; (ii) restrição; (iii) confinamento territorial; e (iv) enclausuramento institucional. A formação resultante é um espaço distinto com uma população etnicamente homogênea que se vê forçada a desenvolver, dentro dele, um conjunto de instituições interligadas que duplica o arcabouço organizativo da sociedade em geral, da qual aquele grupo é banido, e constitui os andaimes da construção de seu “estilo de vida” específico e suas estratégias sociais. Esse nexo institucional paralelo dá ao grupo subordinado uma certa medida de proteção, autonomia e dignidade, mas à custa de trancá-lo numa relação de dependência e subordinação estruturais.
O gueto, em resumo, funciona como prisão etnorracial: encarcera uma categoria desonrada e limita seriamente a possibilidade de vida de seus integrantes em apoio à “monopolização dos bens ou oportunidades ideais e materiais” pelo grupo de posição social dominante que mora em seus arredores16. Lembremo-nos de que os guetos nos primórdios da Europa moderna eram em geral delimitados por muros altos com um ou mais portões trancados à noite e para onde os ju- deus tinham de voltar antes do anoitecer sob pena de castigos severos, e que seu perímetro era submetido a constante monitoramento das autoridades externas17. Observe-se a homologia estrutural e funcional com a prisão, conceituada como um gueto jurídico: uma cadeia ou penitenciária é, com efeito, um espaço delimitado que serve para confinar à força uma população legalmente denegrida e onde esta última desenvolve suas instituições distintas, sua cultura e sua identidade macula- da. Assim, é formada pelos mesmos quatro constituintes fundamentais – estigma, coação, cerceamento físico e paralelismo e isolamento organizacionais – que configuram o gueto, e com propósitos semelhantes.
Assim como o gueto protege os demais moradores da poluição do inter-relacionamento com os corpos manchados mas necessários de um grupo rejeitado, à maneira de um “preservativo urbano” – como Richard Sennett explicou vivamente em sua descrição do “medo de tocar” na Veneza do século XVI18 –, a prisão limpa o corpo social da mancha temporária daqueles seus integrantes que cometeram crimes, ou seja, segundo Durkheim, indivíduos que violaram a integridade sociomoral da coletividade ao infringir “estados fortes e definidos da consciência coletiva”. Os estudiosos da “sociedade da prisão” – de Donald Clemmer e Gresham Sykes a James Jacobs e John Irwin – observaram repetidas vezes como os presos desenvolvem seus próprios papéis e jargões, seus sistemas de troca e suas regras, seja como reação adaptativa ao “sofrimento da prisão”, seja pela importação seletiva de valores criminais e da classe mais baixa vindos de fora, assim como os moradores do gueto elaboraram ou intensificaram uma “subcultura separada” para contrabalançar seu enclausuramento sócio-simbólico19. Quanto à meta secundária do gueto – facilitar a exploração da categoria aprisionada –, ela é fundamental na “casa de correção”, antecessora histórica direta da prisão moderna, e teve papel periódico e importante na evolução e no funcionamento desta última20. Finalmente, tanto a prisão quanto o gueto são estruturas de autoridade carregadas de legitimidade duvidosa ou problemática, cuja manutenção é garantida pelo uso intermitente da força externa.
Assim, no final dos anos 1970, quando a reação racial e de classe contra os avanços democráticos conquistados pelos movimentos sociais da década anterior atingiu o máximo de força, a prisão voltou de repente ao primeiro plano da sociedade norte-americana e ofereceu-se como solução universal mais simples para todo tipo de problema social. O principal desses problemas era o “colapso” da ordem social na inner city*, eufemismo acadêmico e policial para a incapacidade patente do gueto negro em conter a população excedente e desonrada, vista, daí para a frente, não só como desviante e desviada mas também como perigosa, à luz dos violentos levantes urbanos de meados dos anos 1960. Quando os muros do gueto tremeram e ameaçaram desmoronar, os muros da prisão foram, correspondentemente, ampliados, aumentados e fortalecidos, e o “confinamento da diferenciação”, que visava a manter um grupo apartado (significado etimológico de segregare), obteve primazia sobre o “confinamento de segurança” e o “confinamento de autoridade” – para usar a distinção proposta pelo sociólogo francês Claude Faugeron21. Logo o gueto negro, convertido em instrumento de exclusão nua e crua pela redução concomitante do trabalho assalariado e da proteção social e ainda mais desestabilizado pela penetração crescente do braço penal do Estado, ficou amarrado ao sistema de cadeias e penitenciárias por uma relação tripla de equivalência funcional, homologia estrutural e sincretismo cultural, de modo que hoje constituem uma única linha carcerária contínua que envolve uma população excedente de homens negros jovens (e cada vez mais mulheres) num circuito fechado entre seus dois pólos num ciclo de marginalidade social e legal que perpetua a si mesmo, com conseqüências pessoais e sociais devastadoras22.
Acontece que o sistema carcerário já tinha funcionado como instituição auxiliar da preservação das castas e do controle da mão-de-obra nos Estados Unidos durante uma transição anterior entre regimes de domínio racial: entre a escravidão e o sistema Jim Crow, no sul. Logo após a emancipação, as prisões sulistas empreteceram da noite para o dia quando “milhares de ex-escravos passaram a ser presos, julgados e condenados por atos que, no passado, tinham sido resolvidos somente pelo senhor” e por se recusarem a se comportar como trabalhadores braçais e seguir as regras degradantes da etiqueta racial. Pouco depois, os ex-estados confederados criaram o “aluguel de condenados” como reação ao pânico moral do “crime negro”, com a dupla vantagem de gerar recursos prodigiosos para os cofres do Estado e fornecer mão-de-obra cativa e abundante para arar os campos, construir diques, pavimentar estradas, limpar os pântanos e cavar as minas da região em condições de trabalho assassinas23. Na verdade, a mão-de-obra penal, sob a forma de aluguel de condenados e de seu herdeiro, o chain gang ou “grupo de trabalho acorrentado”, teve papel importante no avanço econômico do “novo sul” durante a época progressista, como se “conciliasse a modernização com a continuação do domínio racial”24.
O que hoje torna diferente a mediação racial do sistema carcerário é que, diversamente da escravidão, do sistema Jim Crow e do gueto de meados do século, não cumpre uma missão econômica positiva de recrutar e disciplinar a força de trabalho, mas serve apenas para armazenar as frações precárias e desproletarizadas da classe operária negra, seja porque não conseguem encontrar emprego devido a uma combinação de falta de preparo, discriminação dos empregadores e competição de imigrantes, seja porque se recusam a submeter-se à indignidade do trabalho abaixo do padrão nos setores periféricos da economia de serviços – aquilo que os moradores do gueto costumam chamar de slave jobs, “empregos escravos”. Mas há hoje uma pressão financeira e ideológica crescente, além de um novo interesse político, para relaxar as restrições ao trabalho penal, de modo a (re)instituir em massa o trabalho não-especializado em empresas privadas dentro das prisões norte-americanas: pôr para trabalhar a maior parte dos presos ajudaria a reduzir a “conta carcerária” do país, além de estender efetivamente aos detentos mais pobres a exigência de emprego hoje imposta aos pobres livres como condição de cidadania25. A próxima década dirá se a prisão permanecerá como apêndice do gueto negro ou se vai superá-lo para seguir sozinha e tornar-se a quarta “instituição peculiar” dos Estados Unidos.
Formação da raça e morte social
A escravidão, o sistema Jim Crow e o gueto são instituições de “formação da raça”, ou seja, não agem simplesmente sobre uma divisão etnorracial que, de algum modo, exista fora e independentemente delas. Em vez disso, cada uma delas produz (ou co-produz) essa divisão (de novo) a partir de demarcações herdadas e disparidades do poder grupal e inscreve-a, em cada época, numa constelação distinta de formas concretas e simbólicas. E todas racializaram constantemente a fronteira arbitrária que deixa os afro-americanos apartados de todos os outros nos Estados Unidos ao lhes negar sua origem cultural na história, atribuindo-a, em vez disso, à necessidade fictícia da biologia.
O conceito particularíssimo de “raça” que os Estados Unidos inventaram, praticamente único no mundo por sua rigidez e prepotência, é resultado direto da colisão estrondosa entre a escravidão e a democracia como modos de organização da vida social depois que o cativeiro se estabeleceu como principal forma de alistamento obrigatório e controle da mão-de-obra no despovoado lar colonial de um sistema de produção pré-capitalista. O regime Jim Crow reelaborou a fronteira racializada entre escravos e livres numa rígida separação de castas entre “brancos” e “negros” – estes últimos incluindo todas as pessoas de ascendência sabidamente africana, não importa quão mínima –, que infectou cada fissura do sistema social do sul depois da Guerra de Secessão. O gueto, por sua vez, imprimiu essa dicotomia na composição espacial e nos esquemas institucionais da metrópole industrial. A ponto de, na esteira das “desordens urbanas” dos anos 1960 – que foram, na ver-dade, revoltas contra a interseção da subordinação de casta e de classe –, “urbano” e “negro” tornarem-se quase sinônimos, tanto na elaboração das políticas quanto na fala cotidiana. E a “crise” da cidade veio a significar a contradição permanente entre a natureza individualista e competitiva da vida norte-americana, de um lado, e, do outro, a exclusão contínua dos afro-americanos dessa vida26.
Com o alvorecer de um novo século, cabe à quarta “instituição peculiar”, nascida da união do hipergueto com o sistema carcerário, remoldar o significado e a importância da “raça” de acordo com os ditames da economia desregulamentada e do Estado pós-keynesiano. Só que há muito tempo o aparelho penal serve de acessório da dominação etnorracial, por ajudar a estabilizar um regime alvo de ataques ou a transpor o hiato entre regimes sucessivos; assim, os “Códigos Negros” da época da Reconstrução, depois da Guerra de Secessão, serviram para manter em seu lugar a mão-de-obra afro-americana após o fim da escravidão, enquanto a criminalização dos protestos pelos direitos civis no sul na década de 1950 visava a retardar a agonia do sistema Jim Crow. Mas o papel da instituição carcerária hoje em dia é diferente, pois, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, foi elevada à condição de principal máquina de “formação da raça”.
Entre os múltiplos efeitos do casamento entre gueto e prisão numa extensa rede carcerária, talvez o mais importante seja a revitalização prática e a solidificação oficial da associação de séculos entre negritude e criminalidade e violência desviante. Juntamente com a volta das mitologias lombrosianas sobre o atavismo criminoso e a ampla difusão de metáforas bestiais no campo jornalístico e político (onde são comuns as menções a “superpredadores”, “matilhas”, “animais” e coisa parecida), o excesso imenso do encarceramento de negros deu uma forte sanção de legitimidade ao “uso da cor como sucedâneo da periculosidade”27. Em anos recentes, os tribunais autorizaram regularmente a polícia a empregar a raça como “sinal negativo do aumento de risco de criminalidade”, e jurisconsultos correram para endossar isso como “adaptação racional à demografia do crime”, ressaltada e comprovada, aliás, pelo empretecimento da população prisional, ainda que essa prática provoque grande incoerência do ponto de vista constitucional. Em todo o sistema de justiça criminal urbana, a fórmula “Jovem + Negro + Sexo Masculino” é hoje abertamente igualada a “causa provável” que justifica a prisão, o interrogatório, a revista corporal e a detenção de milhões de afro-americanos todos os anos.
Na época das políticas de “lei e ordem” com direcionamento racial e seu consorte sociológico (o aprisionamento em massa com viés racial), a imagem pública reinante do criminoso não é apenas a de “um monstro – um ser cujas características são inerentemente diferentes das nossas”, mas de um monstro negro, já que os rapazes afro-americanos da “inner city” passaram a personificar uma mistura explosiva de degeneração e mutilação moral. A fusão entre negritu- de e crime na representação coletiva e na política do governo (sendo que o outro lado dessa equação é a fusão entre negritude e uso da assistência social) reativa, assim, a “raça”, ao dar vazão legítima à expressão das tendências antinegras sob a forma de vituperação pública de criminosos e presidiários. Como ressalta o escritor John Edgar Wideman:
É respeitável cobrir de piche e penas os criminosos, defender que sejam trancados e que se jogue fora a chave. Não é racista ser contra o crime, ainda que o arquétipo do criminoso na mídia e na imaginação do público quase sempre tenha o rosto de “Willie” Horton. Aos poucos, “urbano” e “gueto” tornaram-se codinomes de lugares terríveis onde só moram negros. “Prisão” está sendo rapidamente redicionarizada do mesmo modo segregador.[28]
Na verdade, quando “ser um homem de cor de determinado meio e classe econômica equivale, aos olhos do público, a ser um criminoso”, ser processado pelo sistema penal é o mesmo que transformar-se em negro, e “dar um tempo” atrás das grades é, ao mesmo tempo, “marcar a raça”[29].
Ao assumir o papel central no governo pós-keynesiano de raça e pobreza, na encruzilhada entre o mercado de trabalho desregulamentado de baixa renda, o remodelamento do aparelho de “assistência social e trabalhista” projetado para sustentar o emprego ocasional e os vestígios do gueto, o inchadíssimo sistema carcerário dos Estados Unidos tornou-se, por direito próprio, o principal motor da produção simbólica. Não é apenas a suprema instituição a dar significado e a reforçar a negritude, como foi a escravidão durante os três primeiros séculos da história dos Estados Unidos. Assim como o cativeiro provocava a “morte social” dos africanos importados e de seus descendentes em solo americano, o encarceramento em massa também leva à morte cívica daqueles que captura, expulsando-os do pacto social[30]. Os presos de hoje são, portanto, o alvo de um movimento triplo de confinamento excludente:
(i) Nega-se aos presos o acesso ao capital cultural valorizado: exatamente quando as credenciais universitárias vêm se tornando pré-requisito para o emprego no setor (semi)protegido do mercado de trabalho, os presos foram expulsos da educação superior quando lhes foi vedado o acesso às Pell Grants, bolsas de estudo para alunos carentes, partindo dos condenados por crimes ligados às drogas em 1988 e prosseguindo com os condenados à morte ou à prisão perpétua sem possibilidade de livramento condicional, em 1992, e terminando com todos os presos estaduais e federais remanescentes em 1994. Essa expulsão foi aprovada pelo Congresso com o único propósito de acentuar a divisão simbólica entre criminosos e “cidadãos que respeitam a lei” – apesar dos indícios esmagadores de que os programas educacionais nas prisões reduziam de forma drástica a reincidência, além de ajudar a manter a ordem carcerária[31].
(ii) Os presos são excluídos sistematicamente da redistribuição social e da assistência pública numa idade em que a insegurança no trabalho torna o acesso a esses programas mais fundamental do que nunca para os que vivem nas regiões inferiores do espaço social. As leis negam o pagamento de seguro-desemprego, pensões para veteranos e cupons de alimentos para quem estiver detido por mais de sessenta dias. A Lei de Oportunidades de Trabalho e Responsabilidade Pessoal de 1996 exclui, além disso, a maioria dos ex-condenados do programa Medicaid de atendimento médico, das moradias públicas, dos vales de complementação do aluguel do sistema conhecido como Section 8* e de tipos de assistência correlatos. No segundo trimestre de 1998, o presidente Clinton censurou, como “fraude e abuso” intoleráveis cometidos contra “famílias trabalhadoras” que “seguem as regras”, o fato de que alguns presos (ou suas famílias) continuavam a receber pagamentos do governo devido à negligência burocrática no cumprimento dessas proibições. E lançou com orgulho “uma cooperação federal, estadual e local sem precedentes, assim como novos programas inovadores de incentivo”, usando as mais modernas “ferramentas de alta tecnologia para excluir todos os presos” que ainda recebessem benefícios (ver boxe a seguir), prevendo inclusive prêmios para os condados que entregassem prontamente as informações indentificadoras dos detidos em suas cadeias à Social Security Administration [Serviço de Seguridade Social].
(iii) É vedada aos condenados a participação política através da “perda do direito de voto dos criminosos”, praticada numa escala e com vigor inimagináveis em qualquer outro país. Todos os estados da União, exceto quatro, negam o voto a adultos mentalmente capazes mantidos em instituições de detenção; 39 estados proíbem que os condenados em liberdade condicional exerçam seus direitos políticos; e 32 estados proíbem-no também aos que estão sob sursis. Em 14 estados, ex-condenados por crimes graves são impedidos de votar, ainda que não estejam mais sob supervisão jurídica criminal – e pela vida toda em dez desses estados. O resultado é que quase 4 milhões de norte-americanos perderam, temporária ou permanentemente, o acesso às urnas, inclusive 1,47 milhão que não está atrás das grades e outro 1,39 milhão que cumpriu inteiramente sua pena32. Apenas um quarto de século depois de obter o direito integral de votar, um em cada sete negros de todo o país está proibido de entrar numa cabine eleitoral em razão de perda penal do direito de voto, e sete estados negam permanentemente esse direito a mais de um quarto de seus habitantes negros do sexo masculino.
Com essa tripla exclusão, a prisão e o sistema jurídico-criminal contribuem mais amplamente para a constante reconstrução da “comunidade imaginária” de norte-americanos em torno da oposição polarizada entre a “família trabalhadora” digna de louvor – implicitamente branca, suburbana e digna – e a “subclasse” desprezível dos criminosos, vadios e parasitas, uma hidra anti-social de duas cabeças personificada, do lado feminino, na mãe adolescente dissoluta sustentada pela Seguridade Social e, do lado masculino, no integrante perigoso das gangues de rua – por definição, de pele escura, urbano e indigno. A primeira é exaltada como encarnação viva dos genuínos valores norte-americanos – autocontrole, adiamento da gratificação, subserviência da vida ao trabalho –; a segunda é vituperada como personificação odiosa de sua profanação abjeta, o “lado escuro” do “sonho americano” de riqueza e oportunidade para todos, que se acredita brotar da moralidade ancorada no matrimônio e no trabalho. E, cada vez mais, a linha que a divide é traçada, em termos concretos e simbólicos, pela prisão.
Clinton orgulhosamente “cai em cima” da “fraude” e do “abuso” dos presos
Bom dia. Esta manhã, gostaria de lhes falar sobre um trabalho que estamos fazendo para restaurar a fé dos norte-americanos em nosso governo nacional, na busca de reforçar a Seguridade Social e outros benefícios fundamentais com o combate às fraudes e aos abusos.
Por sessenta anos, a Seguridade Social significou mais do que um mero número de identificação num formulário do imposto de renda, mais ainda do que um cheque no correio todo mês. Refletiu nossos valores mais profundos, os deveres que temos para com nossos pais, nossos próximos, filhos e netos, com aqueles atingidos pelo infortúnio, com aqueles que merecem ter uma velhice decente, com nosso ideal de uma só América.
Foi por isso que fiquei tão perturbado algum tempo atrás ao descobrir que muitos presos que, por lei, estão impedidos de receber a maior parte desses benefícios federais vêm, na verdade, recebendo cheques da Seguridade Social apesar de trancados atrás das grades. Na realidade, segundo nossas leis, os presos estão cometendo uma fraude, principalmente por ser tão difícil reunir informações atualizadas sobre os criminosos nas mais de 3.500 cadeias de nosso país. Mas graças a uma cooperação federal, estadual e local sem precedentes, assim como a programas de incentivo novos e inovadores, estamos agora terminando esse trabalho.
A Seguridade Social produziu um banco de dados constantemente atualizado que hoje cobre mais de 99% de todos os presos – a listagem mais abrangente de nossa população prisional em toda a história. Mais importante ainda, a Seguridade Social está usando a lista de modo muito proveitoso. No final do ano passado, suspendemos os benefícios de mais de 70 mil presos. Isso significa que, nos próximos cinco anos, economizaremos 2,5 bilhões de dólares dos contribuintes – são dois bilhões e meio! – que vão ajudar nossas famílias trabalhadoras.
Agora vamos nos basear no sucesso da Seguridade Social para que os contribuintes sejam poupados da fraude dos presos. Daqui a instantes assinarei um memorando executivo que orienta os Departamentos de Trabalho, Veteranos, Justiça, Educação e Agricultura a usar a experiência e as ferramentas de alta tecnologia da Seguridade para aprimorar seu próprio esforço de excluir todos os presos que estejam recebendo pensões de veteranos, cupons de alimentação ou qualquer outro tipo de benefício federal proibido por lei.
Esperamos que essas amplas faxinas empreendidas por nossos órgãos economizem mais milhões e milhões de dólares dos contribuintes, além dos bilhões já economizados por nosso combate à fraude da Seguridade Social. Vamos garantir que aqueles que cometeram crimes contra a sociedade não tenham a oportunidade de cometer crimes também contra os contribuintes.
O povo norte-americano tem o direito de esperar que o governo de seu país esteja sempre em alerta contra todo tipo de desperdício, fraude e abuso. É nosso dever usar todos os poderes e meios para eliminar esse tipo de fraude. Devemos ao povo norte-americano a garantia de que suas contribuições à Seguridade Social e os dólares dos impostos beneficiem apenas aqueles que trabalharam duro, seguiram as regras e, por lei, mereçam recebê-los. É isso exatamente o que estamos tentando fazer.
Obrigado por me escutar.
Discurso de Sábado do presidente Clinton no rádio, 25 de abril de 1998.
Disponível no website da Casa Branca.
Do outro lado dessa linha está um ambiente institucional diferente de todos os outros. Com base em sua elogiadíssima análise da Grécia Antiga, o historiador clássico Moses Finley estabeleceu uma fecunda distinção entre “sociedade com escravos” e “sociedades escravistas genuínas”33. Nas primeiras, a escravidão é apenas um dentre vários modos de controle da mão-de-obra, e a divisão entre escravo e livre não é impermeável nem fundamental para a ordem social como um todo. Nas segundas, a mão-de-obra escravizada é o epicentro da produção econômica e da estrutura de classes, e a relação entre senhor e escravo constitui o padrão segundo o qual todas as outras relações sociais são construídas ou distorcidas, de modo que nenhum recanto da cultura, da sociedade ou do eu deixa de ser atingido por ela. A proporção astronômica de negros em casas de confinamento penal e o entrelaçamento cada vez mais íntimo entre o hipergueto e o sistema carcerário indicam que, por causa da adoção do encarceramento em massa como estranha política social norte-americana destinada a disciplinar os pobres e conter os desonrados, os afro-americanos da classe mais baixa vivem hoje não numa sociedade com prisões, como seus compatriotas brancos, mas na primeira sociedade prisional genuína da história.
Notas:
1 Ver, respectivamente: Kenneth Stampp, The peculiar institution: slavery in the ante-bellum South (Nova York, [1956] 1989); Ira Berlin, Many thousands gone: the first two centuries of slavery in North America (Cambridge, Massachusetts, 1998); C. Vann Woodward, The strange career of Jim Crow (Oxford, [1957] 1989); Leon Litwack, Trouble in mind: black southerners in the age of Jim Crow (Nova York, 1998); Allan Spear, Black Chicago: the making of a negro gueto, 1890-1920 (Chicago, 1968); Kerner Commission, 1968 Report of the National Advisory Commission on Civil Disorders (Nova York, [1968] 1988).
2 Ver meu “Crime et châtiment en Amérique de Nixon à Clinton”, Archives de Politique Criminelle, v. 20, p. 123-38; e Les prisons de la misère (Paris, 1999), p. 71-94 (trad. para o inglês: Prisons of po- verty [Minneapolis, 2002]).
3 “Entre os grupos comumente considerados inassimiláveis, o povo negro é de longe o maior. Os negros não têm, como os japoneses e chineses, uma nação politicamente organizada e uma cultura própria e aceita fora dos Estados Unidos em que possam se apoiar. Isso confere aos negros, diversamente dos orientais, uma memória histórica de escravidão e inferioridade. É mais difícil para eles responder ao preconceito com preconceito e, como podem fazer os orientais, considerar-se a si e à sua história superiores aos norte-americanos brancos e suas realizações culturais recentes. Os negros não têm essa fortaleza do amor-próprio. Estão aprisionados de modo mais indefeso como casta subordinada, uma casta de gente fadada a não ter passado cultural e supostamente incapaz de futuro cultural.” Gunnar Myrdal, An American dilemma: the negro problem and modern democracy (Nova York, [1944] 1962), p. 54; grifo nosso.
4 Seymour Drescher e Stanley Engerman, A historical guide to world slavery (Oxford, 1998).
5 Gavin Wright, The political economy of the cotton South (Nova York, 1978); Peter Kolchin, American slavery, 1619-1877 (Nova York, 1993).
6 “Slavery, race and ideology in the United States of America”, New Left Review 1/181, maio-junho de 1990.
7 O nome vem de um número de canto e dança chamado “Jumping Jim Crow”, apresentado pela primeira vez em 1828 por Thomas Dartmouth Rice, popular ator ambulante que é considerado o pai dos espetáculos humorísticos e musicais de “negros e brancos”, os minstrel shows; ver Woodward, Strange career of Jim Crow.
8 Neil McMillen, Dark journey: black Mississippians in the age of Jim Crow (Urbana, 1990).
9 A assembléia legislativa do Mississippi chegou a ponto de tornar ilegal a defesa da igualdade social entre negros e brancos. Uma lei de 1920 impunha uma multa de quinhentos dólares mais seis meses de cadeia a quem fosse “considerado culpado de imprimir, publicar e fazer circular argumentos a favor da igualdade social ou do casamento misto” (McMillen, Dark journey, cit., p. 8-9).
10 St. Clair Drake e Horace Cayton, Black metropolis: a study of negro life in a Northern city (Nova York, [1945] 1962), v. I, p. 112-28.
11 Black metropolis, cit., v. 2, p. xiv.
12 Era esse o propósito da Campanha da Liberdade, de Martin Luther King, no verão de 1966, em Chicago: buscava aplicar ao gueto as técnicas de mobilização coletiva e desobediência civil usadas com sucesso no ataque a Jim Crow no sul, revelar a vida à qual os negros estavam condenados na metrópole do norte e protestar contra ela. A campanha para transformar Chicago em cidade aberta foi rapidamente esmagada por uma repressão formidável, comandada por 4 mil Guardas Nacionais. Stephen Oakes, Let the trumpet sound: a life of Martin Luther King (Nova York, 1982).
13 Thomas Byrne Edsall e Mary Edsall, Chain reaction: the impact of race, rights and taxes on American politics (Nova York, 1991); Jill Quadagno, The colour of welfare: how racism undermined the war on poverty (Oxford, 1994); Katherine Beckett e Theodore Sasson, The politics of injustice (Thousand Oaks, 2000), p. 49-74.
14 Em 1975, a população carcerária dos Estados Unidos vinha declinando fazia quase duas décadas e atingira um mínimo de 380 mil presos. Os principais analistas da questão penal, de David Rothman a Michel Foucault e Alfred Blumstein, eram, então, unânimes ao prever a marginalização iminente da prisão como instituição de controle social ou, no máximo, a estabilização do confinamento penal num nível historicamente moderado. Ninguém previu o crescimento desregrado que quadruplicou aquele número para mais de 2 milhões de pessoas em 2000, mesmo que o nível de crimes tenha estagnado.
15 Ver em meu artigo “Cutting the ghetto” uma recapitulação histórica dos significados de “gueto” na sociedade norte-americana e nas ciências sociais, levando a um diagnóstico do curioso expurgo da raça de um conceito expressamente forjado para denotar um mecanismo de dominação etnorracial, que o atrela à mudança da preocupação das elites estatais com o nexo entre pobreza e etnia na metrópole. Em Malcolm Cross e Robert Moore (orgs.), Globalization and the new city (Basingstoke, 2000).
16 Max Weber, Economy and society (Berkeley, 1978), p. 935.
17 Louis Wirth, The ghetto (Chicago, 1928).
18 Flesh and stone: the body and the city in Western civilization (Nova York, 1994).
19 Black metropolis, cit., v. 2, p. xiii.
20 Ao descrever a Bridewell de Londres, a Zuchthaus de Amsterdã e o Hôpital Général de Paris, Georg Rusche e Otto Kirschheimer mostram que o principal objetivo da casa de correção era “tornar socialmente útil a força de trabalho dos recalcitrantes”, obrigando-os a trabalhar sob supervisão constante, na esperança de que, depois de libertados, “aumentariam voluntariamente o mercado de trabalho” (Punishment and social structure, Nova York, 1939, p. 42); sobre a prisão moderna, ver Pieter Spierenburg, The prison experience (New Brunswick, New Jersey, 1991).
21 “La dérive pénale”, Esprit, 215, outubro de 1995.
22 Há uma discussão mais completa dessa “simbiose mortal” entre o gueto e a prisão na época pós-Direitos Civis em meu “Deadly symbiosis”, Punishment and society, v. 3, n. 1, p. 95-134.
23 Não se trata de uma figura de linguagem: a taxa anual de mortalidade dos condenados chegou a 16% no Mississippi, na década de 1880, quando “nenhum condenado alugado conseguiu viver o bastante para cumprir a pena de dez anos ou mais”. Centenas de crianças negras, muitas com apenas seis anos de idade, foram alugadas pelo Estado em benefício dos donos de plantations, empresários e financistas para labutar em condições que até alguns patrícios sulistas consideravam vergonhosas e uma “mancha em nossa humanidade”. Ver David Oshinsky, Worse than slavery: Parchman Farm and the ordeal of Jim Crow justice (Nova York, 1996), p. 45.
24 Alex Lichtenstein, Twice the work of free labour: the political economy of convict labour in the New South (Londres e Nova York, 1999), p. 195.
25 Ver meu Les prisons de la misère (Paris, 1999), p. 71-94. Os depoimentos especializados apre- sentados nos Comitês Legislativos sobre o Judiciário e o Crime durante a discussão da Lei de Reforma do Trabalho na Prisão, de 1998, vincularam explicitamente a reforma da assistência social à necessidade de expandir a mão-de-obra prisional privada.
26 Dois indicadores bastam para destacar o permanente ostracismo dos afro-americanos na sociedade dos Estados Unidos. São o único grupo a estar “hipersegregado”, com o isolamento espacial passando do nível macro do estado e do condado para o nível micro da municipalidade e do bairro, a fim de minimizar os contatos com os brancos no decorrer do século. Sobre isso, ver Douglas Massey e Nancy Denton, American apartheid (Cambridge, 1993); Douglas Massey e Zoltan Hajnal, “The changing geographic structure of black-white segregation in the United States”, Social Science Quarterly, v. 76, n. 3, setembro de 1995, p. 527-42. Continuam a ter a exo- gamia impedida num grau desconhecido em qualquer outra comunidade, apesar do crescimento recente das chamadas famílias multirraciais, com menos de 3% de mulheres negras casando-se com pessoas de outra raça, em comparação com a maioria das mulheres hispânicas e asiáticas. Sobre esse outro indicador, ver Kim DaCosta, “Remaking the colour line: social bases and implications of the multiracial movement” (Berkeley), dissertação de Ph.D.
27 Randall Kennedy, Race, crime and the law (Nova York, 1997), p. 136-67.
28 John Edgar Wideman, “Doing time, marking race”, The Nation, 30/10/1995.
29 Ibidem.
30 Orlando Patterson, Slavery as social death (Cambridge, Massachusetts, 1982).31 Josh Page, “Eliminating the enemy: a cultural analysis of the exclusion of prisoners from higher education”, tese de mestrado (Departamento de Sociologia, Universidade da Califórnia, Berkeley).
31 Josh Page, “Eliminating the enemy: a cultural analysis of the exclusion of prisoners from higher education”, tese de mestrado (Departamento de Sociologia, Universidade da Califórnia, Berkeley).
32 Jamie Fellner e Marc Mauer, Losing the vote, cit.
33 “Slavery”, International encyclopaedia of the Social Sciences (Nova York, 1968).