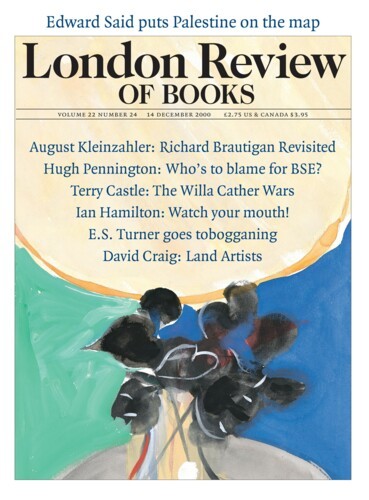Edward Said coloca a Palestina no mapa
Edward Said
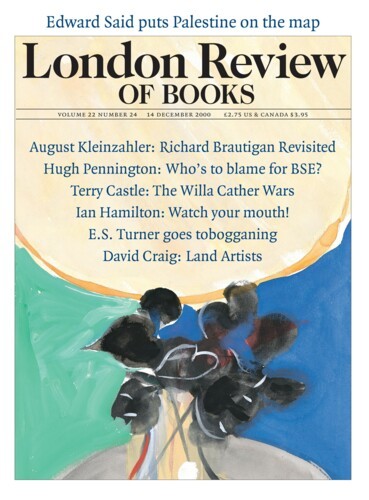 |
| Vol. 22 No. 24 · 14 December 2000 |
Tradução / [Este artigo faz referência a diversos mapas. O Mapa Um mostra a situação em Hebron hoje, com a cidade árabe dominada por assentamentos israelenses. O Mapa Dois segue a seqüência das transferências israelenses do território da Cisjordânia para a autonomia palestina entre 1994 e 1999. O Mapa Três oferece um quadro detalhado da Cisjordânia após o segundo envio de tropas israelenses no início de 2000. A situação demográfica atual de Jerusalém Oriental anexada pode ser vista no Mapa Quatro. O Mapa Cinco detalha as expropriações de terra na mesma parte da cidade, entre 1967 e 1999. Todos os mapas foram fornecidos pela Foundation for Middle East Peace, de Washington.]
Em 29 de setembro, um dia após Ariel Sharon, protegido por cerca de mil policiais e soldados israelenses, marchar para dentro do Haram al-Sharif (o “Santuário Nobre”), de Jerusalém, num gesto planejado para asseverar seu direito de, como israelense, visitar o local sagrado muçulmano, iniciou-se uma conflagração que continua quando escrevo estas linhas no final de novembro de 2000. O próprio Sharon não se arrepende e culpa a Autoridade Palestina por “incitação deliberada” contra Israel “como uma democracia forte” cujo “caráter judeu e democrático” os palestinos querem mudar. Ele foi ao Haram al-Sharif, escreveu no Wall Street Journal alguns dias depois, “para inspecionar e certificar-se de que todos têm liberdade de culto e livre acesso ao Monte do Templo”, mas não mencionou a sua enorme comitiva armada ou o fato de que a área foi isolada antes, durante e após a sua visita, o que dificilmente garante a liberdade de acesso. Também se esqueceu de dizer algo sobre a conseqüência de sua visita: no dia 29, o exército israelense matou oito palestinos a tiros. O que todos ignoraram, ademais, é que os habitantes originais de um lugar sob ocupação militar - o que Jerusalém Oriental tem sido desde que foi anexada por Israel em 1967 - têm o direito, pela lei internacional, a resistir por qualquer meio possível. Além disso, dois dos mais antigos e maiores santuários muçulmanos do mundo, que remontam a 1.500 anos atrás, foram, na suposição de arqueólogos, construídos no local do Monte do Templo – uma convergência de lugares religiosos que uma visita provocadora de um general israelense extremista nunca iria ajudar a resolver. Um general, vale a pena lembrar, que desempenhou um papel em várias atrocidades que remontam à década de 1950, e incluem Sabra, Chatila, Qibya e Gaza.2
Segundo a União de Comitês de Ajuda Médica Palestina, até o início de novembro de 2000, 170 pessoas haviam sido mortas e 6 mil, feridas; estes números não incluem 14 mortes de israelenses (oito delas soldados) e um número ligeiramente maior de feridos. Entre os palestinos mortos havia pelo menos 22 com menos de 15 anos e, segundo a organização israelense B’tselem, 13 palestinos cidadãos de Israel, mortos pela polícia israelense em manifestações dentro de Israel. Tanto a Anistia Internacional quanto a organização Human Rights Watch condenaram severamente Israel pelo emprego desproporcional da força contra civis; a Anistia publicou um relatório detalhando a intimidação, tortura e detenção ilegal de crianças árabes em Israel e Jerusalém. Parte da imprensa israelense foi consideravelmente mais informativa e direta em seus relatos e comentários sobre o que está acontecendo do que a mídia européia e dos Estados Unidos. Escrevendo no Ha’aretz em 12 de novembro, Gideon Levy observou com alarme que dos poucos membros árabes do Knesset (o parlamento israelense) a maioria foi punida por se opor à política de Israel para os palestinos: alguns foram substituídos nas comissões parlamentares, outros estão sendo julgados, e outros estão sendo interrogados pela polícia. Tudo isso, conclui, faz parte do “processo de demonização e deslegitimação que está sendo movido contra os palestinos dentro de Israel, assim como contra aqueles nos Territórios Ocupados”.
“A vida normal”, tal como existia para palestinos que vivem na Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza, é agora impossível. Mesmo os mais ou menos 300 palestinos aos quais foi permitida liberdade de movimento e outros privilégios VIP, nos termos do processo de paz, já perderam essas vantagens, e, a exemplo dos mais ou menos três milhões restantes que agüentam o duplo peso da vida sob a Autoridade Palestina e o regime de ocupação israelense – sem mencionar a brutalidade dos milhares de colonos israelenses, alguns dos quais agem como “vigilantes” aterrorizando vilarejos e grandes cidades palestinas como Hebron – estão sujeitos a bloqueios, cercos e estradas com barricadas impossibilitando o deslocamento. Até Yasser Arafat tem de pedir permissão para deixar ou entrar na Cisjordânia ou Gaza, onde seu aeroporto é aberto e fechado à vontade pelos israelenses, e seu quartel tem sido bombardeado punitivamente por mísseis disparados por helicópteros. Quanto à circulação de mercadorias para dentro e fora dos territórios, está paralisada. Segundo o Escritório de Coordenação Especial das Nações Unidas nos Territórios Ocupados, o comércio com Israel representa 79,8% das transações dos palestinos; o comércio com a Jordânia, que vem em seguida, responde por 2,39%. O fato deste percentual ser tão baixo é atribuível diretamente ao controle israelense sobre a fronteira entre a Palestina e a Jordânia (além das fronteiras com a Síria, o Líbano e o Egito). Com o fechamento da fronteira com Israel, portanto, a economia palestina vem perdendo US$ 19,5 milhões por dia em média, o que equivale a três vezes a ajuda total recebida de fontes doadoras durante os primeiros seis meses do ano. Para uma população que continua a depender da economia israelense – graças a acordos econômicos firmados pela Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em Oslo – isso significa um duro golpe. O que não diminuiu foi o ritmo de construção de assentamentos israelenses. Ao contrário, de acordo com o abalizado Relatório sobre os Assentamentos Israelenses em Territórios Ocupados (RISOT, em inglês), quase dobraram nos últimos anos. O Relatório acrescenta que “1.924 unidades de assentamentos foram iniciadas” desde o começo do regime “pró-paz” de Ehud Barak, em julho de 1999 – e existe, além disso, o programa em andamento de construção de estradas e de expropriação de propriedades para este fim, além da degradação da terra agrícola palestina, tanto pelo Exército quanto pelos colonos. O Centro Palestino de Direitos Humanos, com sede em Gaza, documentou “as limpezas” de olivais e cultivos de legumes pelo Exército Israelense (ou, como prefere ser conhecido, a Força de Defesa Israelense) perto da fronteira de Rafah, por exemplo, e em ambos os lados do bloco de assentamento de Gush Katif. Gush Katif é uma área de Gaza – cerca de 40% – ocupada por alguns milhares de colonos que podem regar seus jardins e encher suas piscinas, enquanto 1 milhão de habitantes palestinos da Faixa (800 mil deles são refugiados da ex-Palestina) vivem numa zona ressecada e sem água. De fato, Israel controla todo o abastecimento d’água dos Territórios Ocupados e reserva 80% dela para o uso pessoal de seus cidadãos judeus, racionando o resto entre a população palestina: esta questão nunca foi seriamente debatida durante o processo de paz de Oslo.
Qual o significado deste alardeado processo de paz? O que se alcançou? E, se é que foi um processo de paz, por que a condição miserável dos palestinos e o número de mortos aumentaram muito mais do que antes da assinatura dos Acordos de Oslo, em setembro de 1993? Por que, como observou o New York Times em 5 de novembro, a “paisagem palestina encontra-se agora decorada com as ruínas de projetos baseados na integração pacífica”? O que significa falar de paz se tropas e colonos israelenses ainda estão presentes em números tão grandes? Segundo o já citado Relatório RISOT, 110 mil judeus viviam em assentamentos ilegais em Gaza e na Cisjordânia antes dos Acordos de Oslo; de lá para cá, o número cresceu para 195 mil, uma cifra que não inclui os judeus – mais de 150 mil – que fixaram residência na Jerusalém Oriental árabe. O mundo foi iludido ou a retórica da “paz” foi na essência um gigantesco embuste?
Algumas das respostas a essas questões acham-se enterradas em maços de documentos assinados pelas duas partes sob os auspícios dos Estados Unidos, que só foram lidos pelo reduzido grupo de pessoas que os negociaram. Outras são simplesmente ignoradas pela mídia e governos que, é o que parece agora, se dedicaram a promover políticas desastrosas de informação, investimento e cumprimento da lei, independentemente dos horrores que aconteciam na prática. Poucos, entre os quais me incluo, tentaram relatar o que estava acontecendo, desde a rendição inicial dos palestinos, em Oslo, até o presente, mas, em comparação com a mídia convencional e os governos, para não falar dos relatórios e recomendações sobre a situação divulgados por grandes agências de financiamento, como o Banco Mundial, a União Européia e muitas fundações privadas – notadamente a Fundação Ford – que cooperam com a impostura, nossas vozes tiveram um efeito desprezível, exceto tristemente como profecia.
Os distúrbios das últimas semanas não se limitaram à Palestina e Israel. As demonstrações de sentimento antiamericano e antiisraelense nos mundos árabe e islâmico são comparáveis às de 1967. Manifestações de rua furiosas ocorrem diariamente em Cairo, Damasco, Casablanca, Túnis, Beirute, Bagdá e no Kuwait. Milhões de pessoas expressaram seu apoio à Intifada al-Aqsa, como ficou conhecida, assim como seu repúdio ao comportamento submisso de seu governos. A Cúpula árabe realizada em Cairo, em outubro, produziu as costumeiras denúncias grandiloqüentes de Israel e alguns dólares a mais para a Autoridade de Arafat, mas sequer o menor protesto diplomático – a retirada de embaixadores – foi feito por qualquer dos participantes. No dia posterior à Cúpula, o Abdullah da Jordânia, que estudou nos Estados Unidos e cujo conhecimento da língua árabe consta como tendo progredido até o nível de escola secundária, voou para Washington para assinar um acordo comercial com os Estados Unidos, o principal apoio de Israel. Após seis semanas de turbulência, Mubarak relutantemente retirou seu embaixador de Tel Aviv, mas ele depende grandemente dos US$ 2 bilhões de dólares que o Egito recebe de ajuda anual dos Estados Unidos e é improvável que vá muito além disso. A exemplo de outros líderes no mundo árabe, ele também precisa dos Estados Unidos para protegê-lo de seu povo. Enquanto isso, a raiva, humilhação e frustração árabes continuam a crescer, ou porque seus regimes são tão antidemocráticos e impopulares, ou porque as questões básicas – emprego, renda, nutrição, saúde, educação, infraestrutura – caíram abaixo de níveis toleráveis. Apelos em prol do Islã e as expressões generalizadas de indignação funcionam como substitutos de um sentido de cidadania e democracia participativa. Isso é um mau presságio para o futuro, tanto dos árabes, quanto de Israel.
Nos círculos ligados a relações internacionais durante os últimos 25 anos, o comentário é que a causa da Palestina morreu, o pan-arabismo é uma miragem, e os líderes árabes, a maioria desacreditados, aceitaram Israel e os Estados Unidos como parceiros, e no processo de se livrar de seu nacionalismo, conformaram-se à panacéia da desregulamentação numa economia global, cujo primeiro profeta no mundo árabe foi Anwar al- Sadat e cujo influente propagandista foi o colunista do New York Times e especialista em Oriente Médio, Thomas Friedman. Em outubro último, após sete anos elogiando em suas colunas o processo de paz acertado em Oslo, Friedman viu-se em Ramallah sitiado pelo Exército Israelense (e sob fogo). “A propaganda israelense de que os palestinos na maioria das vezes têm governo próprio na Cisjordânia é pura besteira,” anunciou. “É verdade que os palestinos controlam suas próprias cidades, mas os israelenses controlam todas as estradas que ligam essas cidades entre si e, portanto, todos os seus movimentos. O confisco israelense de terra palestina para mais assentamentos prossegue até hoje, sete anos depois de Oslo.” Conclui que apenas “um Estado Palestino em Gaza e na Cisjordânia” pode trazer a paz, mas nada diz sobre o tipo de Estado que seria. Nem fala nada sobre o fim da ocupação militar, mas isso tampouco fazem os documentos de Oslo. Por que Friedman nunca discutiu isso nos milhares de centímetros que publicou desde setembro de 1993, e por que mesmo agora ele nada diz que os eventos de hoje são o desfecho lógico de Oslo desafia o senso comum, mas isso é típico da falta de sinceridade que cerca o assunto.
O otimismo daqueles que se encarregaram de assegurar que a miséria dos palestinos fosse mantida afastada do noticiário parece ter desaparecido numa nuvem de poeira juntamente com a “paz” que os Estados Unidos e Israel se empenharam tanto em consolidar em seus próprios interesses estreitos. Ao mesmo tempo, a velha estrutura que sobreviveu à Guerra Fria está esfarelando lentamente com o envelhecimento das lideranças árabes, sem sucessores viáveis à vista. Mubarak até se recusou a nomear um vicepresidente, Arafat não tem nenhum sucessor claro; nas repúblicas Ba’ath “socialistas democráticas” do Iraque e Síria, assim como no Reino da Jordânia, os filhos assumiram – ou assumirão – no lugar dos pais, cobrindo o processo de autocracia dinástica com um remendo de legitimidade.
No entanto, chegou-se a um ponto crítico, e para isso a Intifada palestina é um sinal significativo. Pois ela é não apenas uma rebelião anticolonial do tipo visto periodicamente em Setif, Sharpeville, Soweto e em outros lugares, mas também mais um exemplo do descontentamento geral com a ordem pós-Guerra Fria (econômica e política) demonstrada nos eventos de Seattle e Praga. A maioria dos muçulmanos do mundo vê o levante como parte de um quadro mais amplo que inclui Sarajevo, Mogadício, Bagdá sob as sanções comandadas pelos Estados Unidos, e Chechênia. O que deve estar claro para todo governante, inclusive Clinton e Barak, é que o período de estabilidade garantido pela dominação tripartite de Israel, Estados Unidos e regimes árabes locais acha-se agora ameaçado por forças populares de magnitude incerta, direção desconhecida, e visão não nítida. Qualquer que seja a forma que assumam futuramente, será de uma cultura não oficial dos despossuídos, silenciados e desprezados. Muito provavelmente, também, trará em si as distorções de anos de política oficial do passado.
Enquanto isso, é correto dizer que a maioria das pessoas que ouvem frases como “as partes estão negociando,” ou “vamos voltar à mesa de negociação,” ou “você é meu parceiro de paz,” supuseram que exista paridade entre palestinos e israelenses e que, graças às corajosas almas de cada lado que se encontraram secretamente em Oslo, as duas partes finalmente estiveram acertando as questões que as “dividem”, como se cada uma tivesse um pedaço de terra, um território onde pudesse estar de frente para a outra. Isso é seriamente – na verdade, maliciosamente – enganador. Com efeito, a desproporção entre os dois antagonistas é imensa, em termos do território que controlam e das armas de que dispõem. O noticiário tendencioso oculta a extensão da disparidade. Considere o seguinte: citando um levantamento de editoriais publicados na grande imprensa americana, feito pela Liga de Anti-Difamação, o Ha’aretz de 25 de outubro constatou “uma tendência de apoio” a Israel, com 19 jornais expressando solidariedade a Israel em 67 editoriais, 17 fazendo uma “análise equilibrada”, e apenas nove “manifestando crítica aos líderes israelenses (particularmente Ariel Sharon), a quem acusavam de responsabilidade pela conflagração”. Em novembro, o relatório da Fairness and Accuracy in Reporting (Noticiário Imparcial e Exato) registrou que, das 99 notícias sobre a Intifada transmitidas pelas três maiores redes dos Estados Unidos, entre 28 de setembro e 2 de novembro, apenas quatro faziam referência aos “Territórios Ocupados”. O mesmo relatório chamou atenção para frases como “Israel (...) novamente se sente isolada e sitiada”, “os soldados israelenses sob ataque diário”, e, num confronto onde seus soldados foram obrigados a recuar, “os israelenses cederam território à violência palestina.” Fórmulas altamente parciais desse tipo são inseridas em comentários dos noticiários das redes, obscurecendo os fatos da ocupação e desequilíbrio militar: as Forças de Defesa de Israel têm usado tanques, helicópteros de ataque Cobra e Apache, mísseis, morteiros e metralhadoras pesadas, fornecidos pelos americanos e britânicos; os palestinos não possuem nada disso.
O New York Times só publicou um artigo de opinião de um palestino ou um árabe (e acontece de o autor apoiar os acordos de Oslo) numa avalanche de comentários editoriais favoráveis às posições dos Estados Unidos e Israel; o Wall Street Journal não publicou nenhum artigo nessa linha; nem o Washington Post. Em 12 de novembro, um dos mais populares programas de televisão dos Estados Unidos, o Sessenta Minutos da CBS, transmitiu uma seqüência que parecia planejada para deixar o Exército Israelense “provar” que o assassinato de Mohammad al-Dura, de 12 anos, símbolo do sofrimento palestino, foi orquestrado pela Autoridade Palestina. Foi dito que a Autoridade teria plantado o pai do menino na frente das posições das armas israelenses e levado para uma posição próxima a equipe de TV francesa que gravou o assassinato - tudo para provar um argumento ideológico.
A deturpação fez com que se tornasse quase impossível o público americano entender a base geográfica dos eventos, e este é um dos mais geográficos dos litígios. Não se pode esperar que ninguém acompanhe e, mais importante, retenha um quadro cumulativamente preciso das disposições ocultas que prevalecem em condições práticas, resultado de negociações, a maioria delas secretas, entre Israel e uma equipe palestina desorganizada, pré-moderna e tragicamente incompetente, sob o domínio de Arafat. Numa hora decisiva, as resoluções específicas - 242 e 338 - do Conselho de Segurança das Nações Unidas são agora esquecidas, tendo sido marginalizadas por Israel e pelos Estados Unidos. Ambas as resoluções estipulam inequivocamente que a terra adquirida por Israel como resultado da guerra de 1967 deve ser devolvida em troca da paz. O processo de Oslo começou jogando efetivamente essas resoluções na lata de lixo - e, por isso, foi muito mais fácil, após o fracasso da Cúpula de Camp David, em julho último, alegar, como o fizeram Clinton e Barak, que os palestinos eram os culpados pelo impasse, e não os israelenses, cuja posição continua sendo a de que os territórios conquistados em 1967 não devem ser devolvidos. A imprensa americana mencionou seguidamente a oferta “generosa” de Israel e a vontade de Barak em ceder parte de Jerusalém Oriental e algo entre 90 e 94% da Cisjordânia aos palestinos. Mas ninguém na imprensa americana ou européia definiu exatamente o que seria “cedido” ou de qual território da Cisjordânia ele estava “oferecendo” 90%. Toda a história era uma quimérica tolice, conforme Tanya Reinhart mostrou no Yediot Aharanot, o maior diário de Israel. Na matéria “A Farsa de Camp David” (13 de julho), ela informa que foram oferecidos 50% da Cisjordânia aos palestinos em cantões separados; 10% seriam anexados por Israel e nada menos do que 40% seriam deixados “para discussão”, para usar o eufemismo que designa a continuação do controle israelense. Se você anexa 10%, não desmonta nem interrompe os assentamentos (como fez Barak), recusase repetidamente a voltar às linhas de 1967 ou a devolver Jerusalém Oriental, decidindo, ao mesmo tempo, reter áreas inteiras como o Vale do Jordão, e assim cercar completamente os territórios palestinos de modo que eles não tenham fronteira com nenhum Estado a não ser com Israel, além de reter as estradas de “desvio”, de triste fama, e suas áreas adjacentes, os famosos “90%” caem rapidamente para algo entre 50-60%, cuja maior parte só vai ser discutida no futuro muito distante. Afinal de contas, mesmo o último envio de tropas israelenses, acertado nos encontros de Wye River Plantation, em 1998, e reconfirmado em Sharm el Sheikh, em 1999, ainda não aconteceu. É oportuno repetir que Israel é o único Estado do mundo sem fronteiras oficialmente declaradas. E se olharmos para os 50-60% em termos da antiga Palestina, veremos que correspondem a cerca de 12% da terra de onde os palestinos foram expulsos em 1948. Os israelenses falam em “ceder” esses territórios. Mas eles foram tomados por conquista e, num sentido estrito, a oferta de Barak só significaria que eles estariam sendo devolvidos, de modo algum na sua totalidade.
Para começar, alguns fatos. Em 1948 Israel tomou a maior parte do que era a Palestina histórica ou sob mandato, destruindo e despovoando 531 vilarejos árabes no processo. Dois terços da população foram expulsos: eles são os quatro milhões de refugiados de hoje. A Cisjordânia e Gaza, no entanto, ficaram com a Jordânia e o Egito, respectivamente. Ambos foram posteriormente perdidos para Israel, em 1967, e permanecem sob o seu controle até hoje, exceto algumas áreas que funcionam sob uma “autonomia” palestina altamente limitada – o tamanho e os contornos dessas áreas foram decididos unilateralmente por Israel, conforme especifica o processo de Oslo. Poucos percebem que, mesmo nos termos dos acordos de Oslo, as áreas palestinas com esta autonomia ou auto-governo não gozam de soberania: ela só pode ser decidida como parte das Negociações da Situação Final. Em outras palavras, Israel pegou 78% da Palestina em 1948 e os 22% restantes em 1967. Só esses 22% estão em questão agora, e eles excluem Jerusalém Ocidental (dos 19 mil dunams, os judeus possuíam 4.830 e os árabes, 11.190, o resto era terra do Estado), tudo cedido antecipadamente por Arafat a Israel em Camp David.3
Qual terra, então, Israel já devolveu até agora? É impossível detalhar isso de qualquer maneira direta – propositalmente impossível. É parte do gênio maligno de Oslo que mesmo as “concessões” de Israel foram tão fortemente oneradas com condições, qualificações e vinculações – tal como uma das propriedades fisicamente inatingíveis e interminavelmente adiadas de um romance de Jane Austen – que os palestinos não conseguem sentir que gozam de qualquer aparência de auto-determinação. Por outro lado, elas podem ser classificadas como concessões, possibilitando a qualquer um (inclusive à liderança palestina) dizer que certas áreas de terra estavam agora (na maioria) sob controle palestino. É o mapa geográfico do processo de paz que mostra, da maneira mais dramática, as distorções que vêm se acumulando e foram sistematicamente disfarçadas pelo discurso calculado de paz e negociações bilaterais. Ironicamente, em nenhuma das dezenas de notícias publicadas ou veiculadas desde o começo da crise atual foi fornecido um mapa para ajudar a explicar porque o conflito atingiu tamanha intensidade.
A estratégia dos acordos de Oslo foi redividir e subdividir um território palestino já dividido em três subzonas, A, B e C, de formas inteiramente planejadas e controladas pelo lado israelense, pois, conforme venho sublinhando há vários anos, os palestinos não tinham nenhum mapa, até recentemente. Eles não tinham nenhum mapa detalhado em Oslo; inacreditavelmente, tampouco havia nenhum indivíduo na equipe de negociação com suficiente familiaridade com a geografia dos Territórios Ocupados para contestar decisões ou apresentar planos alternativos. Daí as bizarras providências para subdividir Hebron após o massacre de 29 palestinos em 1994, na mesquita de Horahimi, por Baruch Goldstein – medidas tomadas para “proteger” os colonos, não os palestinos. O Mapa Um mostra como o núcleo da cidade árabe (120 mil habitantes) – 20% dela, de fato – está sob o controle de mais ou menos 400 colonos judeus, cerca de 0,03% do total, protegido pelo Exército Israelense.
O Mapa Dois mostra o primeiro de uma série planejada de recuos israelenses feitos em áreas largamente separadas, ou seja, não contíguas. Gaza é separada de Jericó por quilômetros e quilômetros de terra controlada por israelenses, mas ambas pertencem à área autônoma A, que, na Cisjordânia, limitava-se a 1,1% do território. O componente de Gaza da área A é muito maior principalmente porque, com sua terra árida e superpovoada com massas rebeldes, Gaza sempre foi considerada um peso para a ocupação israelense, que se contentava em se livrar de toda a terra, menos a terra agrícola de primeira em seu coração, os vários assentamentos, retidos até agora por Israel juntamente com o porto, as fronteiras, entradas e saídas. Os Mapas Dois, Três e Quatro (o mapa quatro foi apresentado por Israel como um mapa ideal de retirada na cúpula de Camp David, embora anunciado antes) mostram o ritmo de passo de tartaruga em que se permitiu a desafortunada Autoridade Palestina assumir o controle dos grandes centros populacionais (Área A); na Área B, Israel deixou a Autoridade policiar as principais áreas de vilarejos, perto de onde os assentamentos estavam constantemente em construção. Apesar das patrulhas conjuntas de oficiais palestinos e israelenses, Israel mantinha em suas mãos toda a segurança real da Área B. Na Área C, manteve todo o território para si, 60% da Cisjordânia, para construir mais assentamentos, abrir mais estradas e estabelecer áreas militares, todas elas – nas palavras de Jeff Halper - destinadas a montar uma matriz de controle da qual os palestinos nunca se veriam livres.4
Uma olhada em qualquer um dos mapas revela, não apenas que as várias partes da Área A são separadas umas das outras, mas que são cercadas pela Área B e, mais importante, pela Área C. Em outras palavras, os bloqueios e cercos que transformaram as áreas palestinas em pontos sitiados no mapa vêm sendo planejados há muito tempo e, pior ainda, a Autoridade Palestina conspirou para isso: aprovou todos os documentos relevantes desde 1994. Em outubro, Amira Hass, correspondente do Ha’aretz nos territórios palestinos, escreveu que em 1993 os dois lados “acertaram um período de cinco anos para a conclusão do novo envio de tropas e as negociações num acordo final. A liderança palestina concordou, repetidamente, em prorrogar o seu período de experiência, diante da perspectiva dos ataques terroristas do Hamas e das eleições israelenses. A ‘estratégia de paz’ e a tática de gradualismo adotada pela liderança foi, a princípio, apoiada pela maioria do público palestino, que anseia por normalidade” – e, penso, pelo fim real da ocupação, que, vale repetir, não foi mencionado em nenhum dos documentos de Oslo.
Prossegue a correspondente: “a Fatah (a principal facção da OLP) era a espinha dorsal do apoio à idéia de liberação gradual do jugo da ocupação militar. Seus integrantes eram os que vigiavam a oposição palestina, detinham suspeitos cujos nomes eram dados a eles por Israel, prendiam os que assinavam manifestos afirmando que Israel não pretendia renunciar a sua dominação sobre a nação palestina. A vantagem pessoal obtida por alguns desses integrantes da Fatah não basta para explicar o seu apoio ao processo: por muito tempo, eles acreditavam real e verdadeiramente que este era o caminho para a independência”.
Quando escreve “vantagem” Hass quer dizer os privilégios VIP que mencionei antes. Mas, conforme a correspondente salienta, estes homens eram também membros da “nação palestina”, com esposas, filhos e parentes que sofriam as conseqüências da ocupação israelense, e estavam fadados, em algum momento, a se perguntar se o apoio ao processo de paz não significava também apoio à ocupação. Conclui Hass:
“Passados mais de sete anos, Israel detém controle administrativo e da segurança de 61,2% da Cisjordânia e cerca de 20% da Faixa de Gaza (Área C), e controle da segurança de outros 26,8% da Cisjordânia (Área B).”
Este controle é o que permitiu a Israel dobrar o número de colonos em 10 anos, ampliar os assentamentos, continuar sua política discriminatória de reduzir quotas de água para 3 milhões de palestinos, impedir o desenvolvimento palestino na maior parte da área da Cisjordânia, e isolar uma nação inteira em áreas restritas, presa numa rede de estradas de desvio reservadas apenas aos judeus. Durante estes dias de restrição interna rigorosa de movimentos na Cisjordânia, pode-se ver como cada estrada foi cuidadosamente planejada para 200 mil judeus terem liberdade de movimento e cerca de 3 milhões de palestinos ficarem trancados em seus bantustões até se submeterem às demandas israelenses.
Ao que se deve acrescentar, a título de esclarecimento, que as principais vias aqüíferas para o abastecimento de água de Israel ficam na Cisjordânia; que a “nação inteira” exclui os 4 milhões de refugiados a quem é categoricamente negado o direito de retorno, muito embora qualquer judeu de qualquer lugar ainda desfrute do direito absoluto de “retorno” a qualquer momento; que a restrição de movimento é tão severa em Gaza quanto na Cisjordânia; e que os 200 mil judeus em Gaza e na Cisjordânia que gozam de liberdade de movimento, citados pela correspondente Hass, não incluem os 150 mil novos habitantes israelenses-judeus que foram trazidos para “judaizar” Jerusalém Oriental.
A Autoridade Palestina está presa num mecanismo espantosamente engenhoso, se bem que infrutífero a longo prazo, de comitês de segurança compostos pelo Mossad, a CIA e os serviços de segurança palestinos. Ao mesmo tempo, Israel e os membros do alto escalão da Autoridade Palestina operam monopólios lucrativos em materiais de construção, tabaco, petróleo etc (os lucros são depositados em bancos israelenses). Não apenas os palestinos estão sujeitos à intimidação pelas tropas israelenses, mas seus próprios homens participam deste abuso de seus direitos, ao lado de odiadas agências não palestinas. Estes comitês de segurança, em grande parte secretos, também possuem um mandato para censurar qualquer coisa que possa ser interpretada como “incitação” contra Israel. É claro que os palestinos não possuem tal direito contra incitações americanas ou israelenses.
O ritmo lento desse processo em curso é justificado pelos Estados Unidos e Israel como salvaguarda da segurança do segundo; nada se fala sobre a segurança palestina. Claramente, devemos concluir, conforme sempre estipulado pelo discurso sionista, que a própria existência dos palestinos, não importa quão confinados ou destituídos de poder estejam, constitui uma ameaça racial e religiosa à segurança de Israel. O que é mais extraordinário é que, em meio a tanta surpreendente unanimidade, no auge da crise atual, Danny Rabinowitz, antropólogo israelense, falou corajosamente no Ha’aretz (17 de outubro) do “pecado original” de Israel ao destruir a Palestina em 1948, o que, com poucas exceções, os israelenses preferiram ou negar ou esquecer completamente.
Se a geografia da Cisjordânia foi alterada em proveito de Israel, a de Jerusalém foi mudada inteiramente. A anexação de Jerusalém Oriental, em 1967, acrescentou 70 quilômetros quadrados ao Estado de Israel; outros 54 quilômetros quadrados foram surrupiados da Cisjordânia e acrescentados à área metropolitana, administrada por muito tempo pelo prefeito Teddy Kollek, o preferido dos liberais ocidentais, que, com seu vice, Meron Benvenisti, foi responsável pela demolição de centenas de casas palestinas em Haret al-Maghariba, para dar lugar à imensa praça em frente ao Muro da Lamentação.5 Desde 1967, Jerusalém Oriental foi sistematicamente judaizada, suas fronteiras, inflacionadas, com a implantação de enormes projetos habitacionais e novas estradas e desvios construídos de modo a fazer com que o retorno seja virtual e inequivocamente impossível e, para a população árabe intimidada e declinante da cidade, transformada em tudo, menos habitável. Como disse o vice-prefeito Abraham Kehila em julho de 1993, “Eu quero que os palestinos abram os olhos para a realidade e compreendam que a unificação de Jerusalém sob a soberania de Israel é irreversível.” (Ver o Mapa Cinco.) Recentes disparos de armas leves contra o novo assentamento de Gilo, em Jerusalém, provenientes do vilarejo palestino vizinho de Beit Jala, teve cobertura total da mídia, mas ninguém mencionou que Gilo foi construída em terra confiscada de Beit Jala. Poucos palestinos esquecerão seu passado tão facilmente.
A cúpula de Camp David em julho fracassou porque Israel e os Estados Unidos apresentaram todas as medidas territoriais que vim discutindo aqui – apenas ligeiramente modificadas para devolver aos palestinos duas “áreas naturais”, eufemismo para deserto, de modo a aumentar a sua parte da área total – como a base para a solução final do conflito palestino-israelense. As reparações foram, com efeito, rejeitadas pelos israelenses, embora essa idéia não seja inteiramente estranha a muitos judeus. Não vi nenhuma menção na mídia ocidental de uma extensa matéria sobre Camp David escrita por Akram Haniyeh, chefe de redação do diário Al-Ayyam, de Ramallah, e um fiel seguidor da Fatah que, desde sua deportação pelos israelenses em 1987, tem estado próximo a Arafat. Haniyeh deixa claro que, do ponto de vista palestino, Clinton simplesmente reforçou a posição israelense, e que, para salvar sua carreira, Barak queria uma conclusão rápida para questões críticas, como os refugiados e Jerusalém, assim como uma declaração formal de Arafat de fim definitivo do conflito. (Desde então Barak convocou eleições antecipadas como meio de afastar uma derrota parlamentar total.) O relato envolvente de Haniyeh sobre o que aconteceu deve sair logo em tradução inglesa na revista Journal of Palestine Studies, de Washington. Mostra que a posição israelense “sem precedentes” sobre Jerusalém foi na verdade talhada para a direita israelense – em outras palavras, que Israel reteria soberania definitiva até sobre a mesquita al- Aqsa. “A posição israelense,” diz Haniyeh, “era ‘faturar’ tudo” – e não dar nada em troca. Israel teria a “assinatura de ouro” de Arafat, o reconhecimento final e “a preciosa promessa de ‘fim do conflito’”. Tudo isso sem uma devolução completa do território ocupado, um reconhecimento de soberania total ou um reconhecimento da questão dos refugiados.
Desde 1967 os Estados Unidos desembolsaram mais de US$ 200 bilhões de dólares em ajuda financeira e militar incondicional a Israel, enquanto ofereciam apoio político geral que permitia a Israel fazer o que quisesse. A Grã-Bretanha, cuja política externa é uma cópia carbono da de Washington, também fornece equipamentos militares que vão diretamente para Cisjordânia e Gaza, para facilitar o assassinato de palestinos. Nenhum Estado recebeu tanta ajuda externa quanto Israel e nenhum Estado (afora os próprios Estados Unidos) desafiou a comunidade internacional em tantas questões por tanto tempo. Se Al Gore se tornar presidente, essa política permaneceria inalterada.6 Gore é intransigentemente pró-Israel e um associado próximo de Martin Peretz, o principal defensor nos Estados Unidos da posição de Israel pela rejeição e com retórica anti-árabe, e dono da publicação New Republic. Pelo menos George W. Bush fez um esforço durante a campanha para tratar de preocupações árabe-americanas, mas, a exemplo da maioria dos ex-presidentes republicanos, ele seria apenas ligeiramente menos pró-Israel do que Gore.
Por sete anos, Arafat vinha assinando acordos do processo de paz com Israel. Pretendia-se obviamente que Camp David fosse o último. Ele rejeitou, sem dúvida, porque percebera a monstruosidade que já havia assinado (eu gostaria de pensar que seus pesadelos são feitos de viagens intermináveis pelos desvios da Área C); sem dúvida, também, porque estava ciente de quanta popularidade havia perdido. Esqueça a corrupção, o despotismo, o desemprego em disparada, agora de até 25%, a pobreza absoluta da maioria do seu povo: ele finalmente compreendeu que, tendo sido mantido vivo por Israel e pelos Estados Unidos, seria jogado de volta para seu povo sem Haram al-Sharif e sem um Estado verdadeiro, ou mesmo a perspectiva de um Estado viável. Os jovens palestinos se cansaram e, a despeito dos débeis esforços de Arafat de controlá-los, ocuparam as ruas para jogar pedras e usar estilingues contra os Merkavas e Cobras dos israelenses.
Os fatos de que Israel dependia no passado, a ignorância, cumplicidade ou preguiça de jornalistas fora de Israel, são agora contrabalançados pelo volume fantástico de informações alternativas disponíveis na Internet. Ciberativistas e hackers abriram um vasto e novo reservatório de material que qualquer um com um mínimo de instrução pode explorar. Há relatos não apenas de jornalistas da imprensa britânica (não existe nenhum equivalente na mídia do “sistema” dos Estados Unidos), mas também da imprensa israelense e árabe com sede na Europa; existem pesquisas realizadas por pesquisadores individuais e informações compiladas em arquivos, organizações internacionais e agências das Nações Unidas, assim como de coletivos de ONGs na Palestina, Israel, Europa, Austrália e América do Norte. Aqui, como em muitos outros casos, a informação confiável é o maior inimigo da opressão e da injustiça.
O aspecto mais desmoralizante do conflito sionista-palestino é a oposição quase total entre os pontos de vista israelense e palestino convencionais. Fomos despossuídos e desenraizados em 1948, eles pensam que conquistaram a independência e que os meios foram justos. Lembramos que a terra que deixamos e os territórios que tentamos liberar da ocupação militar fazem todos parte de nosso patrimônio nacional; eles pensam que é deles por decreto bíblico e filiação da diáspora. Hoje, por qualquer padrão concebível, somos as vítimas da violência; eles pensam que eles são as vítimas. Não há simplesmente nenhum terreno comum, nenhuma narrativa comum, nenhuma área possível para a reconciliação sincera. Nossas reivindicações são mutuamente exclusivas. Mesmo a noção de uma vida comum compartilhada no mesmo pedaço de terra é impensável. Cada um de nós pensa em separação, talvez em isolar e esquecer o outro.
A maior pressão moral para mudar é sobre os israelenses, cujas ações militares e imprudente estratégia de paz derivam de uma preponderância da força do seu lado, e uma falta de vontade de ver que estão acumulando anos de ressentimento e ódio por parte dos muçulmanos e árabes. Daqui a 10 anos haverá paridade demográfica entre árabes e judeus na Palestina histórica: o que acontecerá então? Os envios de tanques, os bloqueios de estradas e as demolições de casas poderão continuar como antes? Não faria sentido um grupo de historiadores e intelectuais respeitados, compostos igualmente de palestinos e israelenses, realizar uma série de encontros para tentar acordar um pouquinho de verdade sobre este conflito, para ver se as fontes conhecidas podem orientar os dois lados para concordar sobre um conjunto de fatos – quem tirou o que de quem, quem fez o que com quem, e assim por diante – que, por sua vez, podem apontar uma saída do impasse atual? Talvez seja muito cedo para uma Comissão de Verdade e Reconciliação, mas algo como um Comitê de Verdade Histórica e Justiça Política seria apropriado.
Está claro para todos que o velho esquema de Oslo, que tantos danos causou, não é mais viável (uma recente pesquisa de opinião pública, conduzida pela Universidade Bir Zeit, mostra que apenas 3% da população palestina quer voltar às velhas negociações) e que a equipe de negociação palestina liderada por Arafat não pode mais centralizar o poder, muito menos a nação. Todos sentem que estão fartos: a ocupação durou tempo demais, as conversações de paz se arrastaram com poucos resultados, a meta, se era a independência, não parece mais próxima (agradeça a Rabin, Peres e seus equivalentes palestinos por este fracasso), e o sofrimento do povo comum foi maior do que o suportável. Daí o arremesso de pedras nas ruas, mais outra atividade inútil, com suas próprias conseqüência trágicas. A única esperança é continuar tentando confiar numa idéia de coexistência entre dois povos numa mesma terra. No momento, no entanto, os palestinos estão precisando desesperadamente de orientação e, sobretudo, proteção física. O plano de Barak de punir, conter e sufocá-los já apresentou resultados calamitosos, mas não consegue submetê-los, como ele e seus mentores americanos supõem. Por que é que os israelenses não percebem - como alguns já perceberam - que uma política de brutalidade contra árabes numa parte do mundo contendo 300 milhões de árabes e 1,2 bilhão de muçulmanos não tornará o Estado judeu mais seguro?
Notas
2 Gostaria de agradecer a Shifra Stern, Ali Abunimah, Andrew Rubin, Mostapha Barghuti, Ibrahim Abu-Lughod, Linda Butler, Sara Roy, Raji Sourani, Noam Chomsky e Jeffrey Aronson pela ajuda neste
artigo. O livro Reflections on Exile (Reflexões sobre o Exílio) deve sair no ano que vem pela Granta, no Reino Unido, e pela Harvard, nos Estados Unidos
3 Estes dados foram extraídos do livro Salim Tamari (org.), Jerusalem 1948: The Arab neighbourhoods and their fate in the war, Institute of Jerusalem Studies, 1998.
4 Halper escreveu os estudos mais impressionantes sobre o planejamento territorial israelense durante o processo de Oslo; ver, por exemplo, seu estudo da rodovia trans-Israel “The road to apartheid”, News from Within, mai. 2000, e “The 94 per cent solution: a matrix of control”, Middle East Report, n. 216, 2000. O geógrafo holandês Jan de Jong, autor de dois dos mapas reproduzidos aqui, também fez um trabalho importante nessa área.
5 Um relato ponderado da era dourada de Kollek é o de Amir Cheshin, Bill Hutman e Avi Melamed. Separate and unequal: The inside story of Israeli rule in East Jerusalem, Nova York, Harvard, 1999.