Seymour M. Hersh
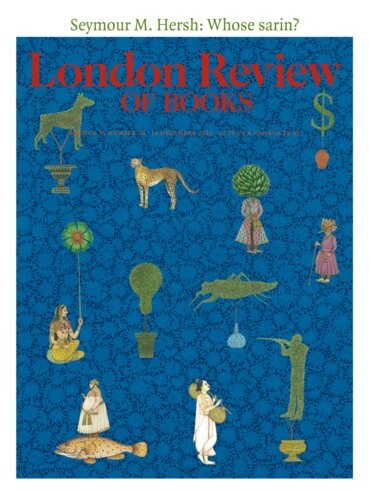 |
| Vol. 35 No. 24 · 19 December 2013 |
Barack Obama não contou a história inteira esse outono, quando tentou argumentar que Bashar al-Assad seria responsável pelo ataque com armas químicas próximo a Damasco no dia 21 de agosto 2013. Em alguns pontos omitiu informações importantes, em outros apresentou pressuposições como se fossem fatos. Mais importante, não reconheceu algo que toda a comunidade de inteligência dos Estados Unidos já havia reconhecido: que o exército sírio não é o único envolvido na guerra civil síria que tem acesso ao gás sarin, o agente de ação neurológica que, conforme estudo da Organização das Nações Unidas (ONU) – sem competência para fazer esse tipo de avaliação – tinha sido utilizado no ataque com foguete. Nos meses anteriores ao ataque, as agências de inteligência americanas produziram vários relatórios altamente secretos, que culminaram em uma formal Operations Order – documento de planejamento que precede invasão por terra – que cita provas de que a Frente al-Nusra, grupo jihadista afiliado à al-Qaeda, já dominava a mecânica da produção de gás sarin e podia produzir em grandes quantidades. Quando o ataque aconteceu, a Frente al-Nusra deveria ter sido um suspeito; mas a administração Obama selecionou a inteligência que lhe interessava para justificar um ataque contra Assad.
Mas em recentes entrevistas com oficiais e consultores militares e de inteligência, atuais e aposentados, descobri grave preocupação, vez ou outra até medo, em torno do que vários deles veem como deliberada manipulação de inteligência. Um oficial de inteligência de alto nível, em e-mail para um colega, chamou de "farsa" as provas que o governo estava apresentando como tais, da responsabilidade de Assad. O ataque "não foi obra do atual governo" – escreveu ele. Outro ex-funcionário sênior de inteligência disse-me que o governo Obama alterara a informação disponível – alterara o timing e a sequência dos eventos – para permitir que o presidente e seus conselheiros usassem informação recolhida dias depois do ataque, como se tivesse sido recolhida e analisada em tempo real, durante o ataque. Essa distorção, disse ele, lembrou-o do incidente no Golfo de Tonkin em 1964, quando o governo Johnson inverteu a sequência de informação interceptada pela Agência de Segurança Nacional, para assim justificar um dos primeiros ataques com bombas dos Estados Unidos contra o Vietnã do Norte. O mesmo funcionário disse que há imensa frustração nos quadros da burocracia militar e da inteligência dos Estados Unidos: "Os rapazes erguem os braços aos céus e perguntam: 'Como se pode ajudar esse cara' – Obama – se ele e o pessoal dele na Casa Branca, cada vez que se reúnem, inventam inteligência?"
As reclamações focam-se no que Washington não teve: qualquer informação antecipada da fonte presumida do ataque. A comunidade militar de inteligência há anos produz um sumário matinal, super secreto, conhecido como Morning Report, para o secretário da Defesa e o comandante do Estado-Maior das Forças Conjuntas; uma cópia é enviada para o conselheiro de Segurança Nacional e para o diretor da Inteligência Nacional. O Morning Report não inclui informação política ou econômica, mas oferece um resumo de importantes eventos militares pelo mundo, com toda a inteligência existente sobre eles. Um consultor sênior de inteligência disse-me que um pouco depois do ataque ele revisou os relatórios de 20 a 23 de agosto de 2013. Em dois dias – 20 e 21 de agosto de 2013 – não havia menção à Síria. Dia 22 de agosto de 2013, o principal item no Morning Report falava do Egito; item subsequente discutia uma mudança interna na estrutura de comando de um dos grupos rebeldes na Síria. Nada sobre uso de gás de efeito neurológico em Damasco naquele dia. Só no dia 23 de agosto de 2013 é que o sarin tornou-se questão dominante, embora centenas de fotos e vídeos do massacre já fossem virais, em questão de horas, por YouTube, Facebook e outras páginas de mídias sociais. Nesse momento, o governo não sabia mais que o público.
Obama deixou Washington dia 21 de agosto de 2013, cedo, para um frenético tour de discursos em New York e Pennsylvania; segundo o gabinete de imprensa da Casa Branca, foi informado naquele dia, mais tarde, sobre o ataque e o crescente furor na imprensa e na opinião pública. A falta de qualquer inteligência imediata ficou evidente dia 22 de agosto de 2013, quando Jen Psaki, um dos porta-vozes do Departamento de Estado, disse a repórteres: "Não conseguimos determinar conclusivamente [o uso de] armas químicas. Mas estamos focados em cada minuto de cada dia, desde que aconteceram os eventos... fazendo todo o possível ao nosso alcance, para conhecer todos os detalhes dos fatos." Dia 27 de agosto de 2013 o tom do governo endureceu, quando o secretário de imprensa de Obama, Jay Carney, disse a repórteres – sem oferecer qualquer informação específica – que qualquer sugestão de que o governo sírio não foi o responsável "é tão absurda e sem sentido quanto sugerir que o próprio ataque não aconteceu".
A ausência de alarme imediato dentro da comunidade norte-americana de inteligência demonstra que não havia inteligência sobre intenções dos sírios nos dias anteriores ao ataque. E há pelo menos dois modos pelos quais os EUA poderiam ter sabido antecipadamente: os dois foram abordados num dos documentos top secret da inteligência dos EUA divulgados em meses recentes por Edward Snowden, ex-empregado terceirizado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
Dia 29 de agosto de 2013, o Washington Post publicou excertos do orçamento anual para programas da inteligência nacional, agência por agência, fornecidos por Snowden. Em consulta com o governo Obama, o jornal optou por publicar apenas uma mínima parte do documento de 178 páginas, classificado acima do mais top secret, mas resumiu e publicou uma seção relacionada a áreas-problema. Uma dessas áreas-problema era o "buraco" na cobertura de espionagem do gabinete de Assad. O documento dizia que as instalações de escuta eletrônica da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos em todo o mundo haviam "conseguido monitorar comunicações encriptadas entre altos oficiais militares sírios no início da guerra civil lá". Mas havia "uma vulnerabilidade, que as forças do presidente Bashar al-Assad aparentemente descobriram logo depois". Em outras palavras, significa que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos já não conseguia acesso às conversas dos principais comandantes militares na Síria, o que incluiria comunicações cruciais de Assad – como ordens para um ataque com gás de efeito neurológico. (Em suas falas públicas desde 21 de agosto de 2013, o governo Obama jamais disse que teria informação específica que ligasse o próprio presidente Assad aos ataques).
A matéria publicada no Post também trouxe a primeira indicação de que havia um sistema sensor secreto dentro da Síria, instalado para garantir alerta imediato de qualquer mudança no status do arsenal de armas químicas do governo. Os sensores são monitorados pelo Gabinete Nacional de Reconhecimento, a agência que controla todos os satélites de inteligência dos Estados Unidos em órbita. Segundo o resumo do Post, o Gabinete Nacional de Reconhecimento tem também a tarefa de "extrair dados de sensores plantados no solo" dentro da Síria. O ex-funcionário sênior de inteligência, que tinha conhecimento direto do programa, disse-me que os sensores do Gabinete Nacional de Reconhecimento foram plantados próximos de todos os pontos conhecidos na Síria onde há equipamento para guerra química. São concebidos para garantir monitoramento constante da movimentação das ogivas químicas armazenadas pelos militares. Mas, muito mais importante em termos de alerta precoce, é a capacidade desses sensores para alertar a inteligência dos EUA e de Israel sempre que as ogivas forem carregadas com gás sarin. (País vizinho, Israel há muito tempo monitora mudanças que haja no arsenal químico da Síria, e trabalha em íntima conexão com a inteligência dos EUA, para alertas muito rápidos.) Uma ogiva química, depois de carregada com gás sarin, tem vida útil de poucos, bem poucos dias – porque o gás começa a corroer a própria ogiva: é arma de destruição em massa do tipo "para consumir imediatamente". "O exército sírio não tem três dias para preparar um ataque químico, disse-me aquele ex-funcionário sênior de inteligência. Criamos o sistema de sensores para reação imediata, como um alarme de incêndio ou um raid aéreo de advertência. Não se pode pensar em alarme para dali a três dias, porque todos os envolvidos já estariam mortos. É já, ou você virou história. Ninguém passa três dias preparando-se para disparar gás de efeito neurológico." E nenhum sensor detectou qualquer movimento nos meses e dias antes de 21 de agosto de 2013, disse aquele ex-funcionário sênior da inteligência. É claro que é possível que osarin tenha sido fornecido por outros meios ao exército sírio, mas a ausência de qualquer sinal de alarme significou que Washington não conseguira monitorar os eventos de Ghouta Leste enquanto se desenrolavam.
Os sensores, antes, já funcionaram, como os comandantes sírios sabem muito bem. Em dezembro passado o sistema de sensores recolheu sinais do que parecia ser produção de gás sarin num depósito de armas químicas. No primeiro momento, não se pôde saber se o movimento indicava exercícios do exército sírio, para treinamento (todos os exércitos do mundo fazem esse tipo de exercício “químico”, ou se haveria algum ataque real em preparação. Na ocasião, Obama preveniu publicamente a Síria de que o uso de gás sarin seria “totalmente inaceitável”; e mensagem semelhante foi encaminhada por vias diplomáticas. O evento era parte de exercícios, como adiante se confirmou, segundo o ex-funcionário sênior de inteligência: "Se o que os sensores viram em dezembro passado era tão importante que o presidente teve de dizer que parassem, por que o presidente Obama não fez exatamente o mesmo, três dias antes do ataque com gás, em agosto?"
É claro que a Agência de Segurança Nacional monitoraria o gabinete de Assad 24 horas por dia, todos os dias, disse o mesmo ex-funcionário. Outras comunicações – de várias unidades de combate dentro da Síria – sempre serão de longe muito menos importantes e não são analisadas em tempo real. "Há literalmente milhares de rádio frequências táticas usadas por unidades de campo na Síria para comunicações comuns de rotina– disse ele – e seria necessário um número imenso de técnicos em decriptação para ouvir tudo – e o retorno aproveitável seria zero."
Mas essa "conversa" é rotineiramente arquivada em computadores. Tão logo se entendeu a escala dos eventos de 21 de agosto de 2013, a Agência de Segurança Nacional montou um vasto esforço de busca de qualquer informe relacionável ao ataque, trabalhando no arquivo geral de comunicações arquivadas. Selecionaram-se uma ou duas palavras chaves e aplicou-se um filtro para separar as conversações relevantes. "O que aconteceu aqui é que o pessoal da Agência de Segurança Nacional começou com um evento – o uso de gás sarin – e saiu à procura de conversas que parecessem ter relação com aquele evento – disse o ex-funcionário." Isso não leva a avaliação muito confiável, a menos que você assuma como verdade indiscutível que Bashar Assad ordenou o ataque e saia à procura de qualquer coisa em que apoiar seu pressuposto inicial. Essa busca só pelos feijões "que interessam" foi similar ao processo usado para justificar a guerra do Iraque.
*
A Casa Branca precisou de nove dias para montar o seu caso contra o governo sírio. Em 30 de agosto de 2013 convidou um grupo seleto de jornalistas de Washington (pelo menos um repórter crítico, Jonathan Landay, correspondente de segurança nacional da rede McClatchy Newspapers, não foi convidado), aos quais entregou um documento cuidadosamente rotulado como "uma avaliação feita pelo governo", em vez de avaliação feita pela comunidade de inteligência. O documento expunha o que, na essência, não passava de argumento político para inflar o caso do governo Obama contra o governo Assad. Mas era mais específico do que Obama seria adiante, em seu discurso de 10 de setembro de 2013: a inteligência dos Estados Unidos, disse ele, sabia que a Síria "começou a preparar munição química" três dias antes do ataque. Em discurso agressivo, naquele mesmo dia, John Kerry deu mais detalhes. Disse que "pessoal sírio de armas químicas estava em solo na área, fazendo preparativos" no dia 18 de agosto de 2013. "Sabemos que elementos do governo sírio receberam ordens para preparar-se para o ataque, vestindo máscaras contra gases e tomando precauções associadas a armas químicas". A avaliação pelo governo e os comentários de Kerry fizeram parecer que o governo estivera acompanhando o ataque com sarin enquanto acontecia. Essa versão dos eventos, falsa, mas que não foi desmentida, foi fartamente reproduzida e noticiada naquele momento.
Uma reação não prevista veio sob a forma de reclamações da liderança do Exército Sírio Livre e outros, indignados por não terem sido prevenidos. "É inacreditável que não tenham alertado as pessoas, nem tentado deter os criminosos antes do crime" – disse à Foreign Policy, Razan Zaitouneh, membro da oposição, que vivia numa das cidades atingidas pelo gás sarin. O Daily Mail foi mais incisivo: "O relatório da Inteligência diz que os funcionários dos Estados Unidos sabiam sobre o ataque com gás sarin na Síria, três dias antes de o gás matar mais de 1.400 pessoas – inclusive mais de 400 crianças." (O número de mortes pelo ataque varia muito, de pelo menos 1.429, como disse inicialmente o governo Obama, a número bem inferior. Um grupo sírio de direitos humanos relatou 502 mortos; Médicos sem Fronteiras falam de 355; e matéria francesa listou 281 mortos. O número espantosamente preciso de que os Estados Unidos falaram, como disse mais tarde o Wall Street Journal, foi baseado não em alguma contagem real de corpos, mas numa extrapolação feita por analistas da Agência Central de Inteligência (CIA), que escanearam mais de cem vídeos de YouTube de Ghouta Leste num sistema de computação à procura de imagens de mortos. Em outras palavras: foi pouco mais que simples palpite).
Cinco dias depois, um porta-voz do Gabinete do Diretor da Inteligência respondeu às reclamações. Declaração à Associated Press dizia que a inteligência na qual se apoiaram as primeiras declarações do governo ainda não era conhecida no momento do ataque; que fora recuperada só subsequentemente: "Sejamos claros: os Estados Unidos não estavam vigiando, em tempo integral, quando aconteceu esse horrível ataque. A comunidade de inteligência conseguiu reunir e analisar informação depois do fato, e determinar que elementos do regime Assad, sim, deram passos para preparar-se antes de usar armas químicas." Mas, dado que a imprensa-empresa norte-americana já tinha a história à qual se agarrar, deu-se rala atenção à retratação. Dia 31 de agosto de 2013, o Washington Post, repetindo a avaliação do governo, noticiou com destaque, na primeira página, que a inteligência norte-americana conseguira gravar “cada passo” do ataque pelo Exército Sírio em tempo real, "das extensivas preparações para o lançamento dos foguetes, até as avaliações posteriores por oficiais sírios". O Post não publicou a retratação distribuída pela AP. Assim, a Casa Branca manteve o controle sobre a narrativa.
Portanto, quando Obama disse, dia 10 de setembro de 2013, que seu governo sabia que o pessoal de Assad preparara o ataque, baseava sua fala não em inteligência interceptada enquanto acontecia, mas em comunicações analisadas dias depois de 21 de agosto de 2013. O ex-funcionário sênior explicou que a caça por conversa "que interessasse" voltou ao exercício detectado em dezembro, sobre a qual, como Obama disse depois publicamente, o Exército Sírio mobilizara pessoal das armas químicas e distribuíra máscaras entre os soldados. A avaliação distribuída pela Casa Branca e a fala de Obama nada tinham, em dezembro, a ver com os específicos eventos que levaram ao ataque do dia 21 de agosto de 2013; eram simples reprodução do que os militares sírios fariam no caso de algum ataque químico. "Requentaram uma história já passada – disse o ex-funcionário sênior – e há muitas peças e partes diferentes. O modelo que usaram foi o modelo de dezembro." É possível, é claro, que Obama não soubesse que aquele relato havia sido obtido de uma análise dos manuais e protocolos sírio a serem usados para ataque com gás, e não eram conclusão a partir de provas reais de eventos reais. Fosse como fosse, Obama analisou precipitadamente, temerariamente, e só superficialmente, as (nenhuma) provas que lhe exibiram.
Toda a imprensa entrou no mesmo jogo e o manteve pautado. O relatório da ONU de 16/9, confirmando o uso de sarin, foi suficientemente cauteloso; observou que o acesso de seus investigadores aos sítios dos ataques, que só aconteceu cinco dias depois, fora controlado por forças rebeldes. "Como com outros sítios – dizia o relatório – as locações foram pisoteadas por outros indivíduos antes da chegada da missão (...).Durante o tempo que passamos nessas locações, chegavam indivíduos carregando munição suspeita, indicado que provas potenciais estejam sendo retiradas e possivelmente manipuladas." Apesar disso tudo, o New York Times avaliou o relatório, como o avaliaram oficiais britânicos e norte-americanos, e disseram que ali havia provas cruciais em apoio ao que dizia o governo. Um anexo ao relatório da ONU reproduzia fotografias publicadas em YouTube de munição recolhida, inclusive um foguete que “sugestivamente combina” com as especificações de munição de artilharia de 330mm de calibre. O New York Times escreveu que a existência dos foguetes provaria, essencialmente, que o governo sírio foi responsável pelo ataque, “porque a arma em questão não havia sido documentada nem relatada como pertencente à insurgência”.
Theodore Postol, professor de tecnologia e segurança nacional no MIT, revistou, trabalhando com um grupo de colegas especialistas, as fotos feitas pelos inspetores da ONU, e concluíram que o foguete de grande calibre eram munição improvisada de fabricação, provavelmente, local. Disse-me que seria “algo que se pode fabricar num ateliê modesto de ferramentaria”. O foguete nas fotos, acrescentou, absolutamente não satisfaz as especificações de foguete similar, embora menor, que se sabe que existe no arsenal sírio. O New York Times, mais uma vez confiando nos dados do relatório da ONU, também analisou a linha de voo de dois foguetes disparados, os quais se supõe que tenham transportado sarin, e concluiu que o ângulo de descida “aponta diretamente” para provar que foram lançados de uma base síria localizada a mais de 9 km da zona de aterrissagem. Postol, que trabalhou como conselheiro científico do chefe de operações navais no Pentágono, disse que as asserções no Times e noutras publicações “não se baseiam em observação real”. Concluiu que as análises da linha de voo, sobretudo, são, como escreveu num e-mail, “totalmente doidas”, porque estudo aprofundado comprovou que “não há qualquer evidência, e nada sugere” que o alcance dos foguetes improvisados fosse superior a dois quilômetros. Postol e um colega, Richard M. Lloyd, publicaram uma análise duas semanas depois de 21/8, no qual avaliavam, corretamente, que os foguetes envolvidos carregavam quantidade de sarin muito superior à estimada antes. O Times noticiou extensamente essa análise, apresentando Postol e Lloyd como “importantes especialistas em armas”. O mais recente estudo dos dois sobre o alcance e a rota de voo dos foguetes, que desmente matéria anterior do Times, foi enviado por e-mail ao jornal na semana passada; até essa data, ainda não foi nem comentado nem publicado.
*
A falsa interpretação que a Casa Branca deu ao que sabia sobre o ataque, e quando soube, correspondeu à rapidez com que ignorou toda a inteligência que poderia minar sua narrativa: a informação sobre a Frente al-Nusra, o grupo islamista rebelde que Estados Unidos e ONU classificaram como organização terrorista. A Frente Al-Nusra é conhecida por ter executado muitos ataques de suicidas-bombas contra cristãos e outras seitas muçulmanas não sunitas dentro da Síria, e por ter atacado também seu aliado nominal na guerra civil, o secular Exército Sírio Livre. O seu objetivo declarado é derrubar o governo de Assad e estabelecer a Lei da Xaria. (Dia 25 de setembro de 2013, a frente al-Nusra uniu-se a outros grupos de islâmicos rebeldes, para repudiarem o Exército Sírio Livre e também outra facção secular, a Coalizão Nacional Síria).
A onda de interesse norte-americano na Frente al-Nusra e no gás sarin começou de uma série de ataques químicos de pequena escala em março e abril; naquele momento, o governo sírio e os rebeldes insistiam, cada um, que o responsável era o outro. Por fim, a ONU concluiu que quatro ataques químicos, sim, haviam acontecido; mas não atribuiu a responsabilidade a nenhum dos lados. Um funcionário da Casa Branca disse à imprensa no final de abril que a comunidade de inteligência avaliara “com variáveis graus de certeza” que o governo sírio fora responsável pelos ataques. Assad, sim, havia transgredido a “linha vermelha” de Obama. A avaliação de abril ganhou manchetes, mas detalhes muito significativos perderam-se no processo. Um funcionário não identificado que coordenava obriefing reconheceu que as avaliações da comunidade de inteligência: "(...) não só, só elas, suficientes. Queremos – disse ele – investigar acima e além dessas avaliações da inteligência, para reunir os fatos de modo a podermos estabelecer um conjunto confiável e comprovável de informação que possa embasar então nossa tomada de decisão." Em outras palavras, a Casa Branca não tinha nenhuma prova direta do envolvimento do Exército Sírio ou do governo do presidente Bashar al-Assad, fato que só muito ocasionalmente apareceu registrado na cobertura oferecida pela imprensa-empresa. E a conversa “durona” de Obama funcionou bem com a opinião pública e o Congresso, que via Assad como assassino cruel e sanguinário.
Dois meses depois, uma declaração da Casa Branca anunciou mudança na avaliação da culpabilidade síria; e declarou que a comunidade de inteligência, agora, tinha “alta certeza” de que o governo Assad fora responsável pelas 150 mortes nos ataques com sarin. Mais e mais manchetes foram geradas e a imprensa-empresa foi informada de que Obama, em resposta à nova inteligência, havia ordenado em ajuda não letal à oposição síria. Não se ofereciam detalhes, nem se identificavam os detalhes nos quais se baseava a matéria. A declaração da Casa Branca dizia que análises laboratoriais confirmaram o uso de sarin, mas que prova positiva da presença de sarin “nada diz sobre como os indivíduos foram expostos ou sobre quem foi o responsável pela disseminação”. A Casa Branca também declarou que: "Não temos relatório confiável provado, que indique que a oposição na Síria adquiriu ou usou armas químicas." A declaração acima contrariava as provas que, naquele momento, fluíam em quantidade para as agências de inteligência dos EUA.
Já no final de maio, o ex-funcionário sênior da inteligência contou-me, a CIA já levara ao conhecimento do governo Obama o que se sabia sobre a Frente al-Nusra e seu trabalho com sarin; e enviara relatórios alarmantes de que outro grupo sunita fundamentalista ativo na Síria – al-Qaeda in Iraq (AQI) – também já dominava o processo de produzir sarin. Naquele momento, a Frente Al-Nusra estava operando em áreas próximas de Damasco, incluindo Goutha do Leste. Documento da inteligência distribuído em meados do verão tratava longamente de Ziyaad Tariq Ahmed, especialista em armas químicas dos militares iraquianos, que ter-se-ia mudado para a Síria e que estaria operando em Ghouta Leste. O consultor disse-me que Tariq havia sido identificado como “um sujeito da al-Nusra, com currículo de ter preparado gás mostarda no Iraque e homem que está implicado na produção e uso do gás sarin”. Os militares dos EUA o consideram alvo “de alto valor”.
Dia 20/6, um telegrama top secret de quatro páginas, reunindo tudo o que se sabia sobre as capacidades da al-Nusra para produzir/usar gás sarin, foi passado para David R. Shedd, vice-diretor da Agência de Inteligência da Defesa. "O que passaram para Shedd foi informação ampla e extensa – disse o consultor. Não foi um punhado de 'acreditamos que'". O mesmo consultor disse-me que esse telegrama não dizia nem sugeria que nem os rebeldes nem o Exército Sírio teriam iniciado os ataques em março e abril; mas, sim, confirmava relatórios anteriores de que a Frente al-Nusra tinha meios e competências para comprar e usar gás sarin. Uma amostra do sarin que havia sido usado também fora recuperada – com a ajuda de um agente israelense – mas, segundo o consultor com o qual falei, não há nenhuma referência à amostra, naquele telegrama nem em outros.
Independentemente dessas avaliações, o Estado-Maior das Forças Conjuntas dos EUA, sob a pressuposição de que soldados dos EUA poderiam ser mandados à Síria para capturar o estoque de agentes químicos, requereu uma análise de todas as fontes, sobre a ameaça potencial. "A Ordem de Operação é base para a execução de operação militar, se for ordenada – explicou-me o ex-funcionário sênior da inteligência. – Inclui a possível necessidade de mandar soldados dos EUA para um sítio químico na Síria, para impedir que seja tomado por rebeldes. Se os rebeldes jihadistas estivessem prestes a tomar o sítio químico, os EUA pressupúnhamos que Assad não lutaria contra nós porque estaríamos protegendo os [produtos] químicos de serem capturados pelos rebeldes." "Todas as Ordens de Operação contêm um item que trata de alguma específica ameaça de inteligência. Tínhamos analistas da CIA, da Agência de Inteligência da Defesa, especialistas em armas e gente de “I & W” trabalhando naquele problema... Concluíram que as forças rebeldes eram capazes de atacar com gás sarin uma força dos EUA, porque sabiam e podiam produzir o gás letal. O exame fora feito a partir de sinais e de inteligência humana, e considerava também intenções manifestas e a capacidade técnica comprovada dos rebeldes."
Há provas de que durante o verão alguns membros do Comando do Estado-Maior das Forças Conjuntas dos EUA estavam preocupados ante a possibilidade de invasão por terra à Síria, e pelo desejo manifesto de Obama de oferecer apoio não letal a facções rebeldes. Em julho, o general Martin Dempsey, comandante do Estado-Maior das Forças Conjuntas, apresentou avaliação sombria e disse à Comissão de Serviços Armados do Senado, em audiência pública, que “milhares de forças de operações especiais e outras forças de terra” serão necessárias para tomar todo o arsenal químico da Síria, extremamente disperso, além de “centenas de aviões, barcos, submarinos e outros tipos de veículos”. Estimativas do Pentágono falam em cerca de 70 mil soldados necessários nessa operação, em parte porque as forças dos EUA teriam de proteger também a frota de foguetes sírios: capturar grandes volumes dos produtos químicos que produzem gás sarin, sem ter os meios para lançar o gás, pouca utilidade teria para alguma força rebelde. Numa carta para o senador Carl Levin, Dempsey alerta que qualquer decisão de capturar o arsenal sírio traria consequências não desejadas: "Ao longo dos últimos dez anos, aprendemos porém que não basta simplesmente alterar o equilíbrio do poder militar, sem considerar atenta e cuidadosamente o que é necessário para preservar o funcionamento do estado (...) Se as instituições do regime entrarem em colapso na ausência de qualquer oposição viável, podemos acabar, inadvertidamente, empoderando extremistas ou lançando em operação as mesmas armas químicas que estamos tentando controlar."
Consultada sobre essa carta, a CIA preferiu não se manifestar. Porta-vozes da Agência de Inteligência da Defesa e do Gabinete do Diretor da Inteligência Nacional disseram que não sabiam do relatório enviado a Shedd; depois de receber os dados de identificação do telegrama, enviados por nós, disseram que não haviam localizado o telegrama. Shawn Turner, relações públicas do Gabinete do Diretor da Inteligência Nacional, disse que nenhuma agência de inteligência dos EUA, incluída a Agência de Inteligência da Defesa, “avalia que a Frente al-Nusra tenha conseguido desenvolver alguma capacidade para produzir gás sarin”.
Os funcionários de Relações Públicas do governo Obama não estão tão preocupados com o potencial militar da Frente al-Nusra quanto Shedd nas suas declarações públicas. No final de julho, Shedd apresentou relatório alarmante da força da Frente al-Nusra, durante o Aspen Security Forum, no Colorado. “Contabilizo nada menos que 1.200 diferentes grupos na oposição [ao governo de Bashar Al-Assad]” – disse Shedd, como se ouve nas gravações de sua conferência. E dentro da oposição, a Frente al-Nusra é a mais efetiva e está ganhando força. Isso, disse Shedd, é motivo de grave preocupação para nós. Se essa força for deixada agir sem qualquer oposição, temo muito que os elementos mais radicais – e citou também o grupo al-Qaeda in Iraq –prevaleçam. A guerra civil - ele continuou - só ficará cada vez pior ao longo do tempo (...) Há inominável violência ainda por vir. Shedd não fez qualquer referência a armas químicas em sua fala, porque, de fato, não podia: os relatórios que seu gabinete recebera eram todos ultra top secret.
*
Uma série de despachos secretos vindos da Síria durante o verão relatavam que membros do Exército Sírio Livre andavam reclamando a agentes da inteligência dos Estados Unidos sobre repetidos ataques que estavam sofrendo de combatentes da Frente al-Nusra e da al-Qaeda. Os relatórios, segundo o consultor sênior de inteligência com o qual falamos e que leu aqueles relatórios, traziam provas de que o Exército Sírio Livre estava "mais preocupado com aqueles doidos do que com o governo de Assad". O Exército Sírio Livre é formado em grande parte por desertores do exército sírio. O governo Obama, empenhado em derrubar Assad e em manter o apoio aos rebeldes, procurou, em todas as falas públicas a partir do ataque [com gás sarin], apagar a influência das facções salafistas e wahhabistas. No início de setembro, John Kerry disse, estupefato, em uma audiência no Congresso, que a Frente al-Nusra e outros grupos islâmicos seriam minoria na oposição síria. Mais tarde ele retirou o que dissera.
Em todos as suas falas públicas e privadas depois do dia 21 de agosto de 2013, o governo Obama desconsiderou toda a inteligência que havia sobre a possibilidade real de que a Frente al-Nusra tivesse acesso possível ao gás sarin; e continuou a afirmar que só o governo Assad teria armas químicas. Essa foi a mensagem que se lia nos vários memorandos secretos distribuídos aos membros do Congresso nos dias depois do ataque, quando Obama tentava obter apoio para sua planejada ofensiva aérea contra instalações dos militares sírios. Um deputado, com mais de duas décadas de experiência em questões militares, disse-me que concluiu a leitura de um daqueles memorandos secretos absolutamente convencido de que "só o governo de Assad, não os rebeldes, tinham gás sarin".
Assim também, depois da divulgação do relatório da ONU, dia 16 de setembro de 2013, confirmando que havia sido usado gás sarin no ataque de 21 de agosto de 2013, Samantha Power, embaixadora dos Estados Unidos à ONU, disse, numa conferência de imprensa: "É muito importante observar que só o governo [de Assad] possui sarin, e que não temos prova de que a oposição possua sarin." Não se sabe se os relatórios altamente classificada sobre a Frente al-Nusra chegaram ao gabinete de Power, mas o comentário dela é reflexo da atitude que, então, se via em todo o governo Obama. "A conclusão imediata e geral era que Assad fizera tudo" – disse-me o ex-funcionário sênior de inteligência. – "O novo diretor da CIA, [John] Brennan, pula sobre essa conclusão" corre até a Casa Branca e diz: 'Vejam o que consegui!'. Foi tudo verbal; eles só tinham, de prova, as camisas manchadas de sangue. Houve muita pressão para arrastar Obama à mesa, para ajudar os rebeldes, e havia uma ilusão de que que isso [ligar Assad ao ataque com sarin] forçaria a mão de Obama: 'É o telegrama Zimmermann da rebelião síria! E agora Obama pode reagir'. Pura ilusão, na ala Samantha Power dentro do governo Obama. Infelizmente, alguns dos comandantes do Estado-Maior que foram alertados de que Obama preparava-se para atacar não tinham certeza de que era uma coisa boa."
O proposto ataque com mísseis norte-americanos contra a Síria jamais recebeu apoio da opinião pública; e Obama rapidamente mudou de ideia e agarrou-se à ONU e à proposta dos russos, a favor do desmantelamento dos arsenais químicos sírios. Qualquer possibilidade de ação militar foi afinal definitivamente descartada dia 26 de setembro de 2013, quando o governo Obama acompanhou o voto da Rússia e aprovou projeto de resolução da ONU que pedia que o governo Assad se livrasse de seu arsenal químico. O recuo de Obama trouxe alívio a vários altos comandantes militares. (Um conselheiro de alto nível de operações especiais disse-me que o mal concebido ataque de mísseis dos Estados Unidos contra instalações da Força Aérea síria e silos de mísseis sírios, como foi concebido inicialmente pela Casa Branca, teria sido "praticamente como garantir apoio aéreo próximo à Frente al-Nusra".).
A distorção que o governo Obama criou em todos os fatos que cercam o gás sarin levanta uma questão inevitável: será que afinal conhecemos toda a história do muito que Obama desejava afastar-se da "linha vermelha" que ele mesmo criara, sua ameaça de bombardear a Síria? Primeiro, disse que tinha "caso muito firme" a favor do ataque, e então, de repente, aceita entregar a decisão ao Congresso; e em seguida aceita a oferta de Assad, que se dispõe a entregar seu arsenal químico. Parece razoável e possível que, em algum momento desse processo, Obama tenha recebido informação que andava na direção contrária de tudo que a inteligência dos Estados Unidos lhe dizia: provas suficientemente fortes para convencê-lo, rapidamente, a cancelar o plano de ataque e ver-se obrigado a encarar a crítica que, sem dúvida possível, viria dos Republicanos.
A Resolução da ONU, que foi adotada dia 27 de setembro de 2013 pelo Conselho de Segurança, tratava indiretamente da noção de que forças rebeldes como a al-Nusra também seriam obrigadas a desarmar-se: "... nenhuma parte na Síria deve usar, desenvolver, produzir, comprar, armazenar, possuir ou transferir armas [químicas]." A Resolução também exige que o Conselho de Segurança seja notificado imediatamente no caso de qualquer dos "atores não estatais" adquirirem armas químicas. Nenhum grupo foi citado nominalmente. Enquanto o governo sírio continua a processar a eliminação de seu arsenal químico, a ironia é que, depois que os agentes precursores encontrados nos arsenais do governo do presidente Bashar al-Assad tiverem sido destruídos, a Frente al-Nusra e seus aliados islâmicos talvez acabem sendo a única facção dentro da Síria com acesso aos ingredientes que produzem o gás sarin, arma estratégica sem concorrente naquela zona de guerra. Pode haver muito mais a negociar.
Em seu discurso em rede nacional de televisão sobre a Síria, dia 10 de setembro de 2013, Obama culpou fortemente o governo Assad pelo ataque de gás neurológico no subúrbio de Ghouta Leste, e deixou bem claro que estava preparado para fazer valer o alerta público que havia feito, de que qualquer uso de armas infringiria uma "linha vermelha": "O governo Assad matou com gás mais de mil pessoas – disse Obama. Sabemos que o regime de Assad foi responsável... E por isso, depois de cuidadosa deliberação, determinei que é do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos responder ao uso de armas químicas pelo governo de Assad com ataque militar focado." Obama estava indo à guerra para "confirmar" uma ameaça que fizera publicamente, mas o fazia sem saber com certeza quem fizera o quê a quem no início da manhã de 21 de setembro de 2013.
Ele citou uma lista do que parecia ser evidência bem comprovada da culpa de Assad: "Nos dias que levaram ao 21 de agosto de 2013, sabemos que o pessoal das armas químicas de Assad preparava-se para um ataque próximo à área onde misturam o gás sarin. Distribuíram máscaras de gás aos seus soldados. Dispararam foguetes de uma área controlada pelo governo na direção de 11 bairros que o regime tentava limpar de forças da oposição." A certeza de Obama, naquele momento, encontrou eco imediato em Denis McDonough, seu chefe de gabinete, que disse ao New York Times: "Ninguém com quem eu falei duvida da inteligência" que liga diretamente Assad e seu governo, aos ataques com gás sarin.
Ele citou uma lista do que parecia ser evidência bem comprovada da culpa de Assad: "Nos dias que levaram ao 21 de agosto de 2013, sabemos que o pessoal das armas químicas de Assad preparava-se para um ataque próximo à área onde misturam o gás sarin. Distribuíram máscaras de gás aos seus soldados. Dispararam foguetes de uma área controlada pelo governo na direção de 11 bairros que o regime tentava limpar de forças da oposição." A certeza de Obama, naquele momento, encontrou eco imediato em Denis McDonough, seu chefe de gabinete, que disse ao New York Times: "Ninguém com quem eu falei duvida da inteligência" que liga diretamente Assad e seu governo, aos ataques com gás sarin.
Mas em recentes entrevistas com oficiais e consultores militares e de inteligência, atuais e aposentados, descobri grave preocupação, vez ou outra até medo, em torno do que vários deles veem como deliberada manipulação de inteligência. Um oficial de inteligência de alto nível, em e-mail para um colega, chamou de "farsa" as provas que o governo estava apresentando como tais, da responsabilidade de Assad. O ataque "não foi obra do atual governo" – escreveu ele. Outro ex-funcionário sênior de inteligência disse-me que o governo Obama alterara a informação disponível – alterara o timing e a sequência dos eventos – para permitir que o presidente e seus conselheiros usassem informação recolhida dias depois do ataque, como se tivesse sido recolhida e analisada em tempo real, durante o ataque. Essa distorção, disse ele, lembrou-o do incidente no Golfo de Tonkin em 1964, quando o governo Johnson inverteu a sequência de informação interceptada pela Agência de Segurança Nacional, para assim justificar um dos primeiros ataques com bombas dos Estados Unidos contra o Vietnã do Norte. O mesmo funcionário disse que há imensa frustração nos quadros da burocracia militar e da inteligência dos Estados Unidos: "Os rapazes erguem os braços aos céus e perguntam: 'Como se pode ajudar esse cara' – Obama – se ele e o pessoal dele na Casa Branca, cada vez que se reúnem, inventam inteligência?"
As reclamações focam-se no que Washington não teve: qualquer informação antecipada da fonte presumida do ataque. A comunidade militar de inteligência há anos produz um sumário matinal, super secreto, conhecido como Morning Report, para o secretário da Defesa e o comandante do Estado-Maior das Forças Conjuntas; uma cópia é enviada para o conselheiro de Segurança Nacional e para o diretor da Inteligência Nacional. O Morning Report não inclui informação política ou econômica, mas oferece um resumo de importantes eventos militares pelo mundo, com toda a inteligência existente sobre eles. Um consultor sênior de inteligência disse-me que um pouco depois do ataque ele revisou os relatórios de 20 a 23 de agosto de 2013. Em dois dias – 20 e 21 de agosto de 2013 – não havia menção à Síria. Dia 22 de agosto de 2013, o principal item no Morning Report falava do Egito; item subsequente discutia uma mudança interna na estrutura de comando de um dos grupos rebeldes na Síria. Nada sobre uso de gás de efeito neurológico em Damasco naquele dia. Só no dia 23 de agosto de 2013 é que o sarin tornou-se questão dominante, embora centenas de fotos e vídeos do massacre já fossem virais, em questão de horas, por YouTube, Facebook e outras páginas de mídias sociais. Nesse momento, o governo não sabia mais que o público.
Obama deixou Washington dia 21 de agosto de 2013, cedo, para um frenético tour de discursos em New York e Pennsylvania; segundo o gabinete de imprensa da Casa Branca, foi informado naquele dia, mais tarde, sobre o ataque e o crescente furor na imprensa e na opinião pública. A falta de qualquer inteligência imediata ficou evidente dia 22 de agosto de 2013, quando Jen Psaki, um dos porta-vozes do Departamento de Estado, disse a repórteres: "Não conseguimos determinar conclusivamente [o uso de] armas químicas. Mas estamos focados em cada minuto de cada dia, desde que aconteceram os eventos... fazendo todo o possível ao nosso alcance, para conhecer todos os detalhes dos fatos." Dia 27 de agosto de 2013 o tom do governo endureceu, quando o secretário de imprensa de Obama, Jay Carney, disse a repórteres – sem oferecer qualquer informação específica – que qualquer sugestão de que o governo sírio não foi o responsável "é tão absurda e sem sentido quanto sugerir que o próprio ataque não aconteceu".
A ausência de alarme imediato dentro da comunidade norte-americana de inteligência demonstra que não havia inteligência sobre intenções dos sírios nos dias anteriores ao ataque. E há pelo menos dois modos pelos quais os EUA poderiam ter sabido antecipadamente: os dois foram abordados num dos documentos top secret da inteligência dos EUA divulgados em meses recentes por Edward Snowden, ex-empregado terceirizado da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos.
Dia 29 de agosto de 2013, o Washington Post publicou excertos do orçamento anual para programas da inteligência nacional, agência por agência, fornecidos por Snowden. Em consulta com o governo Obama, o jornal optou por publicar apenas uma mínima parte do documento de 178 páginas, classificado acima do mais top secret, mas resumiu e publicou uma seção relacionada a áreas-problema. Uma dessas áreas-problema era o "buraco" na cobertura de espionagem do gabinete de Assad. O documento dizia que as instalações de escuta eletrônica da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos em todo o mundo haviam "conseguido monitorar comunicações encriptadas entre altos oficiais militares sírios no início da guerra civil lá". Mas havia "uma vulnerabilidade, que as forças do presidente Bashar al-Assad aparentemente descobriram logo depois". Em outras palavras, significa que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos já não conseguia acesso às conversas dos principais comandantes militares na Síria, o que incluiria comunicações cruciais de Assad – como ordens para um ataque com gás de efeito neurológico. (Em suas falas públicas desde 21 de agosto de 2013, o governo Obama jamais disse que teria informação específica que ligasse o próprio presidente Assad aos ataques).
A matéria publicada no Post também trouxe a primeira indicação de que havia um sistema sensor secreto dentro da Síria, instalado para garantir alerta imediato de qualquer mudança no status do arsenal de armas químicas do governo. Os sensores são monitorados pelo Gabinete Nacional de Reconhecimento, a agência que controla todos os satélites de inteligência dos Estados Unidos em órbita. Segundo o resumo do Post, o Gabinete Nacional de Reconhecimento tem também a tarefa de "extrair dados de sensores plantados no solo" dentro da Síria. O ex-funcionário sênior de inteligência, que tinha conhecimento direto do programa, disse-me que os sensores do Gabinete Nacional de Reconhecimento foram plantados próximos de todos os pontos conhecidos na Síria onde há equipamento para guerra química. São concebidos para garantir monitoramento constante da movimentação das ogivas químicas armazenadas pelos militares. Mas, muito mais importante em termos de alerta precoce, é a capacidade desses sensores para alertar a inteligência dos EUA e de Israel sempre que as ogivas forem carregadas com gás sarin. (País vizinho, Israel há muito tempo monitora mudanças que haja no arsenal químico da Síria, e trabalha em íntima conexão com a inteligência dos EUA, para alertas muito rápidos.) Uma ogiva química, depois de carregada com gás sarin, tem vida útil de poucos, bem poucos dias – porque o gás começa a corroer a própria ogiva: é arma de destruição em massa do tipo "para consumir imediatamente". "O exército sírio não tem três dias para preparar um ataque químico, disse-me aquele ex-funcionário sênior de inteligência. Criamos o sistema de sensores para reação imediata, como um alarme de incêndio ou um raid aéreo de advertência. Não se pode pensar em alarme para dali a três dias, porque todos os envolvidos já estariam mortos. É já, ou você virou história. Ninguém passa três dias preparando-se para disparar gás de efeito neurológico." E nenhum sensor detectou qualquer movimento nos meses e dias antes de 21 de agosto de 2013, disse aquele ex-funcionário sênior da inteligência. É claro que é possível que osarin tenha sido fornecido por outros meios ao exército sírio, mas a ausência de qualquer sinal de alarme significou que Washington não conseguira monitorar os eventos de Ghouta Leste enquanto se desenrolavam.
Os sensores, antes, já funcionaram, como os comandantes sírios sabem muito bem. Em dezembro passado o sistema de sensores recolheu sinais do que parecia ser produção de gás sarin num depósito de armas químicas. No primeiro momento, não se pôde saber se o movimento indicava exercícios do exército sírio, para treinamento (todos os exércitos do mundo fazem esse tipo de exercício “químico”, ou se haveria algum ataque real em preparação. Na ocasião, Obama preveniu publicamente a Síria de que o uso de gás sarin seria “totalmente inaceitável”; e mensagem semelhante foi encaminhada por vias diplomáticas. O evento era parte de exercícios, como adiante se confirmou, segundo o ex-funcionário sênior de inteligência: "Se o que os sensores viram em dezembro passado era tão importante que o presidente teve de dizer que parassem, por que o presidente Obama não fez exatamente o mesmo, três dias antes do ataque com gás, em agosto?"
É claro que a Agência de Segurança Nacional monitoraria o gabinete de Assad 24 horas por dia, todos os dias, disse o mesmo ex-funcionário. Outras comunicações – de várias unidades de combate dentro da Síria – sempre serão de longe muito menos importantes e não são analisadas em tempo real. "Há literalmente milhares de rádio frequências táticas usadas por unidades de campo na Síria para comunicações comuns de rotina– disse ele – e seria necessário um número imenso de técnicos em decriptação para ouvir tudo – e o retorno aproveitável seria zero."
Mas essa "conversa" é rotineiramente arquivada em computadores. Tão logo se entendeu a escala dos eventos de 21 de agosto de 2013, a Agência de Segurança Nacional montou um vasto esforço de busca de qualquer informe relacionável ao ataque, trabalhando no arquivo geral de comunicações arquivadas. Selecionaram-se uma ou duas palavras chaves e aplicou-se um filtro para separar as conversações relevantes. "O que aconteceu aqui é que o pessoal da Agência de Segurança Nacional começou com um evento – o uso de gás sarin – e saiu à procura de conversas que parecessem ter relação com aquele evento – disse o ex-funcionário." Isso não leva a avaliação muito confiável, a menos que você assuma como verdade indiscutível que Bashar Assad ordenou o ataque e saia à procura de qualquer coisa em que apoiar seu pressuposto inicial. Essa busca só pelos feijões "que interessam" foi similar ao processo usado para justificar a guerra do Iraque.
*
A Casa Branca precisou de nove dias para montar o seu caso contra o governo sírio. Em 30 de agosto de 2013 convidou um grupo seleto de jornalistas de Washington (pelo menos um repórter crítico, Jonathan Landay, correspondente de segurança nacional da rede McClatchy Newspapers, não foi convidado), aos quais entregou um documento cuidadosamente rotulado como "uma avaliação feita pelo governo", em vez de avaliação feita pela comunidade de inteligência. O documento expunha o que, na essência, não passava de argumento político para inflar o caso do governo Obama contra o governo Assad. Mas era mais específico do que Obama seria adiante, em seu discurso de 10 de setembro de 2013: a inteligência dos Estados Unidos, disse ele, sabia que a Síria "começou a preparar munição química" três dias antes do ataque. Em discurso agressivo, naquele mesmo dia, John Kerry deu mais detalhes. Disse que "pessoal sírio de armas químicas estava em solo na área, fazendo preparativos" no dia 18 de agosto de 2013. "Sabemos que elementos do governo sírio receberam ordens para preparar-se para o ataque, vestindo máscaras contra gases e tomando precauções associadas a armas químicas". A avaliação pelo governo e os comentários de Kerry fizeram parecer que o governo estivera acompanhando o ataque com sarin enquanto acontecia. Essa versão dos eventos, falsa, mas que não foi desmentida, foi fartamente reproduzida e noticiada naquele momento.
Uma reação não prevista veio sob a forma de reclamações da liderança do Exército Sírio Livre e outros, indignados por não terem sido prevenidos. "É inacreditável que não tenham alertado as pessoas, nem tentado deter os criminosos antes do crime" – disse à Foreign Policy, Razan Zaitouneh, membro da oposição, que vivia numa das cidades atingidas pelo gás sarin. O Daily Mail foi mais incisivo: "O relatório da Inteligência diz que os funcionários dos Estados Unidos sabiam sobre o ataque com gás sarin na Síria, três dias antes de o gás matar mais de 1.400 pessoas – inclusive mais de 400 crianças." (O número de mortes pelo ataque varia muito, de pelo menos 1.429, como disse inicialmente o governo Obama, a número bem inferior. Um grupo sírio de direitos humanos relatou 502 mortos; Médicos sem Fronteiras falam de 355; e matéria francesa listou 281 mortos. O número espantosamente preciso de que os Estados Unidos falaram, como disse mais tarde o Wall Street Journal, foi baseado não em alguma contagem real de corpos, mas numa extrapolação feita por analistas da Agência Central de Inteligência (CIA), que escanearam mais de cem vídeos de YouTube de Ghouta Leste num sistema de computação à procura de imagens de mortos. Em outras palavras: foi pouco mais que simples palpite).
Cinco dias depois, um porta-voz do Gabinete do Diretor da Inteligência respondeu às reclamações. Declaração à Associated Press dizia que a inteligência na qual se apoiaram as primeiras declarações do governo ainda não era conhecida no momento do ataque; que fora recuperada só subsequentemente: "Sejamos claros: os Estados Unidos não estavam vigiando, em tempo integral, quando aconteceu esse horrível ataque. A comunidade de inteligência conseguiu reunir e analisar informação depois do fato, e determinar que elementos do regime Assad, sim, deram passos para preparar-se antes de usar armas químicas." Mas, dado que a imprensa-empresa norte-americana já tinha a história à qual se agarrar, deu-se rala atenção à retratação. Dia 31 de agosto de 2013, o Washington Post, repetindo a avaliação do governo, noticiou com destaque, na primeira página, que a inteligência norte-americana conseguira gravar “cada passo” do ataque pelo Exército Sírio em tempo real, "das extensivas preparações para o lançamento dos foguetes, até as avaliações posteriores por oficiais sírios". O Post não publicou a retratação distribuída pela AP. Assim, a Casa Branca manteve o controle sobre a narrativa.
Portanto, quando Obama disse, dia 10 de setembro de 2013, que seu governo sabia que o pessoal de Assad preparara o ataque, baseava sua fala não em inteligência interceptada enquanto acontecia, mas em comunicações analisadas dias depois de 21 de agosto de 2013. O ex-funcionário sênior explicou que a caça por conversa "que interessasse" voltou ao exercício detectado em dezembro, sobre a qual, como Obama disse depois publicamente, o Exército Sírio mobilizara pessoal das armas químicas e distribuíra máscaras entre os soldados. A avaliação distribuída pela Casa Branca e a fala de Obama nada tinham, em dezembro, a ver com os específicos eventos que levaram ao ataque do dia 21 de agosto de 2013; eram simples reprodução do que os militares sírios fariam no caso de algum ataque químico. "Requentaram uma história já passada – disse o ex-funcionário sênior – e há muitas peças e partes diferentes. O modelo que usaram foi o modelo de dezembro." É possível, é claro, que Obama não soubesse que aquele relato havia sido obtido de uma análise dos manuais e protocolos sírio a serem usados para ataque com gás, e não eram conclusão a partir de provas reais de eventos reais. Fosse como fosse, Obama analisou precipitadamente, temerariamente, e só superficialmente, as (nenhuma) provas que lhe exibiram.
Toda a imprensa entrou no mesmo jogo e o manteve pautado. O relatório da ONU de 16/9, confirmando o uso de sarin, foi suficientemente cauteloso; observou que o acesso de seus investigadores aos sítios dos ataques, que só aconteceu cinco dias depois, fora controlado por forças rebeldes. "Como com outros sítios – dizia o relatório – as locações foram pisoteadas por outros indivíduos antes da chegada da missão (...).Durante o tempo que passamos nessas locações, chegavam indivíduos carregando munição suspeita, indicado que provas potenciais estejam sendo retiradas e possivelmente manipuladas." Apesar disso tudo, o New York Times avaliou o relatório, como o avaliaram oficiais britânicos e norte-americanos, e disseram que ali havia provas cruciais em apoio ao que dizia o governo. Um anexo ao relatório da ONU reproduzia fotografias publicadas em YouTube de munição recolhida, inclusive um foguete que “sugestivamente combina” com as especificações de munição de artilharia de 330mm de calibre. O New York Times escreveu que a existência dos foguetes provaria, essencialmente, que o governo sírio foi responsável pelo ataque, “porque a arma em questão não havia sido documentada nem relatada como pertencente à insurgência”.
Theodore Postol, professor de tecnologia e segurança nacional no MIT, revistou, trabalhando com um grupo de colegas especialistas, as fotos feitas pelos inspetores da ONU, e concluíram que o foguete de grande calibre eram munição improvisada de fabricação, provavelmente, local. Disse-me que seria “algo que se pode fabricar num ateliê modesto de ferramentaria”. O foguete nas fotos, acrescentou, absolutamente não satisfaz as especificações de foguete similar, embora menor, que se sabe que existe no arsenal sírio. O New York Times, mais uma vez confiando nos dados do relatório da ONU, também analisou a linha de voo de dois foguetes disparados, os quais se supõe que tenham transportado sarin, e concluiu que o ângulo de descida “aponta diretamente” para provar que foram lançados de uma base síria localizada a mais de 9 km da zona de aterrissagem. Postol, que trabalhou como conselheiro científico do chefe de operações navais no Pentágono, disse que as asserções no Times e noutras publicações “não se baseiam em observação real”. Concluiu que as análises da linha de voo, sobretudo, são, como escreveu num e-mail, “totalmente doidas”, porque estudo aprofundado comprovou que “não há qualquer evidência, e nada sugere” que o alcance dos foguetes improvisados fosse superior a dois quilômetros. Postol e um colega, Richard M. Lloyd, publicaram uma análise duas semanas depois de 21/8, no qual avaliavam, corretamente, que os foguetes envolvidos carregavam quantidade de sarin muito superior à estimada antes. O Times noticiou extensamente essa análise, apresentando Postol e Lloyd como “importantes especialistas em armas”. O mais recente estudo dos dois sobre o alcance e a rota de voo dos foguetes, que desmente matéria anterior do Times, foi enviado por e-mail ao jornal na semana passada; até essa data, ainda não foi nem comentado nem publicado.
*
A falsa interpretação que a Casa Branca deu ao que sabia sobre o ataque, e quando soube, correspondeu à rapidez com que ignorou toda a inteligência que poderia minar sua narrativa: a informação sobre a Frente al-Nusra, o grupo islamista rebelde que Estados Unidos e ONU classificaram como organização terrorista. A Frente Al-Nusra é conhecida por ter executado muitos ataques de suicidas-bombas contra cristãos e outras seitas muçulmanas não sunitas dentro da Síria, e por ter atacado também seu aliado nominal na guerra civil, o secular Exército Sírio Livre. O seu objetivo declarado é derrubar o governo de Assad e estabelecer a Lei da Xaria. (Dia 25 de setembro de 2013, a frente al-Nusra uniu-se a outros grupos de islâmicos rebeldes, para repudiarem o Exército Sírio Livre e também outra facção secular, a Coalizão Nacional Síria).
A onda de interesse norte-americano na Frente al-Nusra e no gás sarin começou de uma série de ataques químicos de pequena escala em março e abril; naquele momento, o governo sírio e os rebeldes insistiam, cada um, que o responsável era o outro. Por fim, a ONU concluiu que quatro ataques químicos, sim, haviam acontecido; mas não atribuiu a responsabilidade a nenhum dos lados. Um funcionário da Casa Branca disse à imprensa no final de abril que a comunidade de inteligência avaliara “com variáveis graus de certeza” que o governo sírio fora responsável pelos ataques. Assad, sim, havia transgredido a “linha vermelha” de Obama. A avaliação de abril ganhou manchetes, mas detalhes muito significativos perderam-se no processo. Um funcionário não identificado que coordenava obriefing reconheceu que as avaliações da comunidade de inteligência: "(...) não só, só elas, suficientes. Queremos – disse ele – investigar acima e além dessas avaliações da inteligência, para reunir os fatos de modo a podermos estabelecer um conjunto confiável e comprovável de informação que possa embasar então nossa tomada de decisão." Em outras palavras, a Casa Branca não tinha nenhuma prova direta do envolvimento do Exército Sírio ou do governo do presidente Bashar al-Assad, fato que só muito ocasionalmente apareceu registrado na cobertura oferecida pela imprensa-empresa. E a conversa “durona” de Obama funcionou bem com a opinião pública e o Congresso, que via Assad como assassino cruel e sanguinário.
Dois meses depois, uma declaração da Casa Branca anunciou mudança na avaliação da culpabilidade síria; e declarou que a comunidade de inteligência, agora, tinha “alta certeza” de que o governo Assad fora responsável pelas 150 mortes nos ataques com sarin. Mais e mais manchetes foram geradas e a imprensa-empresa foi informada de que Obama, em resposta à nova inteligência, havia ordenado em ajuda não letal à oposição síria. Não se ofereciam detalhes, nem se identificavam os detalhes nos quais se baseava a matéria. A declaração da Casa Branca dizia que análises laboratoriais confirmaram o uso de sarin, mas que prova positiva da presença de sarin “nada diz sobre como os indivíduos foram expostos ou sobre quem foi o responsável pela disseminação”. A Casa Branca também declarou que: "Não temos relatório confiável provado, que indique que a oposição na Síria adquiriu ou usou armas químicas." A declaração acima contrariava as provas que, naquele momento, fluíam em quantidade para as agências de inteligência dos EUA.
Já no final de maio, o ex-funcionário sênior da inteligência contou-me, a CIA já levara ao conhecimento do governo Obama o que se sabia sobre a Frente al-Nusra e seu trabalho com sarin; e enviara relatórios alarmantes de que outro grupo sunita fundamentalista ativo na Síria – al-Qaeda in Iraq (AQI) – também já dominava o processo de produzir sarin. Naquele momento, a Frente Al-Nusra estava operando em áreas próximas de Damasco, incluindo Goutha do Leste. Documento da inteligência distribuído em meados do verão tratava longamente de Ziyaad Tariq Ahmed, especialista em armas químicas dos militares iraquianos, que ter-se-ia mudado para a Síria e que estaria operando em Ghouta Leste. O consultor disse-me que Tariq havia sido identificado como “um sujeito da al-Nusra, com currículo de ter preparado gás mostarda no Iraque e homem que está implicado na produção e uso do gás sarin”. Os militares dos EUA o consideram alvo “de alto valor”.
Dia 20/6, um telegrama top secret de quatro páginas, reunindo tudo o que se sabia sobre as capacidades da al-Nusra para produzir/usar gás sarin, foi passado para David R. Shedd, vice-diretor da Agência de Inteligência da Defesa. "O que passaram para Shedd foi informação ampla e extensa – disse o consultor. Não foi um punhado de 'acreditamos que'". O mesmo consultor disse-me que esse telegrama não dizia nem sugeria que nem os rebeldes nem o Exército Sírio teriam iniciado os ataques em março e abril; mas, sim, confirmava relatórios anteriores de que a Frente al-Nusra tinha meios e competências para comprar e usar gás sarin. Uma amostra do sarin que havia sido usado também fora recuperada – com a ajuda de um agente israelense – mas, segundo o consultor com o qual falei, não há nenhuma referência à amostra, naquele telegrama nem em outros.
Independentemente dessas avaliações, o Estado-Maior das Forças Conjuntas dos EUA, sob a pressuposição de que soldados dos EUA poderiam ser mandados à Síria para capturar o estoque de agentes químicos, requereu uma análise de todas as fontes, sobre a ameaça potencial. "A Ordem de Operação é base para a execução de operação militar, se for ordenada – explicou-me o ex-funcionário sênior da inteligência. – Inclui a possível necessidade de mandar soldados dos EUA para um sítio químico na Síria, para impedir que seja tomado por rebeldes. Se os rebeldes jihadistas estivessem prestes a tomar o sítio químico, os EUA pressupúnhamos que Assad não lutaria contra nós porque estaríamos protegendo os [produtos] químicos de serem capturados pelos rebeldes." "Todas as Ordens de Operação contêm um item que trata de alguma específica ameaça de inteligência. Tínhamos analistas da CIA, da Agência de Inteligência da Defesa, especialistas em armas e gente de “I & W” trabalhando naquele problema... Concluíram que as forças rebeldes eram capazes de atacar com gás sarin uma força dos EUA, porque sabiam e podiam produzir o gás letal. O exame fora feito a partir de sinais e de inteligência humana, e considerava também intenções manifestas e a capacidade técnica comprovada dos rebeldes."
Há provas de que durante o verão alguns membros do Comando do Estado-Maior das Forças Conjuntas dos EUA estavam preocupados ante a possibilidade de invasão por terra à Síria, e pelo desejo manifesto de Obama de oferecer apoio não letal a facções rebeldes. Em julho, o general Martin Dempsey, comandante do Estado-Maior das Forças Conjuntas, apresentou avaliação sombria e disse à Comissão de Serviços Armados do Senado, em audiência pública, que “milhares de forças de operações especiais e outras forças de terra” serão necessárias para tomar todo o arsenal químico da Síria, extremamente disperso, além de “centenas de aviões, barcos, submarinos e outros tipos de veículos”. Estimativas do Pentágono falam em cerca de 70 mil soldados necessários nessa operação, em parte porque as forças dos EUA teriam de proteger também a frota de foguetes sírios: capturar grandes volumes dos produtos químicos que produzem gás sarin, sem ter os meios para lançar o gás, pouca utilidade teria para alguma força rebelde. Numa carta para o senador Carl Levin, Dempsey alerta que qualquer decisão de capturar o arsenal sírio traria consequências não desejadas: "Ao longo dos últimos dez anos, aprendemos porém que não basta simplesmente alterar o equilíbrio do poder militar, sem considerar atenta e cuidadosamente o que é necessário para preservar o funcionamento do estado (...) Se as instituições do regime entrarem em colapso na ausência de qualquer oposição viável, podemos acabar, inadvertidamente, empoderando extremistas ou lançando em operação as mesmas armas químicas que estamos tentando controlar."
Consultada sobre essa carta, a CIA preferiu não se manifestar. Porta-vozes da Agência de Inteligência da Defesa e do Gabinete do Diretor da Inteligência Nacional disseram que não sabiam do relatório enviado a Shedd; depois de receber os dados de identificação do telegrama, enviados por nós, disseram que não haviam localizado o telegrama. Shawn Turner, relações públicas do Gabinete do Diretor da Inteligência Nacional, disse que nenhuma agência de inteligência dos EUA, incluída a Agência de Inteligência da Defesa, “avalia que a Frente al-Nusra tenha conseguido desenvolver alguma capacidade para produzir gás sarin”.
Os funcionários de Relações Públicas do governo Obama não estão tão preocupados com o potencial militar da Frente al-Nusra quanto Shedd nas suas declarações públicas. No final de julho, Shedd apresentou relatório alarmante da força da Frente al-Nusra, durante o Aspen Security Forum, no Colorado. “Contabilizo nada menos que 1.200 diferentes grupos na oposição [ao governo de Bashar Al-Assad]” – disse Shedd, como se ouve nas gravações de sua conferência. E dentro da oposição, a Frente al-Nusra é a mais efetiva e está ganhando força. Isso, disse Shedd, é motivo de grave preocupação para nós. Se essa força for deixada agir sem qualquer oposição, temo muito que os elementos mais radicais – e citou também o grupo al-Qaeda in Iraq –prevaleçam. A guerra civil - ele continuou - só ficará cada vez pior ao longo do tempo (...) Há inominável violência ainda por vir. Shedd não fez qualquer referência a armas químicas em sua fala, porque, de fato, não podia: os relatórios que seu gabinete recebera eram todos ultra top secret.
*
Uma série de despachos secretos vindos da Síria durante o verão relatavam que membros do Exército Sírio Livre andavam reclamando a agentes da inteligência dos Estados Unidos sobre repetidos ataques que estavam sofrendo de combatentes da Frente al-Nusra e da al-Qaeda. Os relatórios, segundo o consultor sênior de inteligência com o qual falamos e que leu aqueles relatórios, traziam provas de que o Exército Sírio Livre estava "mais preocupado com aqueles doidos do que com o governo de Assad". O Exército Sírio Livre é formado em grande parte por desertores do exército sírio. O governo Obama, empenhado em derrubar Assad e em manter o apoio aos rebeldes, procurou, em todas as falas públicas a partir do ataque [com gás sarin], apagar a influência das facções salafistas e wahhabistas. No início de setembro, John Kerry disse, estupefato, em uma audiência no Congresso, que a Frente al-Nusra e outros grupos islâmicos seriam minoria na oposição síria. Mais tarde ele retirou o que dissera.
Em todos as suas falas públicas e privadas depois do dia 21 de agosto de 2013, o governo Obama desconsiderou toda a inteligência que havia sobre a possibilidade real de que a Frente al-Nusra tivesse acesso possível ao gás sarin; e continuou a afirmar que só o governo Assad teria armas químicas. Essa foi a mensagem que se lia nos vários memorandos secretos distribuídos aos membros do Congresso nos dias depois do ataque, quando Obama tentava obter apoio para sua planejada ofensiva aérea contra instalações dos militares sírios. Um deputado, com mais de duas décadas de experiência em questões militares, disse-me que concluiu a leitura de um daqueles memorandos secretos absolutamente convencido de que "só o governo de Assad, não os rebeldes, tinham gás sarin".
Assim também, depois da divulgação do relatório da ONU, dia 16 de setembro de 2013, confirmando que havia sido usado gás sarin no ataque de 21 de agosto de 2013, Samantha Power, embaixadora dos Estados Unidos à ONU, disse, numa conferência de imprensa: "É muito importante observar que só o governo [de Assad] possui sarin, e que não temos prova de que a oposição possua sarin." Não se sabe se os relatórios altamente classificada sobre a Frente al-Nusra chegaram ao gabinete de Power, mas o comentário dela é reflexo da atitude que, então, se via em todo o governo Obama. "A conclusão imediata e geral era que Assad fizera tudo" – disse-me o ex-funcionário sênior de inteligência. – "O novo diretor da CIA, [John] Brennan, pula sobre essa conclusão" corre até a Casa Branca e diz: 'Vejam o que consegui!'. Foi tudo verbal; eles só tinham, de prova, as camisas manchadas de sangue. Houve muita pressão para arrastar Obama à mesa, para ajudar os rebeldes, e havia uma ilusão de que que isso [ligar Assad ao ataque com sarin] forçaria a mão de Obama: 'É o telegrama Zimmermann da rebelião síria! E agora Obama pode reagir'. Pura ilusão, na ala Samantha Power dentro do governo Obama. Infelizmente, alguns dos comandantes do Estado-Maior que foram alertados de que Obama preparava-se para atacar não tinham certeza de que era uma coisa boa."
O proposto ataque com mísseis norte-americanos contra a Síria jamais recebeu apoio da opinião pública; e Obama rapidamente mudou de ideia e agarrou-se à ONU e à proposta dos russos, a favor do desmantelamento dos arsenais químicos sírios. Qualquer possibilidade de ação militar foi afinal definitivamente descartada dia 26 de setembro de 2013, quando o governo Obama acompanhou o voto da Rússia e aprovou projeto de resolução da ONU que pedia que o governo Assad se livrasse de seu arsenal químico. O recuo de Obama trouxe alívio a vários altos comandantes militares. (Um conselheiro de alto nível de operações especiais disse-me que o mal concebido ataque de mísseis dos Estados Unidos contra instalações da Força Aérea síria e silos de mísseis sírios, como foi concebido inicialmente pela Casa Branca, teria sido "praticamente como garantir apoio aéreo próximo à Frente al-Nusra".).
A distorção que o governo Obama criou em todos os fatos que cercam o gás sarin levanta uma questão inevitável: será que afinal conhecemos toda a história do muito que Obama desejava afastar-se da "linha vermelha" que ele mesmo criara, sua ameaça de bombardear a Síria? Primeiro, disse que tinha "caso muito firme" a favor do ataque, e então, de repente, aceita entregar a decisão ao Congresso; e em seguida aceita a oferta de Assad, que se dispõe a entregar seu arsenal químico. Parece razoável e possível que, em algum momento desse processo, Obama tenha recebido informação que andava na direção contrária de tudo que a inteligência dos Estados Unidos lhe dizia: provas suficientemente fortes para convencê-lo, rapidamente, a cancelar o plano de ataque e ver-se obrigado a encarar a crítica que, sem dúvida possível, viria dos Republicanos.
A Resolução da ONU, que foi adotada dia 27 de setembro de 2013 pelo Conselho de Segurança, tratava indiretamente da noção de que forças rebeldes como a al-Nusra também seriam obrigadas a desarmar-se: "... nenhuma parte na Síria deve usar, desenvolver, produzir, comprar, armazenar, possuir ou transferir armas [químicas]." A Resolução também exige que o Conselho de Segurança seja notificado imediatamente no caso de qualquer dos "atores não estatais" adquirirem armas químicas. Nenhum grupo foi citado nominalmente. Enquanto o governo sírio continua a processar a eliminação de seu arsenal químico, a ironia é que, depois que os agentes precursores encontrados nos arsenais do governo do presidente Bashar al-Assad tiverem sido destruídos, a Frente al-Nusra e seus aliados islâmicos talvez acabem sendo a única facção dentro da Síria com acesso aos ingredientes que produzem o gás sarin, arma estratégica sem concorrente naquela zona de guerra. Pode haver muito mais a negociar.
Seymour M. Hersh
O livro de memórias de Seymour M. Hersh, Reporter, foi lançado no ano passado.




