Slavoj Žižek sobre o significado dos motins
Slavoj Žižek
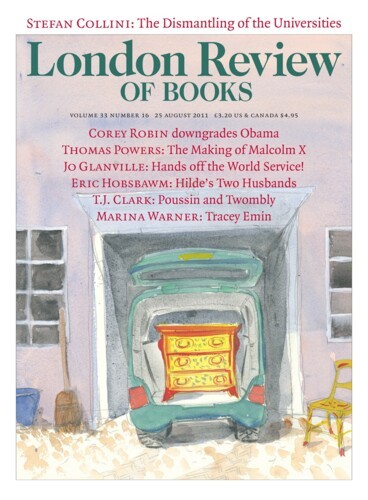 |
| Vol. 33 No. 16 · 25 August 2011 |
Tradução / A repetição, segundo Hegel, tem papel crucial na história: se alguma coisa acontece uma única vez, pode ser descartada como acidente, algo que poderia ter sido evitado se a situação tivesse sido conduzida de modo diferente; mas quando um mesmo evento repete-se, é sinal de que está em curso um processo histórico mais profundo. Quando Napoleão foi derrotado em Leipzig em 1813, pareceu má sorte; quando foi derrotado outra vez em Waterloo, ficou claro que seu tempo acabara. Vale o mesmo para a continuada crise financeira. Setembro de 2008 foi apresentado como anomalia que podia ser corrigida com melhores regulações e controles; hoje se acumulam sinais de quebradeira nas finanças e já é evidente que estamos lidando com fenômeno estrutural.
Dizem e repetem e repetem que atravessamos uma crise da dívida e que todos temos de partilhar a carga e apertar os cintos. Todos, exceto os (muito) ricos. Aumentar impostos sobre muito ricos é tabu: se se fizer isso, diz o mesmo argumento, os ricos não terão incentivo para investir, haverá menos empregos e todos sofreremos mais. A única salvação, nesses tempos duros, é os pobres ficarem cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. O que devem fazer os pobres? O que podem fazer?
Embora os tumultos de rua na Grã-Bretanha tenham sido desencadeados pela morte de Mark Duggan, todos concordam que manifestam mal-estar mais profundo – mas que tipo de mal-estar? Como quando se queimaram carros nos subúrbios de Paris em 2005, os agitadores de rua na Grã-Bretanha não tinham mensagem alguma a comunicar. (Há aí claro contraste com as manifestações massivas de estudantes em novembro de 2010, que também geraram violência. Os estudantes deixaram bem claro que rejeitavam as propostas de reformas na educação superior.) Por isso é difícil pensar sobre os agitadores de rua britânicos em termos marxistas, como uma instância da emergência do sujeito revolucionário; encaixam-se muito mais facilmente na noção hegeliana de “ralé”, “escória” [orig. “rabble”], espaços marginais organizados, que manifestam o próprio descontentamento mediante explosões “irracionais” de violência destrutiva – que Hegel chamava de “negatividade abstrata”.
Há uma velha história sobre um operário suspeito de roubo: todas as tardes, ao sair da fábrica, o carrinho-de-mão que ele empurra é cuidadosamente revistado. Os guardas nada encontram; o carrinho está sempre limpo. Até que a ficha cai: o operário roubava um carrinho-de-mão por dia. Os guardas não viam a mais visível verdade, exatamente como os jornalistas e especialistas e autoridades que comentaram os tumultos de rua. Dizem-nos que a desintegração dos regimes comunistas no início dos anos 1990s marcaram o fim da ideologia: o tempo dos projetos ideológicos em grande escala que culminaram em catástrofe totalitária está acabado; teríamos entrado numa nova era de política racional, pragmática. Se o lugar-comum de que vivemos numa era pós-ideológica é correto em algum sentido, pode-se ver nas recentes explosões de violência. Foi protesto de grau-zero, ação violenta sem demandas. Em sua tentativa desesperada para encontrar algum sentido nos tumultos, sociólogos e jornalistas deixaram passar sem qualquer registro o enigma que os tumultos nos impuseram.
Os que protestavam, oprimidos e socialmente excluídos de facto, não vivem risco de morrer de fome. Gente que sobrevive em condições materiais muito piores, sem falar das condições de opressão física e ideológica, tem conseguido organizar-se em forças políticas com agendas políticas claras. O fato de os agitadores não terem programa é, portanto, ele mesmo, fato que exige interpretação: diz muito sobre nossa pregação político-ideológica e sobre o tipo de sociedade em que vivemos – uma sociedade que celebra a escolha, mas na qual a única escolha possível é um consenso democrático obrigatório praticado como repetição sem pensamento [ing. a blind acting out].
Nenhuma oposição ao sistema consegue articular-se como alternativa realista, sequer como projeto utópico, e só consegue assumir a forma de explosão sem meta ou significado. O que significaria nossa tão celebrada liberdade para escolher, se a única escolha possível é jogar pelas regras ou a violência (auto) destrutiva?
Alain Badiou argumentou que vivemos num espaço social que cada dia mais é experienciado como “sem mundo” [orig, “worldless”]: nesse espaço, a única forma que o protesto pode assumir é a violência sem sentido.
Talvez aí esteja um dos principais perigos do capitalismo: embora, porque é global, o capitalismo inclua todo o mundo, ele mantém uma constelação ideológica “sem mundo”, na qual as pessoas são privadas dos meios conhecidos para localizar o significado. A lição principal da globalização é que o capitalismo pode acomodar-se a todas as civilizações, cristã, hindu ou budista, do Ocidente e do Oriente: não há qualquer “visão de mundo capitalista”, nenhuma “civilização capitalista” propriamente dita. A dimensão global do capitalismo manifesta a verdade sem significado.
A primeira conclusão a ser extraída dos tumultos de rua, portanto, é que nenhuma das reações aos tumultos, seja a conservadora seja a liberal, é adequada.
A reação conservadora era previsível: não há o que justifique tal vandalismo; é preciso usar os meios necessários para restaurar a ordem; para evitar que explosões como aquelas se repitam no futuro, precisamos, não de mais tolerância e ajuda social, mas de mais disciplina, mais trabalho duro e senso de responsabilidade.
O que há de errado nessa narrativa não é só que ela ignora a situação social de desespero que empurra os jovens para explosões de violência, mas e, talvez mais importante, que ela ignora o modo como essas explosões são eco das próprias premissas ocultas da ideologia conservadora. Quando, nos anos 1990s, os Conservadores lançaram sua campanha de “de volta ao básico”, o complemento obsceno que aí havia foi bem claramente revelado por Norman Tebbitt: “O homem não é só animal social, também é animal territorial; é indispensável incluir em nossa agenda a necessidade de satisfazer esses instintos humanos básicos de tribalismo e de territorialidade”. Porque aquela “volta ao básico” tratava, realmente, disso: de soltar os bárbaros que vegetam por baixo de nossa sociedade burguesa aparentemente civilizada, satisfazendo os “instintos básicos” dos bárbaros.
Nos anos 1960s, Herbert Marcuse introduziu o conceito de “dessublimação repressiva”, para explicar a “revolução sexual”: os impulsos humanos podem ser dessublimados, ganhar rédea solta, e, mesmo assim, permanecer submetidos aos controles capitalistas – vide a indústria pornográfica [e as novelas e programas humorísticos da televisão brasileira (NTs)]. Nas ruas britânicas, durante os tumultos, o que se viu não foram homens reduzidos a “bestas”, mas a forma nua da “besta” produzida pela ideologia capitalista.
Por sua vez, os liberais de esquerda, não menos previsíveis, agarraram-se ao seu mantra sobre programas sociais e iniciativas de integração, as quais, negligenciadas, teriam privado a segunda e terceira gerações dos imigrantes de suas possibilidades econômicas e sociais: explosões de violência seriam o único meio que ainda têm para articular a insatisfação. Em vez de nos permitir embarcar indulgentemente em fantasias de vingança, devemos nos esforçar para entender as causas profundas dos atos de violência. Saberíamos nós o que significa ser jovem em área pobre racialmente “complexa”, ser considerado suspeito a priori nas batidas policiais, sempre agredido por policiais, não só desempregado, mas muitas vezes, inimpregável, sem esperanças de futuro? A implicação é que as próprias condições em que essas pessoas encontram-se tornariam inevitável que tomassem as ruas.
O problema dessa narrativa é que só lista as condições objetivas dos tumultos. “Agitar”, “tumultuar” seria fazer uma declaração subjetiva, declarar implicitamente como alguém se relaciona com as próprias condições objetivas de vida.
Vivemos tempos cínicos. Não é difícil imaginar um agitador que, apanhado quando saqueava e incendiava uma loja e interrogado sobre suas razões, responda usando a linguagem dos sociólogos e assistentes sociais: que fale de menor mobilidade social, insegurança crescente, desintegração da autoridade paterna, carência de atenção materna na infância. Ele sabe, portanto o que faz, mas mesmo assim faz.
É perda de tempo ponderar qual dessas duas reações, a conservadora ou a liberal, é a pior: como Stálin diria, as duas são piores, e isso inclui o alerta que os dois lados dão, de que o real perigo dessas explosões está na previsível reação racista da “maioria silenciosa”.
Uma das formas que essa reação assumiu em Londres foi a atividade “tribal” de comunidades locais (turcos, caribenhos, sikhs), que rapidamente organizaram unidades por “tribos” para vigiar suas propriedades. Os donos de lojas seriam uma pequena burguesia que defende sua propriedade contra um genuíno, embora violento, protesto contra o sistema? Ou seriam representantes da classe trabalhadora combatendo contra forças da desintegração social? Também nesse caso, deve-se rejeitar a ordem para escolher um dos lados.
A verdade é que o conflito aconteceu entre dois pólos de oprimidos: os que tiveram sucesso e conseguiram operar dentro do sistema versus os frustrados demais para continuar tentando. A violência dos agitadores foi dirigida quase exclusivamente contra seus respectivos grupos. Os carros queimados e as lojas saqueadas não foram queimados e saqueadas em bairros ricos, mas nos próprios bairros onde vivem os incendiadores e saqueadores. Não há conflito entre diferentes partes da sociedade; o conflito é, no seu aspecto mais radical, entre sociedade e sociedade, entre os que têm tudo e os que nada têm, a perder; os que nada apostaram na própria comunidade e os que fizeram as mais altas apostas.
Zygmunt Bauman caracterizou os tumultos como “atos de consumidores defeituosos e não qualificados”: sobretudo, foi manifestação de um desejo consumista atuado [orig. enacted] quando incapaz de realizar-se do modo “certo” – mediante um ato de compra. Nessa medida, os tumultos também contêm um momento de protesto genuíno, sob a forma de resposta irônica à ideologia do consumo: “Vocês nos convocam para consumir e, simultaneamente, nos negam os meios para consumir do jeito “certo”. – Estamos consumindo, do único modo possível para nós!”
Os tumultos são demonstração da força material da ideologia – excessiva, talvez, em tempos de ‘sociedade pós-ideológica’. De um ponto de vista ideológico, o problema dos tumultos não está na violência como tal, mas no fato de que a violência não é verdadeiramente autoafirmativa. São raiva e desespero impotentes mascarados como exibição de força: é inveja travestida de carnaval triunfante.
Os tumultos devem ser situados também em relação a outro tipo de violência que a maioria liberal percebe hoje como ameaça ao nosso modo de vida: os ataques terroristas e os suicidas-bomba. Nas duas instâncias, violência e contraviolência são apanhadas num círculo vicioso, as duas gerando as mesmas forças que tentam derrotar. Nos dois casos, estamos lidando com passages à l’acte [fr. no original] cegas, nas quais a violência é admissão implícita de impotência. A diferença é que, ao contrário dos tumultos na Grã-Bretanha ou em Paris, os ataques terroristas são postos a serviço de um significado – o Significado absoluto que a religião assegura.
Mas os levantes árabes não foram ato coletivo de resistência que rejeitaram a falsa alternativa entre violência autodestrutiva e fundamentalismo religioso? Infelizmente, o verão egípcio de 2011 será lembrado como o fim da revolução, quando seu potencial emancipatório foi sufocado. Os coveiros são o exército e os islâmicos. Os contornos do pacto entre o exército (que é o exército de Mubarak) e os islâmicos (que foram marginalizados durante os primeiros meses do levante, mas agora estão ganhando terreno) são cada dia mais claros: os islâmicos tolerarão os privilégios materiais do exército e, em troca, garantirão a hegemonia ideológica. Os perdedores serão os liberais pró-ocidente, fracos demais – apesar do dinheiro da CIA – para “promover a democracia”; e os verdadeiros agentes dos levantes da primavera, uma emergente esquerda secular que tentava montar uma rede de organizações da sociedade civil, a partir dos sindicatos e das feministas.
A situação econômica em rápida deterioração, logo, mais cedo ou mais tarde, levará os pobres, grandes ausentes dos levantes da primavera árabe, às ruas. É bem provável que haja nova explosão, e a pergunta difícil para os sujeitos políticos egípcios é: quem dirigirá, com sucesso, a ira dos pobres? Quem traduzirá essa ira em termos de programa político: a nova esquerda secular ou os islâmicos?
A reação predominante na opinião pública ocidental ao pacto entre islâmicos e o exército no Egito será, sem dúvida, um show de cinismo: nos dirão que, como o caso do Irã (não árabe) mostrou claramente, levantes populares em países árabes sempre terminam em islamismo militante. Mubarak aparecerá como diabo muito menos perigoso – melhor ficar com diabo conhecido que lidar com forças de emancipação. Contra tal cinismo, é preciso permanecer incondicionalmente aliado ao núcleo radical-emancipatório do levante egípcio.
Mas é preciso evitar também o narcisismo da causa perdida: é muito fácil admirar a beleza sublime dos levantes condenados ao fracasso.
Hoje, a esquerda enfrenta o problema da “negação determinada” [orig. “determinate negation”]: que nova ordem deve substituir a velha ordem, depois do levante, quando houver passado o sublime entusiasmo do primeiro momento? Nesse contexto, o manifesto dos Indignados da Espanha, lançado depois das manifestações em maio, é revelador. O primeiro traço que chama a atenção é o decidido tom apolítico: “Uns de nós consideram-se progressistas, outros conservadores. Uns são religiosos crentes, outros não. Uns têm ideologias claramente definidas, outros são apolíticos, mas todos estamos preocupados e zangados com o quadro político, econômico e social que vemos à nossa volta: corrupção de políticos, empresários, banqueiros, que nos deixam indefesos, sem voz.” Protestam em nome de “verdades inalienáveis que não vemos respeitadas em nossa sociedade: o direito a moradia, emprego, cultura, saúde, participação política, livre desenvolvimento pessoal, direitos do consumidor e a uma vida saudável e feliz”. Rejeitando a violência, clamam por uma “revolução ética”. “Em vez de pôr o dinheiro acima dos seres humanos, devemos pô-lo a nosso serviço. Somos pessoas, não produtos. Não sou o que compro, porque compro ou de quem compro.”
Quem serão os agentes dessa revolução? Os Indignados espanhóis descartam todos os políticos, à esquerda e à direita, como corruptos e controlados pela ganância e pela sede de poder. Mesmo assim, o manifesto apresenta várias demandas, mas... dirigidas a quem? Não a eles mesmos: os Indignados (ainda) não declaram que ninguém mais fará por eles, que eles mesmos têm de ser a mudança que querem ver.
E aí está a fragilidade fatal dos recentes protestos: manifestam uma raiva autêntica que não consegue transformar-se em programa de ação positiva para mudança sociopolítica. Manifestam um espírito de revolta, sem revolução.
A situação na Grécia parece mais promissora, provavelmente devido a uma tradição mais persistente de auto-organização progressista (que desapareceu na Espanha depois da queda do regime de Franco). Mas mesmo na Grécia o movimento de protesto padece das limitações da auto-organização: os que protestam estão mantendo um espaço de liberdade igualitária sem autoridade central, um espaço público no qual todos têm o mesmo tempo para falar etc.
Quando os manifestantes começaram a discutir o passo seguinte, como avançar além dos simples protestos, a maioria concluiu que não se precisava de novo partido e que não era o caso de tentar tomar o poder do estado; que o movimento faria pressão sobre os partidos políticos. Evidentemente, é muito pouco para forçar uma reorganização de toda a vida social. Para chegar lá, é indispensável um corpo forte, competente para tomar decisões rápidas e implementá-las com todo o rigor necessário.



