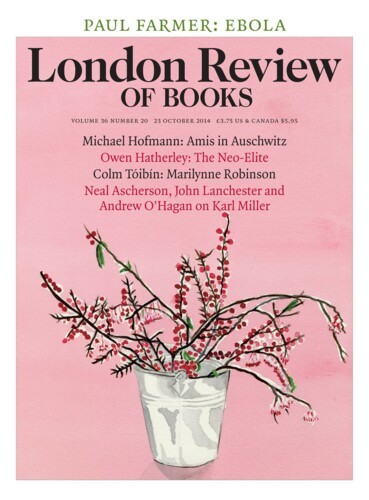London Review of Books
Tradução / Há algumas semanas, caminhei da Bastille à rue Saint-Antoine, em Paris, pensando em como as últimas décadas se vingaram tão rápido do seu passado. O espetáculo que hoje obscurece qualquer outro na França é o colapso da civilização política cujas fundações remontam a 1789. A França radical – sua intelligentsia, seus partidos políticos, seu cinema e sua imprensa – sofre um processo de neoliberalização. O editorial manifesto de Jean-Marie Colombani sobre o 11 de Setembro de 2001 no Le Monde – “Nous sommes tous Américains” (“Somos todos americanos”) – acabou por ser uma profecia. Será possível que a memória histórica do país seja em breve apagada e os célebres anos 1789, 1793, 1815, 1830, 1848, 1871, 1936 e 1968 deturpados ou esquecidos?
Os novos liberais, os historiadores François Furet e Pierre Nora, os políticos Jospin e Hollande, prepararam bem o terreno para a direita francesa. Manuel Valls, atual primeiro ministro socialista, expõe sua admiração por Tony Blair e está mano a mano com a Frente Nacional de Marine Le Pen no quesito humilhar minorias. Há algo mais que uma França de Vichy no ar, só que com muçulmanos e ciganos no lugar dos judeus.
Quantos passantes sabem que o monumento no centro da place de la Bastille homenageia os mártires da Revolução de Julho de 1830? O rei insistira em levar a cabo ordenanças impopulares, dissolvendo a recém-eleita Câmara dos Deputados, retirando os votos da classe média e suspendendo a liberdade de imprensa. Erigiram-se as barricadas. Carlos X, como outros nobres da sua linhagem que procuram asilo, fugiu para Londres, deixando para trás os corpos de mais de duzentos cidadãos, mortos na luta pela liberdade de imprensa.
Hoje a imprensa francesa está em maus lençóis. Le Figaro não é tão tendencioso como o Telegraph, mas está quase lá. Os jornais corporativistas Le Monde e Libération estão em declínio. É verdade que o Le Monde Diplomatique ainda circula todo mês, porém ao que depender de estatísticas e políticas globais, é muito ilustre e muito enfadonho para causar qualquer impacto relevante na política francesa.
O desafio à imprensa veio de um site chamado Mediapart: , lançado em 2008 para denunciar a corrupção incrustada nas instituições da Quinta República Francesa e nos partidos políticos. Ideia de Edwy Plenel, ex-editor do Le Monde, e três colegas experientes – François Bonnet (o editor), Gérard Desportes e Laurent Mauduit –, donos de uma vasta experiência e, mais importante, de uma boa lista de contatos. Com o jornalista Fabrice Arfi, eles exibem uma investigação meticulosa e completa similar a do jornalista britânico Paul Foot, na antiga revista Private Eye.
O Mediapart funciona com um modelo de assinatura: por seu primeiro euro, você pode ter acesso ao site por 15 dias; depois, custa nove euros por mês. Em 2011, o site lucrou 500 mil euros mesmo sem anúncios; 95% da receita do site vêm de seus assinantes. Há duas páginas principais: Le Journal, com matérias dos jornalistas, e Le Club, o blog dos assinantes que comentam e interagem com os editores. Todo dia há edições às 9h, 13h e 19h, em versões em inglês e espanhol. French Leaks, um site do Mediapart, é o Wikileaks do país.
O Mediapart começou durante o mandato de Sarkozy: o escândalo Bettencourt, envelopes abarrotados de euros sendo entregues diretamente a Sarkozy e Eric Woerth, seu então ministro do orçamento. Depois houve o dinheiro que Sarkozy recebeu de Gaddafi (que queria sua reeleição), e o encobrimento do caso Karachi, quando onze engenheiros franceses foram mortos (provavelmente pelo ISI), porque a propina da venda dos submarinos franceses não tinha sido paga por inteiro para os poderosos do Paquistão. O Mediapart não parou com Sarkozy. O governo socialista, eleito em 2012, foi submetido a rigoroso escrutínio e os resultados impressionam. Jérôme Cahuzac, um cirurgião plástico, rei dos transplantes de cabelo e ministro adjunto da economia, conclamou a população a economizar. O Mediapart revelou que ele tinha mais de um milhão de euros numa conta secreta na Suíça. Cahuzac mentiu à Hollande, ao parlamento francês e à mídia. O Mediapart insistiu, agora com o apoio do resto da imprensa. Ele foi finalmente demitido.
Os escritórios do Mediapart, na rue Saint-Antoine,comportam uma equipe de 33 jornalistas. Funcionam como um jornal diário sans papier. Com 100 mil assinantes (e 2,5 milhões de visitas por mês), o Mediapart gosta de dizer que eles têm metade da circulação do Le Monde e do Le Figaro juntas. E os jornalistas são pagos de forma adequada. O site não depende do trabalho barato de estagiários. “Nós lutamos”, assim me disse Planel. “O Mediapart é produto de uma dupla crise: a crise econômica da velha imprensa e a crise da democracia da França em especial, mas que também acho que acontece em todo continente europeu.”
Os novos liberais, os historiadores François Furet e Pierre Nora, os políticos Jospin e Hollande, prepararam bem o terreno para a direita francesa. Manuel Valls, atual primeiro ministro socialista, expõe sua admiração por Tony Blair e está mano a mano com a Frente Nacional de Marine Le Pen no quesito humilhar minorias. Há algo mais que uma França de Vichy no ar, só que com muçulmanos e ciganos no lugar dos judeus.
Quantos passantes sabem que o monumento no centro da place de la Bastille homenageia os mártires da Revolução de Julho de 1830? O rei insistira em levar a cabo ordenanças impopulares, dissolvendo a recém-eleita Câmara dos Deputados, retirando os votos da classe média e suspendendo a liberdade de imprensa. Erigiram-se as barricadas. Carlos X, como outros nobres da sua linhagem que procuram asilo, fugiu para Londres, deixando para trás os corpos de mais de duzentos cidadãos, mortos na luta pela liberdade de imprensa.
Hoje a imprensa francesa está em maus lençóis. Le Figaro não é tão tendencioso como o Telegraph, mas está quase lá. Os jornais corporativistas Le Monde e Libération estão em declínio. É verdade que o Le Monde Diplomatique ainda circula todo mês, porém ao que depender de estatísticas e políticas globais, é muito ilustre e muito enfadonho para causar qualquer impacto relevante na política francesa.
O desafio à imprensa veio de um site chamado Mediapart: , lançado em 2008 para denunciar a corrupção incrustada nas instituições da Quinta República Francesa e nos partidos políticos. Ideia de Edwy Plenel, ex-editor do Le Monde, e três colegas experientes – François Bonnet (o editor), Gérard Desportes e Laurent Mauduit –, donos de uma vasta experiência e, mais importante, de uma boa lista de contatos. Com o jornalista Fabrice Arfi, eles exibem uma investigação meticulosa e completa similar a do jornalista britânico Paul Foot, na antiga revista Private Eye.
O Mediapart funciona com um modelo de assinatura: por seu primeiro euro, você pode ter acesso ao site por 15 dias; depois, custa nove euros por mês. Em 2011, o site lucrou 500 mil euros mesmo sem anúncios; 95% da receita do site vêm de seus assinantes. Há duas páginas principais: Le Journal, com matérias dos jornalistas, e Le Club, o blog dos assinantes que comentam e interagem com os editores. Todo dia há edições às 9h, 13h e 19h, em versões em inglês e espanhol. French Leaks, um site do Mediapart, é o Wikileaks do país.
O Mediapart começou durante o mandato de Sarkozy: o escândalo Bettencourt, envelopes abarrotados de euros sendo entregues diretamente a Sarkozy e Eric Woerth, seu então ministro do orçamento. Depois houve o dinheiro que Sarkozy recebeu de Gaddafi (que queria sua reeleição), e o encobrimento do caso Karachi, quando onze engenheiros franceses foram mortos (provavelmente pelo ISI), porque a propina da venda dos submarinos franceses não tinha sido paga por inteiro para os poderosos do Paquistão. O Mediapart não parou com Sarkozy. O governo socialista, eleito em 2012, foi submetido a rigoroso escrutínio e os resultados impressionam. Jérôme Cahuzac, um cirurgião plástico, rei dos transplantes de cabelo e ministro adjunto da economia, conclamou a população a economizar. O Mediapart revelou que ele tinha mais de um milhão de euros numa conta secreta na Suíça. Cahuzac mentiu à Hollande, ao parlamento francês e à mídia. O Mediapart insistiu, agora com o apoio do resto da imprensa. Ele foi finalmente demitido.
Os escritórios do Mediapart, na rue Saint-Antoine,comportam uma equipe de 33 jornalistas. Funcionam como um jornal diário sans papier. Com 100 mil assinantes (e 2,5 milhões de visitas por mês), o Mediapart gosta de dizer que eles têm metade da circulação do Le Monde e do Le Figaro juntas. E os jornalistas são pagos de forma adequada. O site não depende do trabalho barato de estagiários. “Nós lutamos”, assim me disse Planel. “O Mediapart é produto de uma dupla crise: a crise econômica da velha imprensa e a crise da democracia da França em especial, mas que também acho que acontece em todo continente europeu.”