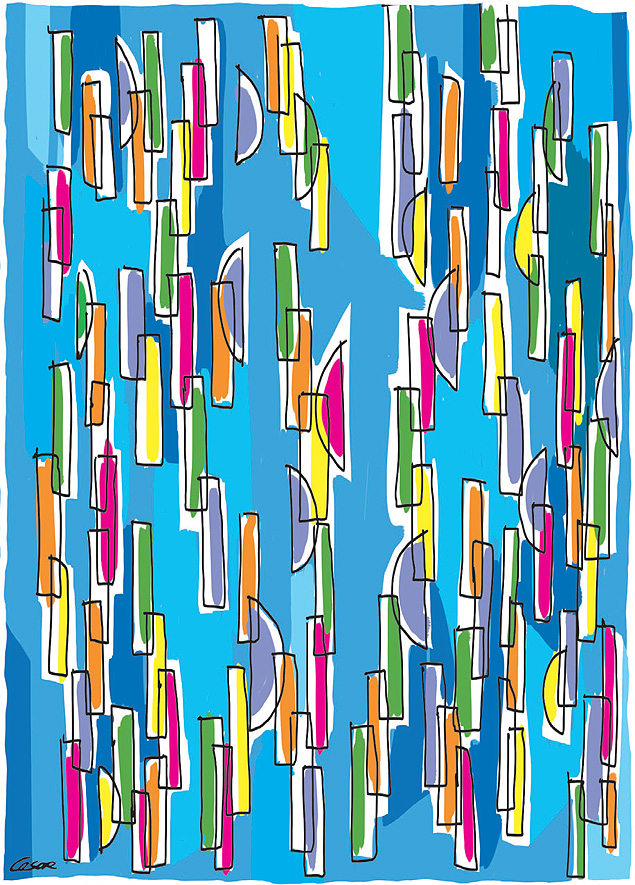Poucos se lembram que o Iêmen já teve movimentos vibrantes e uma esquerda poderosa.
Jacobin
 |
| Membros armados da Frente de Libertação Nacional do Iêmen, que forçaram os britânicos a se retirarem, em 1967. |
Tradução / Em maio de 2004, Mark Seddon, colunista do The Guardian, noticiou que enquanto visitava um mercado negro do norte de Sana'a, ele encontrou rifles automáticos L1A1 entre uma seleção de diversas outras armas de fogo.
As armas eram feitas no Reino Unido, mais uma das muitas outras lembranças de “um século e meio de comando da capital Áden, que foi um dia o mais estratégico dos portos do mundo.” Outras incluíam cemitérios militares, uma réplica em escala real do Big Ben chamado “Litlle Ben”, caixas de correio e ocasionalmente algumas notas de libras.
Os ingleses deixaram o sul do Iêmen derrotados. Eles não foram capazes de controlar uma grande insurgência anti-imperialista durante a Emergência de Áden, e na queda de sua retirada, os grupos marxista-leninistas se uniram a seus antigos aliados para criar a República Democrática do Iêmen.
No entanto, diferentemente do reino britânico, a lembrança do governo de esquerda foi amplamente esquecida. Como foi então que a militância religiosa, através da Al-Qaeda na península arábica e agora o Estado Islâmico, vieram a definir nossas percepções do sul do Iêmen menos de cinco décadas depois da vitória da Frente de Liberação Nacional?
Da emergência para a unificação
As armas eram feitas no Reino Unido, mais uma das muitas outras lembranças de “um século e meio de comando da capital Áden, que foi um dia o mais estratégico dos portos do mundo.” Outras incluíam cemitérios militares, uma réplica em escala real do Big Ben chamado “Litlle Ben”, caixas de correio e ocasionalmente algumas notas de libras.
Os ingleses deixaram o sul do Iêmen derrotados. Eles não foram capazes de controlar uma grande insurgência anti-imperialista durante a Emergência de Áden, e na queda de sua retirada, os grupos marxista-leninistas se uniram a seus antigos aliados para criar a República Democrática do Iêmen.
No entanto, diferentemente do reino britânico, a lembrança do governo de esquerda foi amplamente esquecida. Como foi então que a militância religiosa, através da Al-Qaeda na península arábica e agora o Estado Islâmico, vieram a definir nossas percepções do sul do Iêmen menos de cinco décadas depois da vitória da Frente de Liberação Nacional?
Da emergência para a unificação
A Emergência de Áden foi a cristalização da onda regionalista durante 1950 e 1960, quando os movimentos de liberação nacional de esquerda cresceram em popularidade. Essas tendências foram especialmente dominantes no norte e no sul do Iêmen.
Os iemenitas viviam em um país subdesenvolvido, mesmo comparado a seus vizinhos, e estavam profundamente assustados de séculos de conflito tribal, colonização, e da política dinástica e religiosa. Uma mistura de pan-arabismo, marxismo-leninismo, e revolta de clãs tornou-se a manifestação ideológica de sua exaustação, levando ao termino de uma década de turbulência.
O norte do Iêmen mergulhou em uma guerra civil após um golpe de estado republicano apoiado pelo Egito por Abdullah as-Sallal em 1962. Prenunciando a violência atual, notavelmente por sua aparente falta de sectarismo religioso, a guerra civil no norte do Iêmen viu a Arábia Saudita apoiar a criação de um Califado xiita de Zaydi contra o governo pan-arábico. Riyadh queria deixar passar a aliança dos xiitas com a monarquia para combater o republicanismo secular na península arábica, que ameaçava atingir a família real saudita também.
Enquanto isso, as tensões estavam extremamente exacerbadas no sul do Iêmen devido a um fluxo constante de propaganda anti-imperialista do Egito de Nasser, assim como da Império Britânico e de seus plano de patrocinar um estado monárquico federalista para substituir seu governo depois da independência. Se a transição tivesse dado certo, a Federação da Arábia do Sul teria parecido estruturalmente com os Emirados Árabes Unidos.
Diversas organizações políticas anti-britânicas e guerrilheiros aderiram firmemente a dois campos rivais: a Frente de Libertação Nacional, que estabeleceu relações com o Egito, e a Frente pela Libertação do Iêmen do Sul Ocupado. Esta era composta massivamente por habitantes de Áden, e muitos deles queriam criar uma república socialista após a independência. A Frente de Libertação Nacional partilhava também de muitas dessas aspirações, mas seus membros eram principalmente pessoas vindas do mundo rural, e expunham uma afinidade ideológica muito grande com os partidos marxista-leninistas da China e da União Soviética.
Ambas Frentes atacaram-se uma a outra, assim como tropas inglesas (porém nos anais da guerra, oficiais britânicos admitiram culpar ambos os grupos por muitos dos ataques).
A guerra começou quando foi declarado estado de emergência após um ataque de granada contra o Alto Comissário Kennedy Travaskis. Enquanto os rebeldes impuseram vitorias significantes através de ataques surpresas, particularmente no distrito da cratera de Áden, a maioria das mortes foram de lutas internas.
Os britânicos finalmente fugiram em 1967. Até a guerra do Iraque, essa tinha sido a maior guerra da Inglaterra na região. Depois de um breve governo de conciliação, a Frente de Libertação Nacional deu um golpe contra a outra frente e revolucionários do sul do Iêmen, criando a República Popular Democrática do Iêmen. Esta se alinhou com a União Soviética, passando a expor diversos dogmas do marxismo-leninismo, incluindo o controle estatal de diversos ramos da economia.
Não muito mais tarde, os eventos regionais levariam o bureau político de Áden a reconsiderar seu posicionamento linha-dura. Os eventos chave foram a derrota do levante de Dhofar em Omã, a repulsa pelos quadros da República Popular Democrática após embates na fronteira com a Arábia Saudita, e a inabilidade da revolução da Frente Nacional Democrática em destronar Ali Abdullah Saleh no norte do Iêmen (agora conhecido como República Árabe do Iêmen, depois da vitória republicana na guerra civil, que acabou em 1970)
Os iemenitas viviam em um país subdesenvolvido, mesmo comparado a seus vizinhos, e estavam profundamente assustados de séculos de conflito tribal, colonização, e da política dinástica e religiosa. Uma mistura de pan-arabismo, marxismo-leninismo, e revolta de clãs tornou-se a manifestação ideológica de sua exaustação, levando ao termino de uma década de turbulência.
O norte do Iêmen mergulhou em uma guerra civil após um golpe de estado republicano apoiado pelo Egito por Abdullah as-Sallal em 1962. Prenunciando a violência atual, notavelmente por sua aparente falta de sectarismo religioso, a guerra civil no norte do Iêmen viu a Arábia Saudita apoiar a criação de um Califado xiita de Zaydi contra o governo pan-arábico. Riyadh queria deixar passar a aliança dos xiitas com a monarquia para combater o republicanismo secular na península arábica, que ameaçava atingir a família real saudita também.
Enquanto isso, as tensões estavam extremamente exacerbadas no sul do Iêmen devido a um fluxo constante de propaganda anti-imperialista do Egito de Nasser, assim como da Império Britânico e de seus plano de patrocinar um estado monárquico federalista para substituir seu governo depois da independência. Se a transição tivesse dado certo, a Federação da Arábia do Sul teria parecido estruturalmente com os Emirados Árabes Unidos.
Diversas organizações políticas anti-britânicas e guerrilheiros aderiram firmemente a dois campos rivais: a Frente de Libertação Nacional, que estabeleceu relações com o Egito, e a Frente pela Libertação do Iêmen do Sul Ocupado. Esta era composta massivamente por habitantes de Áden, e muitos deles queriam criar uma república socialista após a independência. A Frente de Libertação Nacional partilhava também de muitas dessas aspirações, mas seus membros eram principalmente pessoas vindas do mundo rural, e expunham uma afinidade ideológica muito grande com os partidos marxista-leninistas da China e da União Soviética.
Ambas Frentes atacaram-se uma a outra, assim como tropas inglesas (porém nos anais da guerra, oficiais britânicos admitiram culpar ambos os grupos por muitos dos ataques).
A guerra começou quando foi declarado estado de emergência após um ataque de granada contra o Alto Comissário Kennedy Travaskis. Enquanto os rebeldes impuseram vitorias significantes através de ataques surpresas, particularmente no distrito da cratera de Áden, a maioria das mortes foram de lutas internas.
Os britânicos finalmente fugiram em 1967. Até a guerra do Iraque, essa tinha sido a maior guerra da Inglaterra na região. Depois de um breve governo de conciliação, a Frente de Libertação Nacional deu um golpe contra a outra frente e revolucionários do sul do Iêmen, criando a República Popular Democrática do Iêmen. Esta se alinhou com a União Soviética, passando a expor diversos dogmas do marxismo-leninismo, incluindo o controle estatal de diversos ramos da economia.
Não muito mais tarde, os eventos regionais levariam o bureau político de Áden a reconsiderar seu posicionamento linha-dura. Os eventos chave foram a derrota do levante de Dhofar em Omã, a repulsa pelos quadros da República Popular Democrática após embates na fronteira com a Arábia Saudita, e a inabilidade da revolução da Frente Nacional Democrática em destronar Ali Abdullah Saleh no norte do Iêmen (agora conhecido como República Árabe do Iêmen, depois da vitória republicana na guerra civil, que acabou em 1970)
O levante de Dhofar foi inicialmente uma revolta tribal que começou em 1962 com a insurreição de Musallim bin Nafl, um líder tribal que obteve armas e veículos da Arábia Saudita, assim como suporte do exilado Imam Ghalib bin Ali. Dhofar era uma província totalmente marginalizada ao sul de Omã que sofria de profunda dominação social, econômica e linguística (enquanto a corte do Sultão Taimur em Muscat falava árabe, os habitantes de Dhofar se comunicavam em várias línguas árabes do sul como Shehri e Mehri).
Por volta de 1965 os esforços do Sultão Taimur em pacificar a revolta tinham radicalizando-a, levando os comitês de organização a se envolver com a Frente Popular para a Libertação de Omã. Esta era uma aliança de grupos com várias demandas, incluindo autonomia e desenvolvimento. Os blocos marxista e pan-arabista também pressionavam pela destituição da monarquia, ganhando grande influência com a recém criada República Popular Democrática do Iêmen, que tinha fronteira com Dhofar.
Depois de um sério debate sobre como continuar a revolta, que demandou ajuda estrangeira, os marxista-leninistas tomaram o controle do movimento em um congresso em 1968. Eles renomearam o movimento como a Frente Popular pela Libertação do Golfo Arábico Ocupado, e começaram a receber armas, treinamento, e apoio logístico da República Popular Democrática do Iêmen, China e da União Soviética.
Desejando exportar sua revolução, Áden também apoiou incursões dentro da Arábia Saudita em 1968 e em 1973, e na República Árabe do Iêmen, apoiou uma rebelião da Frente Nacional em 1978.
Sua penetração na Arábia Saudita foi a primeira a ser repelida, com o bombardeio dos guerrilheiros pela Força Aérea Paquistanesa em defesa de Riyadh. O levante de Dhofar tinha, através da “astucia da história”, inadvertidamente forçado o estado de Omã a reinventar a si mesmo através da contra insurgência.
Westminster não tinha nenhuma intenção de sustentar o governo do Sultão Taimur dada a retirada planejada do Reino Unido do golfo pérsico em 1971, e apoiou seu filho o Sultão Qabos na tomada do poder e na transformação ambiciosa do até então subdesenvolvido país. Grandes reformas foram implementadas, tecnologias modernas como os telefones foram introduzidas, e Dhofar foi formalmente incorporada como uma província.
As hostilidades se encerraram em 1975, com a República Popular Democrática do Iêmen falhando em levar a revolução pretendida em Omã. Como resultado, o Iêmen enfrentou uma incerteza ideológica, assim como escassez material vinda do isolamento diplomático. Isso era particularmente grave dado que os confrontos com a Arábia Saudita deram tão errado.
A etapa final foi em 1978 com a rebelião da Frente Nacional no norte do Iêmen. A rebelião foi o maior esforço para destituir Saleh, que tinha vencido naquele mesmo ano e imediatamente se mudado para consolidar seu poder.
A rebelião foi liderada por várias facções de oposição, e foi apoiada pela República Popular e pela Líbia. Apesar do sucesso inicial na guerra, a rebelião não foi capaz de manter um território significativo, e os movimentos de assistência do Iêmen com um conflito na fronteira em 1979 foi pacificado em um acordo mediado pela Organização de Liberação Palestina.
A Frente Nacional foi finalmente derrotada em 1982 por uma combinação de forças militares e a Irmandade Muçulmana Iemenita. O efeito imediato do conflito foi ajudar a galvanizar a diminuição de elites militantes no Iêmen popular.
O Presidente Abdul Fattah Ismail tinha liderado a criação do partido socialista iemenita em 1978, para substituir a Frente Nacional com representação de todas as facções de esquerda na República Popular. No entanto, ele não pode se prevenir da rápida ascensão de membros do partido que, como resultado das derrotas externas, favorecessem uma política externa menos intervencionista e reformas no estado.
Quando Ismail renunciou a seus cargos (alegando razões médicas, mas que porém é possível que tenha sido alertado de um processo de impedimento) em 1980, passando a presidência para o Primeiro Ministro Ali Nasser Muhammad, foi uma indicação de que um bloco de pessoas não militantes tinha tomado o poder no país.
Isso foi um deleite particular para o bureau político de Brezhnev, que tinha por muito tempo considerado Ismail um irresponsável, por sua falta de vontade em comprometer suas ambições regionais e por sua recusa em até mesmo considerar ser paciente com as monarquias do Golfo, o que estava fora de sincronia com a estratégia externa da União Soviética àquele tempo.
Esse pivô de longe da militância acelerou a situação depois da guerra civil de 1986 entre os apoiadores de Ismail e Muhammad, que levou a morte do ex-presidente em uma batalha naval, o exilio do segundo na República Árabe do Iêmen, e a ascensão do Ministro da Defesa Ali Salim al-Beidh ao poder.
Al-Beidh tinha menos interesse na militância burocratizada de Ismail do que Muhammad, e começou imediatamente a explorar as reservas de óleo enquanto reabria as conversas para a unificação com a Republica Árabe do Iêmen.
O governo radical que ele seguiu, entretanto, não deveria ser endossado. Todas facções que estavam com a República Popular modelaram a si mesmas de uma forma autoritária, de partido único à maneira amplamente adotada pelo bloco socialista. Como resultado, a República Popular foi marcada por uma repressão brutal e por um largo período de sua história, Ismail governou como um ditador.
Entretanto, é importante notar suas conquistas materiais. A República Popular encerrou um século e meio de dominação do Império Britânico que, porém, poderia ter continuado na era pós-colonial. Pela década de 1970, se vangloriava do suporte estatal para o emprego, saúde pública, educação, moradia, incluindo zonas fora da cidade de Áden, em províncias que foram negligenciadas pelos britânicos.
Enquanto a atual nostalgia pela República Popular enfatiza essas conquistas materiais, assim como a sua vitória sobre os britânicos, é importante lembrar que esses ganhos não foram tão impressionantes como poderiam ter sido (embora eles tenham diminuído o que foi feito pela República Árabe do Iêmen, que por exemplo nunca implementou um programa de alfabetização focado nas mulheres como a República Popular fez na década de 1970).
O grande problema é que a República Popular foi refém de tendências históricas fora do controle de Áden. Ao tempo que começaram a implementar suas políticas na década de 1970, a maioria de seus aliados (especialmente do bloco socialista) tinha começado a relaxar os controles estatais e a explorar novas relações com o mercado.
Áden também nunca se recuperou do fechamento do canal de Suez de 1967 à 1975, especialmente porque isso ocorreu ao lado da rápido ascensão das monarquias do golfo como novos centros marítimos e de comércio transnacional.
A escala dessa transformação foi tão rápida e imensa que é praticamente impossível lembrar a importância econômica e estratégica que Áden tinha para os britânicos. Depois de uma geração, isso foi quase totalmente substituído por cidades como Dubai, Manama, e Doha, que agora possuem muito mais importância devido a produção e exportação de petróleo.
Não é coincidência que o firme declínio – socialmente e economicamente – do sul do Iêmen coincidiu com um ressurgimento de uma memória popular favorável da República Popular. De fato, o atual movimento de independência do sul tem suas raízes em maio de 2007 quando ex-pensionistas demandaram mais generosidade na assistência de Sana ‘a.
Seus pequenos protestos rapidamente explodiram em amplas reivindicações por autonomia e secessão, principalmente porque em suas demandas por igualdade e maior auxilio do estado, eles galvanizaram um amplo senso de descontentamento da sociedade do sul do Iêmen. Esse senso de impaciência é impossível de ser compreendido sem observar a realidade política e econômica da vida desde a unificação.
O nacionalismo emergente
A atual nostalgia pela República Popular explica muito sobre a presente situação do Iêmen, uma situação pintada pelo descontentamento com os termos da reunificação iemenita e, especialmente desde 2007, com a emergência de um nacionalismo sul-iemenita como uma articulação ideológica de injustiças de longo tempo com a falta de direitos democráticos e econômicos em um país.
Desde a unificação com a República Árabe de Saleh, o sul tem sido subjugado por vários problemas que são resultado da adoção súbita do livre mercado na economia. As tensões sobre a privatização se tornaram graves o suficiente para os líderes do sul tentarem separar o país recém unificado de uma vez.
Sana'a reestabeleceu o controle sobre o sul durante a guerra civil iemenita de 1994, e continuou sua imposição de políticas impopulares apoiado por poderes como os EUA e a Arábia Saudita, assim como por credores internacionais como o FMI.
Os subsídios foram retirados, a moeda foi desvalorizada, o setor público foi dilacerado com horrendas consequências para a habitação, saúde e educação, a rede de eletricidade e de água foi negligenciada e muitas pensões foram cortadas.
A unificação também levou a mais empoderamento das elites do norte, que foram capazes de comprar propriedade, ganhando o controle de industrias importantes como petróleo e turismo, e dominaram as universidades e o mercado de trabalho qualificado.
Saleh também começou rapidamente a implementar políticas culturais no sul que ele tinha usado previamente para neutralizar os dissidentes no norte. Essencialmente, o modo de Saleh era mediar diversas elites em um estado fraco, com ênfase particular destinada a empoderar os reacionários tribais para controlar os beduínos iemenitas.
Enquanto Saleh e seus apoiadores insistiam que isso era necessário devido às várias divisões da sociedade iemenita, era obvio para muitos sulistas que o propósito verdadeiro era prevenir que se juntasse muito poder em qualquer outra área do país, onde ele poderia ser usado para produzir um desafio significante a Sana'a.
Parte dessa estratégia se destinava a abastecer o crescimento da retórica religiosa dos sunitas Wahhabi que crescia em popularidade no Golfo. O renascimento da doutrina religiosa, da forma que foi disseminado pelas elites reacionárias ligadas às monarquias do golfo, serviu adiante para neutralizar o pensamento de esquerda na região.
As consequências foram particularmente severas em países como o Iêmen, onde eles prepararam o terreno para políticas religiosas reacionárias. Após anos de inquietação, eles também começaram a criação de novas formas de militarismo religioso, embora os iemenitas rejeitem amplamente grupos como Al-Qaeda e o IS na península árabe.
Esse é um ponto importante para observadores internacionais entenderem, particularmente da Amarica do Norte e da Europa Ocidental, porque isso desafia as narrativas da hesitação iemenita e a recepção que muitos militantes islâmicos receberam no país.
Muito das atuais disfunções sociais do Iêmen, então, não são um resultado inerente de problemas da sociedade iemenita; eles foram ventilados por Saleh e seus aliados de modo a silenciar a insurreição que um dia dominou o país, e que ameaçou contagiar toda a península, nas décadas anteriores ao seu governo. Sua hegemonia será impossível de ser suplantada sem se abrir espaço para ideologias e plataformas que foram meticulosamente suprimidas da sociedade iemenita.
Interessante é que a repercussão de sua repressão motivou a criação de diversas facções agora em guerra umas contra as outras. Os Houthis começaram como o renascimento da organização cultural xiita Zaydi chamada Juventude Crente, que cresceu em reação direta ao caráter cada vez mais sunita fundamentalista da sociedade iemenita.
As tribos nortenhas reagiram ao clima sociocultural se voltando a identidade xiita que pareceu ter sido destronada com a criação da Republica Árabe do Iêmen. E no sul, o nacionalismo para a agora defunta República Popular começou a crescer ao passo que a política secular cultural foi manifestamente desvendada, com graves consequências particularmente para as mulheres do sul.
Essa tendência atual não pode ser confundida com um desejo de se reestabelecer a República Popular em todos seus aspectos. Há mais ou menos um consenso que o regime anterior era impiedosamente opressor. Antes, de 1994 em diante, o nacionalismo se tornou seguramente uma grande articulação para várias injustiças na sociedade local, que são entendidas amplamente como uma consequência do controle nortenho de Saleh.
As nascentes tendências ideológicas se solidificaram em 2007 quando uma revolta dos oficiais militares aposentados que buscavam suas pensões se espalhou pelo sul, finalmente se amalgamando no Al-Hirak, conhecido internamente como “o movimento do sul”.
Os comitês locais do Al-Hirak variam em suas posições, de desejar abertamente a independência, a autonomia local, a aumentar o federalismo no estado mais amplo. De qualquer forma, eles estão unificados pela nostalgia da República Popular.
Apesar de seu autoritarismo, havia um grau de redistribuição, proteção estatal, e mais importante, estabilidade econômica que foi perdida com sua derrubada. A existência da República Popular também proveio pelo menos esperança de que alternativas sérias ao capitalismo autoritário e monárquico poderiam tomar conta da península arábica.
Isso é precisamente o que fez do Al-Hirak, definitivamente um dos movimentos mais democráticos do país, tão assustador a grandes poderes da região. Os militantes religiosos dominam as novas estórias e trabalham pesadamente em considerações estratégias, em parte porque eles são úteis em marginalizar a força potencial da política democrática no país.
A Primavera Árabe foi um momento no qual a sociedade iemenita começou a reviver brutalmente ideologias reprimidas e movimentos políticos em resposta a novas condições. Foi como que se possibilidades revolucionárias que foram cuidadosamente suprimidas da sociedade iemenita desde que o inicio do período pós-colonial voltou à tona, com consequências particularmente fortes para movimentos de juventude como o Al-Hirak.
Críticas aos bombardeios dos EUA e da Arábia Saudita estão servindo apenas para fragmentar a sociedade iemenita, e subvertendo essas novas possibilidades ao empoderar os jihadistas, perdem o ponto. O rei saudita Salman sempre teve interesse em ver tal desfecho. Movimentos como o Al-Hirak são construídos na memória cultural dos iemenitas, particularmente nos do sul, pressionando por políticas genuinamente democráticas que países como a Arábia Saudita não tem absolutamente nenhum interesse em ver sendo realizadas em suas fronteiras.
É mais palatável para eles ver uma aliança potencial entre forças diversas como aquelas que se engajaram na Conferência de Diálogo Nacional, que incluiu os Houthis, revolucionários tribais, o Al-Hirak, e vários líderes da sociedade civil, que e impossível por uma guerra imposta. A alternativa seria outra República Popular exportando potencialmente ao Conselho de Cooperação do Golfo.
Aquelas armas britânicas no mercado negro iemenita podem ser uma relíquia de uma guerra que ocorreu antes que muitos de nós tivéssemos nascido, mas certamente a dinâmica não mudou. Como era o caso há quarenta e oito anos atrás, ninguém tem nenhum interesse em ver a democracia iemenita vingando e influenciando seus vizinhos. A questão então é como movimentos como o Al-Hirak garantirão seus objetivos contra os desejos de grandes poderes como a Arábia Saudita e os EUA.
A lamentável tendência da história iemenita aponta para mais conflito e não se sabe quão prolongada a guerra continuará a moldar as forças no terreno. Alternativas progressistas permanecem elusivas.
Por volta de 1965 os esforços do Sultão Taimur em pacificar a revolta tinham radicalizando-a, levando os comitês de organização a se envolver com a Frente Popular para a Libertação de Omã. Esta era uma aliança de grupos com várias demandas, incluindo autonomia e desenvolvimento. Os blocos marxista e pan-arabista também pressionavam pela destituição da monarquia, ganhando grande influência com a recém criada República Popular Democrática do Iêmen, que tinha fronteira com Dhofar.
Depois de um sério debate sobre como continuar a revolta, que demandou ajuda estrangeira, os marxista-leninistas tomaram o controle do movimento em um congresso em 1968. Eles renomearam o movimento como a Frente Popular pela Libertação do Golfo Arábico Ocupado, e começaram a receber armas, treinamento, e apoio logístico da República Popular Democrática do Iêmen, China e da União Soviética.
Desejando exportar sua revolução, Áden também apoiou incursões dentro da Arábia Saudita em 1968 e em 1973, e na República Árabe do Iêmen, apoiou uma rebelião da Frente Nacional em 1978.
Sua penetração na Arábia Saudita foi a primeira a ser repelida, com o bombardeio dos guerrilheiros pela Força Aérea Paquistanesa em defesa de Riyadh. O levante de Dhofar tinha, através da “astucia da história”, inadvertidamente forçado o estado de Omã a reinventar a si mesmo através da contra insurgência.
Westminster não tinha nenhuma intenção de sustentar o governo do Sultão Taimur dada a retirada planejada do Reino Unido do golfo pérsico em 1971, e apoiou seu filho o Sultão Qabos na tomada do poder e na transformação ambiciosa do até então subdesenvolvido país. Grandes reformas foram implementadas, tecnologias modernas como os telefones foram introduzidas, e Dhofar foi formalmente incorporada como uma província.
As hostilidades se encerraram em 1975, com a República Popular Democrática do Iêmen falhando em levar a revolução pretendida em Omã. Como resultado, o Iêmen enfrentou uma incerteza ideológica, assim como escassez material vinda do isolamento diplomático. Isso era particularmente grave dado que os confrontos com a Arábia Saudita deram tão errado.
A etapa final foi em 1978 com a rebelião da Frente Nacional no norte do Iêmen. A rebelião foi o maior esforço para destituir Saleh, que tinha vencido naquele mesmo ano e imediatamente se mudado para consolidar seu poder.
A rebelião foi liderada por várias facções de oposição, e foi apoiada pela República Popular e pela Líbia. Apesar do sucesso inicial na guerra, a rebelião não foi capaz de manter um território significativo, e os movimentos de assistência do Iêmen com um conflito na fronteira em 1979 foi pacificado em um acordo mediado pela Organização de Liberação Palestina.
A Frente Nacional foi finalmente derrotada em 1982 por uma combinação de forças militares e a Irmandade Muçulmana Iemenita. O efeito imediato do conflito foi ajudar a galvanizar a diminuição de elites militantes no Iêmen popular.
O Presidente Abdul Fattah Ismail tinha liderado a criação do partido socialista iemenita em 1978, para substituir a Frente Nacional com representação de todas as facções de esquerda na República Popular. No entanto, ele não pode se prevenir da rápida ascensão de membros do partido que, como resultado das derrotas externas, favorecessem uma política externa menos intervencionista e reformas no estado.
Quando Ismail renunciou a seus cargos (alegando razões médicas, mas que porém é possível que tenha sido alertado de um processo de impedimento) em 1980, passando a presidência para o Primeiro Ministro Ali Nasser Muhammad, foi uma indicação de que um bloco de pessoas não militantes tinha tomado o poder no país.
Isso foi um deleite particular para o bureau político de Brezhnev, que tinha por muito tempo considerado Ismail um irresponsável, por sua falta de vontade em comprometer suas ambições regionais e por sua recusa em até mesmo considerar ser paciente com as monarquias do Golfo, o que estava fora de sincronia com a estratégia externa da União Soviética àquele tempo.
Esse pivô de longe da militância acelerou a situação depois da guerra civil de 1986 entre os apoiadores de Ismail e Muhammad, que levou a morte do ex-presidente em uma batalha naval, o exilio do segundo na República Árabe do Iêmen, e a ascensão do Ministro da Defesa Ali Salim al-Beidh ao poder.
Al-Beidh tinha menos interesse na militância burocratizada de Ismail do que Muhammad, e começou imediatamente a explorar as reservas de óleo enquanto reabria as conversas para a unificação com a Republica Árabe do Iêmen.
O governo radical que ele seguiu, entretanto, não deveria ser endossado. Todas facções que estavam com a República Popular modelaram a si mesmas de uma forma autoritária, de partido único à maneira amplamente adotada pelo bloco socialista. Como resultado, a República Popular foi marcada por uma repressão brutal e por um largo período de sua história, Ismail governou como um ditador.
Entretanto, é importante notar suas conquistas materiais. A República Popular encerrou um século e meio de dominação do Império Britânico que, porém, poderia ter continuado na era pós-colonial. Pela década de 1970, se vangloriava do suporte estatal para o emprego, saúde pública, educação, moradia, incluindo zonas fora da cidade de Áden, em províncias que foram negligenciadas pelos britânicos.
Enquanto a atual nostalgia pela República Popular enfatiza essas conquistas materiais, assim como a sua vitória sobre os britânicos, é importante lembrar que esses ganhos não foram tão impressionantes como poderiam ter sido (embora eles tenham diminuído o que foi feito pela República Árabe do Iêmen, que por exemplo nunca implementou um programa de alfabetização focado nas mulheres como a República Popular fez na década de 1970).
O grande problema é que a República Popular foi refém de tendências históricas fora do controle de Áden. Ao tempo que começaram a implementar suas políticas na década de 1970, a maioria de seus aliados (especialmente do bloco socialista) tinha começado a relaxar os controles estatais e a explorar novas relações com o mercado.
Áden também nunca se recuperou do fechamento do canal de Suez de 1967 à 1975, especialmente porque isso ocorreu ao lado da rápido ascensão das monarquias do golfo como novos centros marítimos e de comércio transnacional.
A escala dessa transformação foi tão rápida e imensa que é praticamente impossível lembrar a importância econômica e estratégica que Áden tinha para os britânicos. Depois de uma geração, isso foi quase totalmente substituído por cidades como Dubai, Manama, e Doha, que agora possuem muito mais importância devido a produção e exportação de petróleo.
Não é coincidência que o firme declínio – socialmente e economicamente – do sul do Iêmen coincidiu com um ressurgimento de uma memória popular favorável da República Popular. De fato, o atual movimento de independência do sul tem suas raízes em maio de 2007 quando ex-pensionistas demandaram mais generosidade na assistência de Sana ‘a.
Seus pequenos protestos rapidamente explodiram em amplas reivindicações por autonomia e secessão, principalmente porque em suas demandas por igualdade e maior auxilio do estado, eles galvanizaram um amplo senso de descontentamento da sociedade do sul do Iêmen. Esse senso de impaciência é impossível de ser compreendido sem observar a realidade política e econômica da vida desde a unificação.
O nacionalismo emergente
A atual nostalgia pela República Popular explica muito sobre a presente situação do Iêmen, uma situação pintada pelo descontentamento com os termos da reunificação iemenita e, especialmente desde 2007, com a emergência de um nacionalismo sul-iemenita como uma articulação ideológica de injustiças de longo tempo com a falta de direitos democráticos e econômicos em um país.
Desde a unificação com a República Árabe de Saleh, o sul tem sido subjugado por vários problemas que são resultado da adoção súbita do livre mercado na economia. As tensões sobre a privatização se tornaram graves o suficiente para os líderes do sul tentarem separar o país recém unificado de uma vez.
Sana'a reestabeleceu o controle sobre o sul durante a guerra civil iemenita de 1994, e continuou sua imposição de políticas impopulares apoiado por poderes como os EUA e a Arábia Saudita, assim como por credores internacionais como o FMI.
Os subsídios foram retirados, a moeda foi desvalorizada, o setor público foi dilacerado com horrendas consequências para a habitação, saúde e educação, a rede de eletricidade e de água foi negligenciada e muitas pensões foram cortadas.
A unificação também levou a mais empoderamento das elites do norte, que foram capazes de comprar propriedade, ganhando o controle de industrias importantes como petróleo e turismo, e dominaram as universidades e o mercado de trabalho qualificado.
Saleh também começou rapidamente a implementar políticas culturais no sul que ele tinha usado previamente para neutralizar os dissidentes no norte. Essencialmente, o modo de Saleh era mediar diversas elites em um estado fraco, com ênfase particular destinada a empoderar os reacionários tribais para controlar os beduínos iemenitas.
Enquanto Saleh e seus apoiadores insistiam que isso era necessário devido às várias divisões da sociedade iemenita, era obvio para muitos sulistas que o propósito verdadeiro era prevenir que se juntasse muito poder em qualquer outra área do país, onde ele poderia ser usado para produzir um desafio significante a Sana'a.
Parte dessa estratégia se destinava a abastecer o crescimento da retórica religiosa dos sunitas Wahhabi que crescia em popularidade no Golfo. O renascimento da doutrina religiosa, da forma que foi disseminado pelas elites reacionárias ligadas às monarquias do golfo, serviu adiante para neutralizar o pensamento de esquerda na região.
As consequências foram particularmente severas em países como o Iêmen, onde eles prepararam o terreno para políticas religiosas reacionárias. Após anos de inquietação, eles também começaram a criação de novas formas de militarismo religioso, embora os iemenitas rejeitem amplamente grupos como Al-Qaeda e o IS na península árabe.
Esse é um ponto importante para observadores internacionais entenderem, particularmente da Amarica do Norte e da Europa Ocidental, porque isso desafia as narrativas da hesitação iemenita e a recepção que muitos militantes islâmicos receberam no país.
Muito das atuais disfunções sociais do Iêmen, então, não são um resultado inerente de problemas da sociedade iemenita; eles foram ventilados por Saleh e seus aliados de modo a silenciar a insurreição que um dia dominou o país, e que ameaçou contagiar toda a península, nas décadas anteriores ao seu governo. Sua hegemonia será impossível de ser suplantada sem se abrir espaço para ideologias e plataformas que foram meticulosamente suprimidas da sociedade iemenita.
Interessante é que a repercussão de sua repressão motivou a criação de diversas facções agora em guerra umas contra as outras. Os Houthis começaram como o renascimento da organização cultural xiita Zaydi chamada Juventude Crente, que cresceu em reação direta ao caráter cada vez mais sunita fundamentalista da sociedade iemenita.
As tribos nortenhas reagiram ao clima sociocultural se voltando a identidade xiita que pareceu ter sido destronada com a criação da Republica Árabe do Iêmen. E no sul, o nacionalismo para a agora defunta República Popular começou a crescer ao passo que a política secular cultural foi manifestamente desvendada, com graves consequências particularmente para as mulheres do sul.
Essa tendência atual não pode ser confundida com um desejo de se reestabelecer a República Popular em todos seus aspectos. Há mais ou menos um consenso que o regime anterior era impiedosamente opressor. Antes, de 1994 em diante, o nacionalismo se tornou seguramente uma grande articulação para várias injustiças na sociedade local, que são entendidas amplamente como uma consequência do controle nortenho de Saleh.
As nascentes tendências ideológicas se solidificaram em 2007 quando uma revolta dos oficiais militares aposentados que buscavam suas pensões se espalhou pelo sul, finalmente se amalgamando no Al-Hirak, conhecido internamente como “o movimento do sul”.
Os comitês locais do Al-Hirak variam em suas posições, de desejar abertamente a independência, a autonomia local, a aumentar o federalismo no estado mais amplo. De qualquer forma, eles estão unificados pela nostalgia da República Popular.
Apesar de seu autoritarismo, havia um grau de redistribuição, proteção estatal, e mais importante, estabilidade econômica que foi perdida com sua derrubada. A existência da República Popular também proveio pelo menos esperança de que alternativas sérias ao capitalismo autoritário e monárquico poderiam tomar conta da península arábica.
Isso é precisamente o que fez do Al-Hirak, definitivamente um dos movimentos mais democráticos do país, tão assustador a grandes poderes da região. Os militantes religiosos dominam as novas estórias e trabalham pesadamente em considerações estratégias, em parte porque eles são úteis em marginalizar a força potencial da política democrática no país.
A Primavera Árabe foi um momento no qual a sociedade iemenita começou a reviver brutalmente ideologias reprimidas e movimentos políticos em resposta a novas condições. Foi como que se possibilidades revolucionárias que foram cuidadosamente suprimidas da sociedade iemenita desde que o inicio do período pós-colonial voltou à tona, com consequências particularmente fortes para movimentos de juventude como o Al-Hirak.
Críticas aos bombardeios dos EUA e da Arábia Saudita estão servindo apenas para fragmentar a sociedade iemenita, e subvertendo essas novas possibilidades ao empoderar os jihadistas, perdem o ponto. O rei saudita Salman sempre teve interesse em ver tal desfecho. Movimentos como o Al-Hirak são construídos na memória cultural dos iemenitas, particularmente nos do sul, pressionando por políticas genuinamente democráticas que países como a Arábia Saudita não tem absolutamente nenhum interesse em ver sendo realizadas em suas fronteiras.
É mais palatável para eles ver uma aliança potencial entre forças diversas como aquelas que se engajaram na Conferência de Diálogo Nacional, que incluiu os Houthis, revolucionários tribais, o Al-Hirak, e vários líderes da sociedade civil, que e impossível por uma guerra imposta. A alternativa seria outra República Popular exportando potencialmente ao Conselho de Cooperação do Golfo.
Aquelas armas britânicas no mercado negro iemenita podem ser uma relíquia de uma guerra que ocorreu antes que muitos de nós tivéssemos nascido, mas certamente a dinâmica não mudou. Como era o caso há quarenta e oito anos atrás, ninguém tem nenhum interesse em ver a democracia iemenita vingando e influenciando seus vizinhos. A questão então é como movimentos como o Al-Hirak garantirão seus objetivos contra os desejos de grandes poderes como a Arábia Saudita e os EUA.
A lamentável tendência da história iemenita aponta para mais conflito e não se sabe quão prolongada a guerra continuará a moldar as forças no terreno. Alternativas progressistas permanecem elusivas.