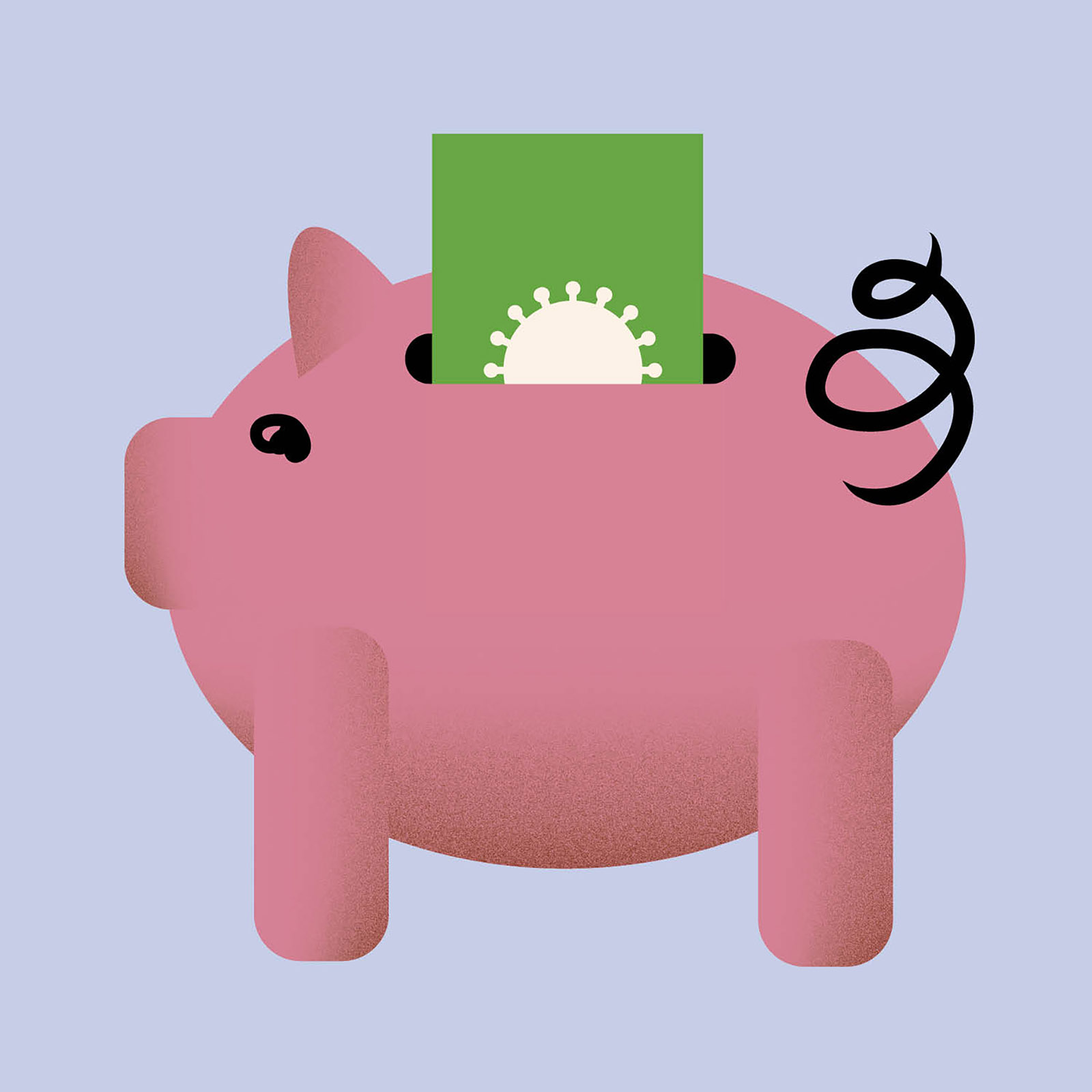Corey Robin
O historiador Arno Mayer morreu recentemente, aos 97 anos. A sua carreira começou com um livro que examinava dez meses de diplomacia durante a Primeira Guerra Mundial. Terminou com um par que ia da Grécia antiga ao Israel moderno. Não é incomum que os estudiosos comecem pequenos e terminem grande. Mas a viagem de Mayer não foi da estreiteza e da cautela para a grandeza e o risco. Desde o início, ele assumiu as questões mais profundas e as preocupações mais amplas, encontrando vastidão nos mínimos detalhes. Political Origins of the New Diplomacy (1959) descobriu nas letras miúdas dos meses de diplomacia de março de 1917 a janeiro de 1918 como a revolução russa transformou os objetivos de guerra das potências em conflito, levando aos Quatorze Pontos de Woodrow Wilson e inspirando “os partidos de movimento” para agir contra “os partidos da ordem”. O seguimento, Politics and Diplomacy of Peacemaking: Containment and Counterrevolution at Versailles (1967), que abrangeu, novamente, cerca de dez meses, desta vez de 1918 a 1919, traçou um movimento inverso: o triunfo da direita sobre a esquerda.
Mas algo mudou para Mayer ao longo desse meio século de escrita da história. Ele descobriu as verdades de Jacob Burckhardt e W.E.B. Du Bois - que nunca se pode começar uma obra de história pelo início e nunca se pode levá-la a um fim satisfatório. Você está sempre no meio. Mayer gostava de atribuir a sua situação intermediária ao fato de ter nascido judeu no Grão-Ducado do Luxemburgo. Filho de um povo marginal num país marginal, Mayer foi repelido pelo nacionalismo e atraído pelo cosmopolitismo como outros grandes historiadores da Europa de países pequenos: Pirenne (Bélgica), Huizinga (Holanda) e Burckhardt (Suíça). Essa herança o levou à história diplomática, a um mundo entre estados. Mayer contou esta história de origem tantas vezes - e a história tem sido contada tantas vezes - que passei a considerá-la o equivalente a um mito familiar. Eu vejo seu intermediário de forma diferente.
Fui apresentado a Arno ainda estudante em Princeton por meu colega de quarto, filho do historiador intelectual europeu Stuart Hughes. Não sei se foi minha personalidade ou minha ligação com Hughes, mas por alguma razão, Arno imediatamente me fez sentir como uma família. Sua escrita dá a impressão de um judeu sofisticado do velho mundo, mas em seu ser e comportamento, ele me lembrava nada mais do que minha família judia americana, muito não acadêmica, dos subúrbios de Nova York. Arno sempre perguntava primeiro sobre pais, filhos e avós, antes de falar sobre política ou estudos. Ele era afetuoso, demonstrativo, caloroso. Seus sentimentos eram tão fortes quanto suas opiniões eram afiadas. Ele tinha paixão e presença. Ele adorava fofocar e conspirar, especialmente em conferências acadêmicas. Ele se queixava, reclamava, era atarracado e baixo.
Esse era Arno. Esse também era o seu trabalho. Se era um meio-termo, não é porque ele obedeceu ou veio das margens. Era porque Arno, por disposição e temperamento, estava sempre tentando entrar, chegar ao centro das coisas, conectar-se através do perímetro. Outros historiadores diplomáticos estudaram as relações entre os estados. Arno olhou para dentro dos estados, para as relações internas e as lutas de poder internas. Quando escreveu sobre as Revoluções Francesa e Russa, não se voltou para Marx ou Lenin, mas para A Oresteia e a Bíblia Hebraica, textos mestres de violência familiar e vingança pessoal. Enquanto outros historiadores marxistas do século XX falaram da transição para o capital financeiro e a forma corporativa, Arno ficou mais impressionado com o poder de permanência da empresa familiar.
As suas ideias mais ousadas e duradouras - que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram como a Guerra dos Trinta Anos do século XVII; que a história da Europa moderna não é a de uma burguesia em ascensão, mas de uma aristocracia reinante; que o Holocausto pode ser comparado aos pogroms das Cruzadas, uma obra de ambição desviada, em que um exército saqueador do Ocidente, enlouquecido e frustrado na sua busca pelas terras do Oriente, manifesta o seu zelo e frustração sobre os judeus indefesos apanhados no caminho – não são criações de um opositor. São reflexos de um espírito que procura dissipar a aura despersonalizante e os mitos burocráticos da modernidade em favor de exemplos mais íntimos, domésticos, familiares e lineares, mas não menos tratáveis ou terríveis, do passado.
Essas e outras ideias fizeram de Arno o mais heterodoxo dos marxistas, um praticante do que ele chamava de história social vista de cima. Hoje, eles são lidos como despachos de notícias diárias. Vejamos o seu trabalho mais importante, The Persistence of the Old Regime (1981). Desde o momento da sua publicação, os especialistas desafiaram a afirmação de Mayer de que os interesses fundiários da nobreza europeia, incluindo os da Grã-Bretanha, permaneceram econômica e politicamente hegemóônicos durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar desses desafios, o livro, bem, persiste. Ele contém múltiplas provocações que passaram a parecer mais pertinentes com o tempo.
Na sua análise dos estados e impérios da Europa, particularmente das suas estruturas e instituições políticas, Mayer inspirou-se na famosa afirmação de Engels, no Anti-Dühring, de que à medida que a Europa moderna se tornou "cada vez mais burguesa... a ordem política permaneceu feudal". Poderíamos receber instruções semelhantes de Mayer (e Engels) hoje. Os Estados Unidos têm uma das ordens constitucionais mais arcaicas do mundo, projetado originalmente para proteger os interesses das classes proprietárias de terras, endinheiradas e escravizadoras, dos brancos e dos ricos, da maioria. Essa ordem constitucional ainda hoje protege e fortalece, através do Estado, os setores mais antigos, mais brancos, mais conservadores e mais privilegiados da sociedade. É também quase completamente impermeável às forças e exigências das mudanças demográficas e sociais, especialmente dos jovens, das pessoas de cor e dos novos imigrantes. De todas as constituições do mundo, a americana é a mais difícil de alterar. Embora acadêmicos e jornalistas prestem muita atenção à disfunção social da América - o racismo e outras patologias da classe trabalhadora branca, a recusa dos evangélicos em aceitar a verdade e os fatos, a influência tóxica da televisão e das redes sociais - eles prestam menos atenção ao que Schumpeter chamada de “armação de aço” da ordem política. Esse foi o grande tema de Mayer: o resquício arcaico do passado social e econômico, como ele toma forma no Estado e nas suas instituições, convidando forças reaccionárias, de elite mas em declínio, a encontrar refúgio, socorro, posição e espaço. Deveria ser o nosso.
Nem pode o capitalismo familiar discutido em The Persistence of the Old Regime ser tratado como um resquício europeu de um passado feudal. Graças ao trabalho de Thomas Piketty, Steve Fraser e Melinda Cooper, vemos agora o capitalismo familiar ou dinástico como um elemento do nosso presente neoliberal, uma recriação deliberada de uma forma que deveria ter sido destruída por duas guerras mundiais e substituída pela corporações multinacionais e bancos de investimento da economia global. Imaginado de diferentes maneiras por Mises, Hayek e Schumpeter - descendentes daquele enfraquecido império da Europa Central que Mayer continuamente anatomizou no seu trabalho - o capitalismo dinástico é o produto de movimentos e contra-ataques políticos da elite que Mayer pensava serem intrínsecos a todas as formas de capitalismo. O capitalismo político, segundo ele, é o único tipo de capitalismo.
Onde imaginamos a cidade de hoje como o lar da esquerda, The Persistence of the Old Regime lembra-nos que a cidade pode ser o espaço natural da direita. Na viragem do século passado, as cidades europeias, especialmente as capitais imperiais, empregavam um grande número de pessoas no setor terciário do comércio, finanças, imobiliário, governo e profissões. Os membros desses setores, que incluíam grande parte do que hoje chamaríamos de PMC, muitas vezes superavam em número as fileiras mais tradicionalmente reconhecidas do proletariado urbano. Longe de gerarem uma esquerda cosmopolita ou metropolitana, foram um terreno fértil para a direita radical.
Até recentemente, a geografia política da cidade de Mayer poderia ter parecido apenas de interesse histórico. Com a guerra de Israel contra Gaza, vale a pena ser relido. Uma aliança surgiu, ou simplesmente tornou-se visível, nos centros metropolitanos de toda a América - de doadores ricos de tecnologia, finanças e imobiliário, e dos seus subordinados; funcionários do governo; administradores e funcionários universitários; filantropos; impulsionadores e agitadores culturais; políticos locais de ambos os partidos; e políticos e grupos universitários pró-Israel - exercendo uma influência crescente sobre os espaços urbanos de cultura e educação. Estas não são as forças óbvias da reação trumpista - os pequenos empresários ou os concessionários de automóveis independentes que os esquerdistas têm enfatizado ou a classe trabalhadora branca que os liberais adoram odiar. Na verdade, muitos destes indivíduos contribuem para os Democratas e votaram em Biden. Mas são as fontes prototípicas de reacção de Mayer, reivindicando o manto da vitimização à medida que realçam os projetos imperiais de algumas das nações mais poderosas do planeta. E podem ajudar a colocar Trump de volta ao cargo.
Talvez a ideia mais proléptica – e, não coincidentemente, menos discutida - de Mayer seja a da vingança. Penso que surgiu mais tarde na carreira de Mayer, na sua obra The Furies (2000). Procurando contrariar o consenso revisionista sobre as Revoluções Francesa e Russa, que sustentava que o utopismo ideológico alimentou a sua queda na violência e no terror, Mayer afirmou que cada lado da luta, a revolução e a contra-revolução, foi inspirado por um desejo de vingança, de retaliar contra lesões de longa data e atos de violência mais recentes. Enquanto o lado revolucionário procurava impor o que Michelet chamava de "violência para acabar com a violência", para criar uma nova forma de soberania que detivesse a violência nas ruas e o derramamento de sangue no campo, rapidamente descobriu o que Clitemnestra e Orestes realizaram em A Oresteia: cada tentativa de um ato final de violência apenas prepara o terreno para a próximo.
Durante anos, li o relato de Mayer sobre a vingança como uma mera tentativa de salvar o pensamento utópico da mão morta da Guerra Fria. Mais recentemente, passei a pensar nisso como uma descrição misteriosa do que estava por vir, de como seriam a solidariedade e a animosidade após o fim da Era da Ideologia, da Era da Revolução ou da Era da Utopia. Todos os dias, na internet ou nas ruas, as pessoas são chamadas a vingar um ato praticado contra si ou contra seu grupo. Todos os dias, uma nova litania de lesões históricas é acumulada para explicar o excesso do dia anterior. Todos os dias, uma história de lealdade mútua ou confiança tímida é dissolvida para dar lugar ao excesso do dia seguinte. Nenhum conflito é resolvido; nenhum congresso é alcançado; nenhuma constituição é desenhada. É uma fúria sem fim.
Arno dedicou a sua vida a opor-se a esse mundo, a encontrar coerência no meio do caos, a extrair uma história do som, a identificar o caminho a seguir para o partido do movimento. Que ele tenha falhado, no final, em fazê-lo, que tenha acabado recorrendo aos textos mais antigos para explicar nossas situações mais modernas, é um pensamento triste e preocupante. No entanto, o seu exemplo ainda pode oferecer-nos um caminho a seguir. Sartre disse que “uma vitória descrita em detalhes é indistinguível de uma derrota”. Seria tolice pensar que poderíamos simplesmente inverter os predicados e prosseguir para a vitória a partir daí. Talvez possamos tentar uma abordagem diferente. Uma derrota descrita em detalhe não poderia oferecer à esquerda algo semelhante ao que Rosh Hashanah oferece aos judeus? Não é uma oportunidade para começar - Burckhardt (para não mencionar os rabinos) alertou contra essa ilusão - mas uma oportunidade para começar de novo.
Mas algo mudou para Mayer ao longo desse meio século de escrita da história. Ele descobriu as verdades de Jacob Burckhardt e W.E.B. Du Bois - que nunca se pode começar uma obra de história pelo início e nunca se pode levá-la a um fim satisfatório. Você está sempre no meio. Mayer gostava de atribuir a sua situação intermediária ao fato de ter nascido judeu no Grão-Ducado do Luxemburgo. Filho de um povo marginal num país marginal, Mayer foi repelido pelo nacionalismo e atraído pelo cosmopolitismo como outros grandes historiadores da Europa de países pequenos: Pirenne (Bélgica), Huizinga (Holanda) e Burckhardt (Suíça). Essa herança o levou à história diplomática, a um mundo entre estados. Mayer contou esta história de origem tantas vezes - e a história tem sido contada tantas vezes - que passei a considerá-la o equivalente a um mito familiar. Eu vejo seu intermediário de forma diferente.
Fui apresentado a Arno ainda estudante em Princeton por meu colega de quarto, filho do historiador intelectual europeu Stuart Hughes. Não sei se foi minha personalidade ou minha ligação com Hughes, mas por alguma razão, Arno imediatamente me fez sentir como uma família. Sua escrita dá a impressão de um judeu sofisticado do velho mundo, mas em seu ser e comportamento, ele me lembrava nada mais do que minha família judia americana, muito não acadêmica, dos subúrbios de Nova York. Arno sempre perguntava primeiro sobre pais, filhos e avós, antes de falar sobre política ou estudos. Ele era afetuoso, demonstrativo, caloroso. Seus sentimentos eram tão fortes quanto suas opiniões eram afiadas. Ele tinha paixão e presença. Ele adorava fofocar e conspirar, especialmente em conferências acadêmicas. Ele se queixava, reclamava, era atarracado e baixo.
Esse era Arno. Esse também era o seu trabalho. Se era um meio-termo, não é porque ele obedeceu ou veio das margens. Era porque Arno, por disposição e temperamento, estava sempre tentando entrar, chegar ao centro das coisas, conectar-se através do perímetro. Outros historiadores diplomáticos estudaram as relações entre os estados. Arno olhou para dentro dos estados, para as relações internas e as lutas de poder internas. Quando escreveu sobre as Revoluções Francesa e Russa, não se voltou para Marx ou Lenin, mas para A Oresteia e a Bíblia Hebraica, textos mestres de violência familiar e vingança pessoal. Enquanto outros historiadores marxistas do século XX falaram da transição para o capital financeiro e a forma corporativa, Arno ficou mais impressionado com o poder de permanência da empresa familiar.
As suas ideias mais ousadas e duradouras - que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram como a Guerra dos Trinta Anos do século XVII; que a história da Europa moderna não é a de uma burguesia em ascensão, mas de uma aristocracia reinante; que o Holocausto pode ser comparado aos pogroms das Cruzadas, uma obra de ambição desviada, em que um exército saqueador do Ocidente, enlouquecido e frustrado na sua busca pelas terras do Oriente, manifesta o seu zelo e frustração sobre os judeus indefesos apanhados no caminho – não são criações de um opositor. São reflexos de um espírito que procura dissipar a aura despersonalizante e os mitos burocráticos da modernidade em favor de exemplos mais íntimos, domésticos, familiares e lineares, mas não menos tratáveis ou terríveis, do passado.
Essas e outras ideias fizeram de Arno o mais heterodoxo dos marxistas, um praticante do que ele chamava de história social vista de cima. Hoje, eles são lidos como despachos de notícias diárias. Vejamos o seu trabalho mais importante, The Persistence of the Old Regime (1981). Desde o momento da sua publicação, os especialistas desafiaram a afirmação de Mayer de que os interesses fundiários da nobreza europeia, incluindo os da Grã-Bretanha, permaneceram econômica e politicamente hegemóônicos durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar desses desafios, o livro, bem, persiste. Ele contém múltiplas provocações que passaram a parecer mais pertinentes com o tempo.
Na sua análise dos estados e impérios da Europa, particularmente das suas estruturas e instituições políticas, Mayer inspirou-se na famosa afirmação de Engels, no Anti-Dühring, de que à medida que a Europa moderna se tornou "cada vez mais burguesa... a ordem política permaneceu feudal". Poderíamos receber instruções semelhantes de Mayer (e Engels) hoje. Os Estados Unidos têm uma das ordens constitucionais mais arcaicas do mundo, projetado originalmente para proteger os interesses das classes proprietárias de terras, endinheiradas e escravizadoras, dos brancos e dos ricos, da maioria. Essa ordem constitucional ainda hoje protege e fortalece, através do Estado, os setores mais antigos, mais brancos, mais conservadores e mais privilegiados da sociedade. É também quase completamente impermeável às forças e exigências das mudanças demográficas e sociais, especialmente dos jovens, das pessoas de cor e dos novos imigrantes. De todas as constituições do mundo, a americana é a mais difícil de alterar. Embora acadêmicos e jornalistas prestem muita atenção à disfunção social da América - o racismo e outras patologias da classe trabalhadora branca, a recusa dos evangélicos em aceitar a verdade e os fatos, a influência tóxica da televisão e das redes sociais - eles prestam menos atenção ao que Schumpeter chamada de “armação de aço” da ordem política. Esse foi o grande tema de Mayer: o resquício arcaico do passado social e econômico, como ele toma forma no Estado e nas suas instituições, convidando forças reaccionárias, de elite mas em declínio, a encontrar refúgio, socorro, posição e espaço. Deveria ser o nosso.
Nem pode o capitalismo familiar discutido em The Persistence of the Old Regime ser tratado como um resquício europeu de um passado feudal. Graças ao trabalho de Thomas Piketty, Steve Fraser e Melinda Cooper, vemos agora o capitalismo familiar ou dinástico como um elemento do nosso presente neoliberal, uma recriação deliberada de uma forma que deveria ter sido destruída por duas guerras mundiais e substituída pela corporações multinacionais e bancos de investimento da economia global. Imaginado de diferentes maneiras por Mises, Hayek e Schumpeter - descendentes daquele enfraquecido império da Europa Central que Mayer continuamente anatomizou no seu trabalho - o capitalismo dinástico é o produto de movimentos e contra-ataques políticos da elite que Mayer pensava serem intrínsecos a todas as formas de capitalismo. O capitalismo político, segundo ele, é o único tipo de capitalismo.
Onde imaginamos a cidade de hoje como o lar da esquerda, The Persistence of the Old Regime lembra-nos que a cidade pode ser o espaço natural da direita. Na viragem do século passado, as cidades europeias, especialmente as capitais imperiais, empregavam um grande número de pessoas no setor terciário do comércio, finanças, imobiliário, governo e profissões. Os membros desses setores, que incluíam grande parte do que hoje chamaríamos de PMC, muitas vezes superavam em número as fileiras mais tradicionalmente reconhecidas do proletariado urbano. Longe de gerarem uma esquerda cosmopolita ou metropolitana, foram um terreno fértil para a direita radical.
Até recentemente, a geografia política da cidade de Mayer poderia ter parecido apenas de interesse histórico. Com a guerra de Israel contra Gaza, vale a pena ser relido. Uma aliança surgiu, ou simplesmente tornou-se visível, nos centros metropolitanos de toda a América - de doadores ricos de tecnologia, finanças e imobiliário, e dos seus subordinados; funcionários do governo; administradores e funcionários universitários; filantropos; impulsionadores e agitadores culturais; políticos locais de ambos os partidos; e políticos e grupos universitários pró-Israel - exercendo uma influência crescente sobre os espaços urbanos de cultura e educação. Estas não são as forças óbvias da reação trumpista - os pequenos empresários ou os concessionários de automóveis independentes que os esquerdistas têm enfatizado ou a classe trabalhadora branca que os liberais adoram odiar. Na verdade, muitos destes indivíduos contribuem para os Democratas e votaram em Biden. Mas são as fontes prototípicas de reacção de Mayer, reivindicando o manto da vitimização à medida que realçam os projetos imperiais de algumas das nações mais poderosas do planeta. E podem ajudar a colocar Trump de volta ao cargo.
Talvez a ideia mais proléptica – e, não coincidentemente, menos discutida - de Mayer seja a da vingança. Penso que surgiu mais tarde na carreira de Mayer, na sua obra The Furies (2000). Procurando contrariar o consenso revisionista sobre as Revoluções Francesa e Russa, que sustentava que o utopismo ideológico alimentou a sua queda na violência e no terror, Mayer afirmou que cada lado da luta, a revolução e a contra-revolução, foi inspirado por um desejo de vingança, de retaliar contra lesões de longa data e atos de violência mais recentes. Enquanto o lado revolucionário procurava impor o que Michelet chamava de "violência para acabar com a violência", para criar uma nova forma de soberania que detivesse a violência nas ruas e o derramamento de sangue no campo, rapidamente descobriu o que Clitemnestra e Orestes realizaram em A Oresteia: cada tentativa de um ato final de violência apenas prepara o terreno para a próximo.
Durante anos, li o relato de Mayer sobre a vingança como uma mera tentativa de salvar o pensamento utópico da mão morta da Guerra Fria. Mais recentemente, passei a pensar nisso como uma descrição misteriosa do que estava por vir, de como seriam a solidariedade e a animosidade após o fim da Era da Ideologia, da Era da Revolução ou da Era da Utopia. Todos os dias, na internet ou nas ruas, as pessoas são chamadas a vingar um ato praticado contra si ou contra seu grupo. Todos os dias, uma nova litania de lesões históricas é acumulada para explicar o excesso do dia anterior. Todos os dias, uma história de lealdade mútua ou confiança tímida é dissolvida para dar lugar ao excesso do dia seguinte. Nenhum conflito é resolvido; nenhum congresso é alcançado; nenhuma constituição é desenhada. É uma fúria sem fim.
Arno dedicou a sua vida a opor-se a esse mundo, a encontrar coerência no meio do caos, a extrair uma história do som, a identificar o caminho a seguir para o partido do movimento. Que ele tenha falhado, no final, em fazê-lo, que tenha acabado recorrendo aos textos mais antigos para explicar nossas situações mais modernas, é um pensamento triste e preocupante. No entanto, o seu exemplo ainda pode oferecer-nos um caminho a seguir. Sartre disse que “uma vitória descrita em detalhes é indistinguível de uma derrota”. Seria tolice pensar que poderíamos simplesmente inverter os predicados e prosseguir para a vitória a partir daí. Talvez possamos tentar uma abordagem diferente. Uma derrota descrita em detalhe não poderia oferecer à esquerda algo semelhante ao que Rosh Hashanah oferece aos judeus? Não é uma oportunidade para começar - Burckhardt (para não mencionar os rabinos) alertou contra essa ilusão - mas uma oportunidade para começar de novo.