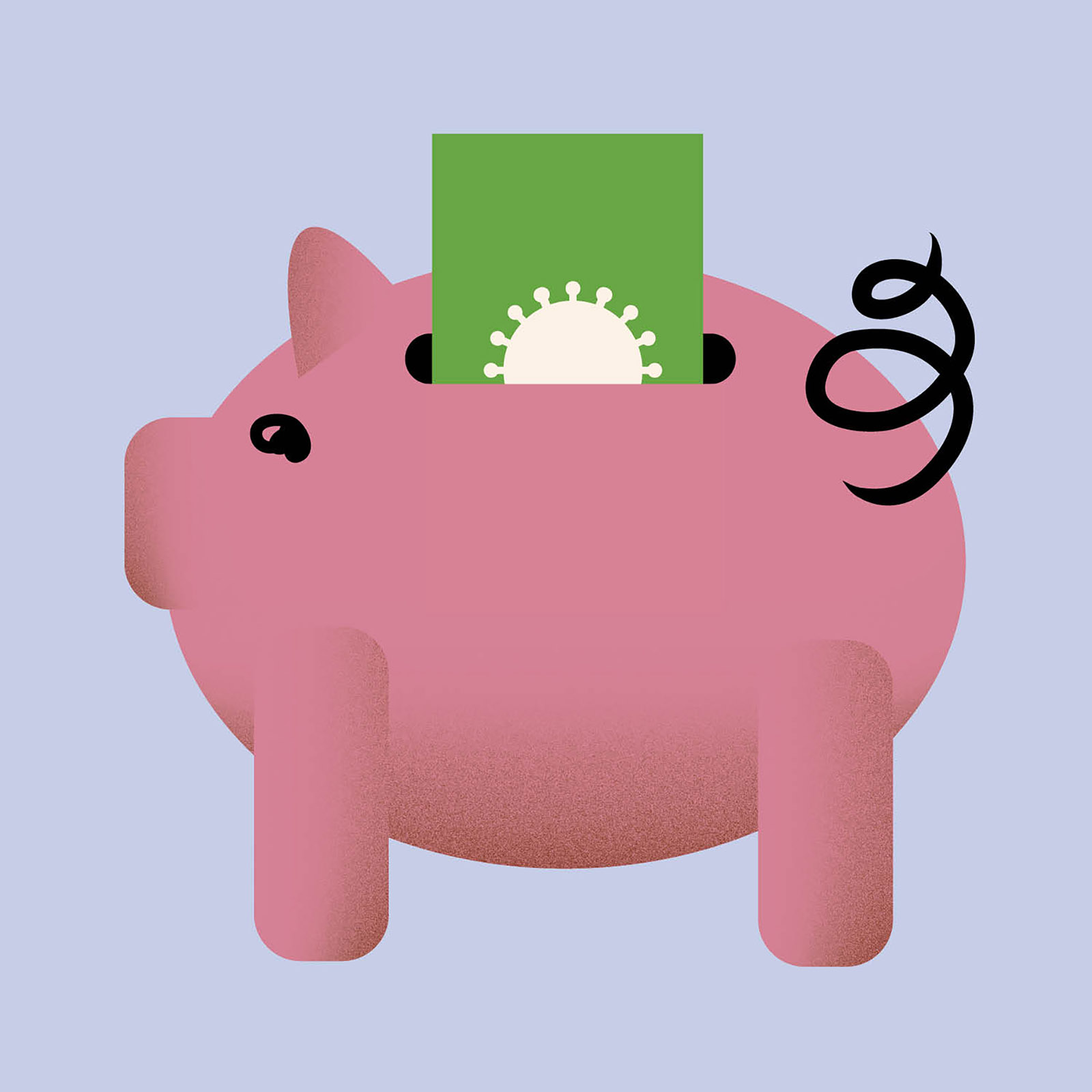Matthew Desmond
 |
| Fotografias de Jason Fulford |
White Poverty: How Exposing Myths About Race and Class Can Reconstruct American Democracy
por Reverend Dr. William J. Barber II com Jonathan Wilson-Hartgrove
Liveright, 270 pp., $22.99
Durante a última salva das sangrentas guerras do carvão da Virgínia Ocidental, travadas na década de 1910 e no início da década de 1920, o xerife do Condado de Logan, Don Chafin, tendo sido bem pago pelas empresas de mineração, ordenou que seus homens voassem biplanos sobre mineiros negros e brancos em greve e jogassem bombas cheias de pólvora e parafusos de metal em suas cabeças. Um piloto que executou essa ordem pode ter olhado para baixo antes de liberar sua carga mortal e avistado na briga um jovem mineiro negro que, como um pregador da Santidade, poderia muito bem estar rezando. Esse mineiro sobreviveu à Batalha de Blair Mountain e teve uma filha, que mais tarde se casaria com um marinheiro que havia retornado para casa da Segunda Guerra Mundial apenas para encontrar Jim Crow esperando por ele. O casal se juntou ao movimento pelos direitos civis e, quando tiveram seus próprios filhos, os apresentou à luta. Uma dessas crianças, William J. Barber II, nascido no início da década de 1960, cresceu e se tornou a voz mais profética da nação em nome dos pobres americanos. Pode-se dizer que a luta estava no seu sangue.
por Reverend Dr. William J. Barber II com Jonathan Wilson-Hartgrove
Liveright, 270 pp., $22.99
Durante a última salva das sangrentas guerras do carvão da Virgínia Ocidental, travadas na década de 1910 e no início da década de 1920, o xerife do Condado de Logan, Don Chafin, tendo sido bem pago pelas empresas de mineração, ordenou que seus homens voassem biplanos sobre mineiros negros e brancos em greve e jogassem bombas cheias de pólvora e parafusos de metal em suas cabeças. Um piloto que executou essa ordem pode ter olhado para baixo antes de liberar sua carga mortal e avistado na briga um jovem mineiro negro que, como um pregador da Santidade, poderia muito bem estar rezando. Esse mineiro sobreviveu à Batalha de Blair Mountain e teve uma filha, que mais tarde se casaria com um marinheiro que havia retornado para casa da Segunda Guerra Mundial apenas para encontrar Jim Crow esperando por ele. O casal se juntou ao movimento pelos direitos civis e, quando tiveram seus próprios filhos, os apresentou à luta. Uma dessas crianças, William J. Barber II, nascido no início da década de 1960, cresceu e se tornou a voz mais profética da nação em nome dos pobres americanos. Pode-se dizer que a luta estava no seu sangue.
O reverendo Barber usa muitos chapéus. Ele é o presidente da Repairers of the Breach e copresidente da Poor People’s Campaign, ambas organizações nacionais antipobreza, e o diretor fundador do Center for Public Theology and Public Policy na Yale Divinity School. (Participei de eventos com a Poor People’s Campaign e promovi seu trabalho.) Mas em seu último livro, White Poverty, Barber é simplesmente um “vigia”, alguém que deve “clamar alto, não poupar”, como o profeta Isaías exortou. “Escrevi este livro para pedir à América que olhe seus pobres — todos os seus pobres — de frente”, escreve Barber.
Esse parece ser o fardo perene do escritor sobre pobreza: virar a cabeça dos confortáveis para todo o desespero esfarrapado do lado de fora de seus portões. (“Aqui está uma grande massa de pessoas”, escreveu Michael Harrington em The Other America (1962), “mas é preciso um esforço do intelecto e da vontade até mesmo para vê-los.”) Alguém tem que fazer isso. Muitos políticos não apenas ignoram os pobres, mas, a conselho de seus consultores, fazem de tudo para evitar dizer a palavra “pobreza” completamente. Autoridades eleitas tendem a ser ricas — muitos membros do Congresso são milionários — mas pastores geralmente não são. No entanto, membros do clero também têm se mantido em silêncio sobre a privação americana. “Estou incomodado”, escreve Barber, “com pessoas que falam tanto sobre o que Deus diz tão pouco, e tão pouco sobre o que Deus diz tanto — especialmente a situação dos pobres e rejeitados na sociedade.”
As últimas estatísticas do governo estimam que entre 11,5 e 12,4 por cento dos americanos viviam na pobreza em 2022, dependendo da medida. Isso equivale a entre 37,9 e 40,9 milhões de pessoas, ou aproximadamente a população da Califórnia. Ainda assim, Barber considera essas contagens muito baixas. Em 2022, uma família de quatro pessoas era considerada pobre se ganhasse menos de US$ 29.679 naquele ano, mas uma pesquisa Gallup de 2023 descobriu que a maioria dos americanos acredita que tal família precisa de pelo menos US$ 85.000 para sobreviver.
Pode-se fazer o problema da pobreza parecer menor do que é ignorando todos os americanos que são pobres de muitas formas, exceto oficialmente: pessoas que não são pobres o suficiente para se qualificar para moradia pública, mas nunca serão capazes de pagar uma hipoteca; aqueles que não são pobres o suficiente para receber Medicaid, mas também não podem pagar um seguro privado.
Barber prefere uma definição mais ampla de pobreza, uma que considere alguém pobre se uma emergência de US$ 400 o impediria de cobrir suas necessidades básicas mensais. Usando essa métrica, ele estima que em um país de 337 milhões de pessoas, espantosos 140 milhões são pobres ou de baixa renda.
A maioria dos especialistas endossaria a posição de Barber de que a linha de pobreza está muito baixa, mas pararia bem antes de sua afirmação de que "quase metade" do país é pobre. Mas o argumento de Barber não é apenas estatístico; ele decorre do que ele viu. Ele conheceu pessoas vivendo em seus carros enquanto ganhavam salários que as colocam diretamente acima da linha de pobreza. Ele notou vasilhas com comida de cachorro na cozinha de uma família com crianças pequenas, mas sem cachorro.
Quanto às estatísticas, há evidências sólidas de que muitas dificuldades são enfrentadas acima da linha oficial de pobreza. Um estudo descobriu que mais de 20% das famílias com renda 200% acima do limite de pobreza sofrem de insegurança alimentar. O Medicaid cobre cerca de 40% de todos os nascimentos na América. Em fevereiro e março deste ano, o Censo estimou que um quarto das famílias que alugam e ganham entre US$ 50.000 e US$ 74.999 por ano provavelmente enfrentariam despejo nos próximos dois meses. Descobertas como essas nos ajudam a entender por que dados que ignoram milhões de famílias flutuando inquietos entre a pobreza oficial e a segurança real deixam Barber tão irritado.
Os números oficiais de pobreza "constituem uma mentira maldita", ele escreve. Esta é uma das razões pelas quais Barber escolheu se concentrar na pobreza branca em seu novo livro. Porque se você acredita que a pobreza é um problema menor, que é principalmente um problema dos negros, um problema dos imigrantes, um problema do sul, um problema das cidades democratas — um problema deles — então não é exagero acreditar que os pobres são os únicos culpados por suas misérias.
Uma série de intelectuais negros abordou o assunto da pobreza branca. Em My Bondage and My Freedom (1855), Frederick Douglass escreveu sobre o ridículo que os brancos pobres e não escravistas enfrentavam antes da Guerra Civil, chamando-os de "motivo de chacota até mesmo dos próprios escravos". W.E.B. Du Bois descreveu como os trabalhadores brancos eram compensados por seus escassos salários com um "salário público e psicológico". Langston Hughes incluiu "os brancos pobres, enganados e afastados" em seus poemas, assim como Toni Morrison em seus romances. Barber considera a pobreza branca como parte de seu projeto de construir um movimento de massa por justiça econômica, que rejeita a noção de que ativismo e desobediência civil "são apenas para pessoas negras". Como o sociólogo americano de Trinidad Oliver Cromwell Cox ou Du Bois (especialmente em sua obra-prima de 1935, Black Reconstruction in America), Barber acredita que o racismo cria uma divisão entre os brancos pobres e os negros pobres, cujas necessidades e interesses estão de fato profundamente alinhados.
A maioria dos pobres nos Estados Unidos é branca, é claro, embora uma proporção maior de negros e hispânicos americanos viva na pobreza. No entanto, muitos brancos têm dificuldade em admitir que são ou foram pobres. Em várias ocasiões, pessoas brancas me disseram que quando eram crianças "eram pobres, mas não sabiam". Sempre acho isso um pouco engraçado, já que nenhuma pessoa negra ou hispânica jamais me disse tal coisa. Quando eram pobres, sabiam. A pobreza negra e hispânica pode ser mais severa do que a pobreza branca, mas também acredito que os brancos sentem que reconhecer sua pobreza significa, em algum nível, negar sua branquitude. "É entendido", Frantz Fanon certa vez brincou, "que alguém é branco acima de um certo nível financeiro".
A experiência de sobreviver a dificuldades econômicas fornece, na visão de Barber, a base primária de solidariedade entre os pobres. "Se você não pode pagar sua conta de luz", ele brinca, "somos todos negros no escuro". Mas então por que tantos americanos brancos pobres continuam a apoiar políticos que se recusam a expandir o Medicaid, fortalecer sindicatos, investir em educação pública ou financiar moradias populares? Para permanecer fiel às elites econômicas enquanto apela a um eleitorado amplo, a direita promove políticas que enriquecem as corporações e a classe alta, ao mesmo tempo em que desenvolve ou amplifica narrativas culturais que alimentam a divisão social.[2] Cortes de impostos para os ricos; restrições ao aborto para o resto. E talvez nada tenha sido mais eficaz, mais inebriante e mais ruinoso nesse esforço do que o racismo.
Em seu livro agora clássico Why Americans Hate Welfare (1999), o cientista político Martin Gilens compila uma impressionante variedade de dados mostrando que, ao contrário da opinião popular, os americanos geralmente apoiam "quase todos os aspectos do estado de bem-estar social". No entanto, esse apoio vacila quando o público assume erroneamente que a maioria dos beneficiários de auxílio governamental são negros. É por isso que menos americanos apoiaram o Affordable Care Act quando ele era chamado de Obamacare. É por isso que um estudo publicado no ano passado descobriu que apenas pedir às pessoas para pensarem sobre imigração as tornava menos propensas a apoiar políticas redistributivas e doações de caridade. Quer tenham aderido a um tipo de pensamento de soma zero em que ganhos não brancos exigem perdas brancas, quer tenham assumido que pessoas não brancas são preguiçosas e um dreno para a sociedade, muitos americanos brancos pobres continuam a endossar agendas políticas que os prejudicam diretamente.
No entanto, ao longo de sua vida, Barber testemunhou esses velhos e cansados esquemas fracassarem. Certa vez, durante uma reunião com mineradores do Kentucky, Barber soube de políticos que vinham à cidade “falando sobre como os gays supostamente ameaçavam seus valores” enquanto empoderavam corporações multinacionais para conduzir mineração no topo das montanhas sem nenhuma consideração pelo bem-estar ou meio ambiente dos mineradores. “Esses idiotas que nos disseram que nossos filhos [gays] iriam destruir a comunidade a entregaram a empresas que estão dispostas a explodir as montanhas”, disse um minerador ao reverendo. Outro acrescentou: “Eles têm nos jogado uns contra os outros”. Nesses momentos, Barber vislumbra um possível caminho a seguir. Reconhecendo que “os brancos são potencialmente a maior base para um movimento de pessoas pobres”, ele busca o que tantos antes dele buscaram: uma maneira de unir pessoas pobres e da classe trabalhadora em divisões raciais e políticas.
Barber sonda “as evidências da violência da pobreza branca para que possamos ver através das rachaduras em um sistema quebrado” e reagir contra forças que minam “coalizões políticas entre raças e classes”. Isso envolve superar a resistência tanto da direita quanto da esquerda. Se a direita semeia divisão por meio de guerras culturais, a esquerda se envolve em uma política de queixas que enfatiza nossas diferenças em detrimento do reconhecimento de nossa luta compartilhada. Barber reserva suas críticas mais duras para as elites que resistem a ultrapassar as divisões sociais porque sua autoridade (e muitas vezes suas carreiras) está enraizada na representação de um conjunto restrito de questões. Para o resto de nós, ele oferece um aviso gentil contra a política de identidade que nos puxa para dentro.
É possível encontrar muitas pessoas reclamando da política de identidade nas páginas de opinião hoje em dia, mas elas geralmente soam como professores mal-humorados dando palestras para alunos de graduação. Barber parece emitir seu argumento de uma cadeira dobrável no porão de uma igreja após um potluck. “Ninguém nunca vence uma competição de tentar provar que sua dor dói mais do que a de outra pessoa”, ele escreve. “Há um efeito de nivelamento no cemitério, onde todos os que foram espancados pelos males deste mundo estão igualmente mortos.” Este não é o “modo de activismo de sala de seminários” censurador comum no meio acadêmico.[4] É o trabalho caloroso da organização comunitária, o material de sentar nas varandas, ser preso por exigir seguro saúde para os pobres e ouvir uma mulher mais velha dizer ao senador da Virgínia Ocidental Joe Manchin, depois que ele se recusou a apoiar um salário mínimo mais alto, "Eu conhecia sua mãe".
Os movimentos de massa, por definição, devem incluir pessoas que não concordam em tudo. Quando imaginamos os tipos de pessoas que poderiam se juntar a nós sob uma tenda tão grande, nossas mentes geralmente voam para os extremos, fazendo-nos recuar diante da ideia de apertar as mãos desses tipos. Mas Barber não está interessado em dar as mãos aos manifestantes de 6 de janeiro mais do que o Dr. King estava com Bull Connor — embora, deve-se dizer, coisas mais loucas tenham acontecido. Durante a Grande Depressão, os comunistas negros foram acompanhados por ex-membros da Ku Klux Klan em sua luta por reformas políticas e econômicas.
E Barber uma vez se viu andando na caçamba de um caminhão com um adesivo de para-choque da bandeira confederada quando estava em campanha com republicanos brancos para reabrir um hospital rural. Barber não busca compromisso com grupos marginais violentos da direita, mas também não tem utilidade para pureza política, onde trabalhar com alguém em uma questão específica requer alinhamento em todas as outras também. Como diz o velho refrão, na política não há inimigos permanentes nem aliados permanentes — apenas interesses permanentes.
A história da luta dos pobres e da classe trabalhadora na América tem sido uma história de brancos contra negros, cidadãos contra imigrantes, urbanos contra rurais — uma história de luta por restos. Mas houve momentos poderosos em que as pessoas superaram essas divisões no interesse da solidariedade de classe. O Congresso de Organizações Industriais (CIO), um comitê da Federação Americana do Trabalho (AFL) que se formou em 1935 e operou como uma organização independente do final de 1938 a 1955, criou uma campanha em torno do mantra "Preto e branco, uni-vos e lutai". Ao contrário da AFL abertamente racista, o CIO pediu a seus membros que prometessem "nunca discriminar um colega de trabalho por conta de credo, cor ou nacionalidade". Durante uma campanha sindical do CIO em 1935, um operário siderúrgico branco pediu a seus colegas de trabalho que "esquecessem que o homem que trabalha ao seu lado é" branco, negro ou judeu. "[Ele] é um trabalhador como você e está sendo explorado pelo 'chefe' em nome do preconceito racial e religioso".
A base do CIO entendeu que sua luta não era com colegas de trabalho pertencentes a diferentes grupos raciais ou partidos políticos, mas com elites corporativas puxando as cordas. Se isso foi realizado há quase cem anos, quando o racismo era muito mais descarado, certamente pode ser realizado hoje, como os esforços de organização multirracial que deram origem à Luta por US$ 15 demonstraram. "É fácil ficar sobrecarregado pelo poder dos velhos mitos", escreve Barber. "Mas quando ouvimos atentamente as músicas da América, a fusão está ao nosso redor." Essas músicas podem ser difíceis de ouvir hoje em dia, com história após história sobre o quão divididos nos tornamos. Mas toda a conversa sobre a divisão em si pode dividir? E nossas divisões, à medida que se aprofundam, também podem aprofundar nosso compromisso de superá-las?
Nossas notícias e comentários políticos são oferecidos por pessoas que, eu suspeito, não passaram muito tempo no North Carolina High Country. Barber olha ao redor e não vê apenas uma nação polarizada. Verdade seja dita, nem muitos outros organizadores comunitários com quem me encontrei ao longo dos anos, pessoas que gastaram seus sapatos lutando por medidas eleitorais e coletando assinaturas. Esses agentes de ação reconhecem que estamos muito menos divididos nas arquibancadas de um jogo de futebol de sexta à noite ou na fila do correio do que nas mídias sociais ou em programas de entrevistas políticos. E eles reconhecem também que muitas de nossas crenças não são tão intratáveis quanto parecem à primeira vista.
A ciência social está começando a afirmar o que os organizadores da velha escola intuíram há muito tempo: que conversas cara a cara podem suavizar preconceitos e mudar as atitudes das pessoas sobre políticas de bem-estar. Um estudo respeitado publicado no American Journal of Political Science relatou os resultados de um experimento de 2019 que buscava aumentar o apoio à inscrição de imigrantes não autorizados no Medicaid. Os ativistas bateram de porta em porta em Michigan, Pensilvânia e Carolina do Norte. Durante algumas visitas, eles compartilharam uma história que elevou as perspectivas de imigrantes não autorizados; durante outras, eles tiveram uma breve conversa sobre um tópico não relacionado. Quatro meses após o estudo, os eleitores expostos aos pontos de vista de imigrantes não autorizados estavam muito mais propensos a expressar apoio a um plano para incluir esses imigrantes em programas de assistência médica do governo. Não precisamos nos submeter a um treinamento extensivo para ter conversas eficazes entre divisões raciais ou políticas. Mas precisamos encontrar a coragem de deixar o conforto de nossa vizinhança e bolhas de mídia. É por isso que o organizador comunitário George Goehl chama as conversas individuais de "talvez a organização mais fundamental de todas".
Barber não vê condados vermelhos e azuis tanto quanto os desorganizados, "onde o maior bloco de eleitores não é republicano ou democrata, mas sim pessoas pobres que muitas vezes não votam". Nas últimas duas eleições presidenciais, mais de 60% dos não eleitores viviam em lares que ganhavam menos de US$ 50.000 por ano, mas a maioria das pessoas nessa faixa de renda que votaram escolheu Clinton em 2016 e Biden em 2020. É por isso que Barber acha que os pobres são os novos eleitores indecisos, "o gigante adormecido que, se despertado, pode decidir o futuro da nação". Afinal, os pobres têm mais a ganhar com políticas que estabelecem um salário digno, expandem moradias acessíveis e promovem os direitos dos trabalhadores.
Os americanos pobres sairão em massa para apoiar a chapa Harris-Walz? Harris deu a eles alguns motivos para isso. Em um importante discurso em agosto, ela argumentou que "nenhuma criança deveria crescer na pobreza", prometendo resolver a escassez de moradias no país com a construção de três milhões de novas casas até o final de seu primeiro mandato e restaurar e expandir o crédito tributário infantil estendido promulgado temporariamente em 2021, uma iniciativa que reduziu a pobreza infantil quase pela metade naquele ano.
Essas políticas trariam alívio muito necessário a milhões de famílias em dificuldades. No entanto, a quietude política entre os americanos pobres e da classe trabalhadora há muito tempo incomoda os candidatos democratas. Quando John F. Kennedy visitou West Virginia durante sua campanha presidencial, ele encontrou, de acordo com Daniel Patrick Moynihan, "a incrível pauperização do povo das montanhas", mas "quase sem um som de protesto". Hoje, a supressão de eleitores, uma sensação generalizada de impotência por anos de repressão e o declínio dos sindicatos se combinaram para minar o poder político dos pobres americanos.
O reverendo Barber quer mudar isso. Em comunidades exploradas e deixadas para trás, onde outros muitas vezes veem apenas desespero e miséria, Barber vê poder. Onde outros veem divisão, Barber vê o potencial para unidade. E onde outros descem à desesperança, Barber expressa uma imaginação profética. “É tarefa do profeta exprimir as novas realidades contra as mais visíveis da velha ordem”, escreveu o teólogo Walter Brueggemann. É o que um vigia faz.