A natureza do atual sistema socioeconômico da China tem sido debatida há algum tempo. Refletindo sobre o Adam Smith em Pequim de Giovanni Arrighi, Joel Andreas traça o caminho das relações de propriedade, serviços sociais e distribuição de renda na RPC desde o final dos anos setenta, chegando a conclusões inequívocas.
Joel Andreas
Ao longo da última década, a China passou a desempenhar, em poucos anos, um papel muito relevante na cena económica internacional e é cada vez mais comum ler que está a caminhar para se transformar na potência dominante do mundo. Na literatura dedicada a tais previsões, o trabalho de Giovanni Arrighi Adam Smith em Pequim (2007) distingue-se por duas razões. A primeira delas é que Arrighi enquadra a sua análise num grande e sofisticado modelo histórico de ascensão e da queda de uma sequência de potências hegemónicas. A segunda razão é que enquanto muitos estudiosos ocidentais vêem a ascensão da China com uma certa inquietação, Arrighi dá-lhe as boas-vindas com entusiasmo.
No modelo de Arrighi, que este desenvolveu de forma mais completa em The Long Twentieth Century (1994), o sistema do mundo capitalista evoluiu através de uma uma sucessão de ciclos hegemónicos. Cada um destes ciclos foi dominado por uma potência única e embora tenham tido características distintas, até agora todas as suas trajectórias têm evoluído de modo similar. Quando The Long Twentieth Century foi publicado, Arrighi estava já convencido de que o centro global da acumulação do capital se estava a deslocar do Atlântico Norte para a Ásia Oriental, embora naquela altura a China tivesse apenas iniciado a transformação da sua economia de um forma que lhe viria a permitir integrar-se inteiramente na economia global e transformar-se na “fábrica do mundo”. Hoje, a emergência de China como um poder económico global, e os contratempos militares e económicos dos Estados Unidos, deram a Arrighi a confiança para prever que a época da hegemonia americana será provavelmente seguida de uma era do domínio da Ásia Oriental, com a China no seu centro.
Para Arrighi, a hegemonia chinesa sobre o mundo pode ter três resultados positivos. Primeiro, reestruturando a hierarquia actual dos poderes, dominada pelo Ocidente, um período de superioridade da Ásia Oriental pode trazer maior igualdade entre as nações do mundo. Em segundo lugar, a hegemonia chinesa pode provar ser menos militarista e mais pacífica do que a hegemonia precedente dos Europeus e Americanos. Em terceiro lugar a ascensão da China pode abrir caminho a um desenvolvimento mais igualitário e mais humano da Ásia Oriental - um desenvolvimento baseado nas trocas de mercado, mas que não será capitalista.
O cenário optimista de Arrighi deu origem a reacções negativas por parte de analistas convencidos da superioridade da civilização Ocidental, e a análises mais cuidadas e positivas, por parte de outros, menos confiantes na ordem mundial produzida pela dominação ocidental. Cada uma das suas três previsões merece uma séria análise individual. Neste ensaio, limitar-meei apenas à última – que a China pode ser pioneira no desenvolvimento de um sistema de mercado não capitalista.
Naturalmente, o que se vê depende fortemente do enquadramento conceptual que se utiliza. Arrighi começa com um modelo do capitalismo derivado da narrativa histórica de Braudel sobre o desenvolvimento do capitalismo na Europa. Braudel dividiu a economia em três camadas.
Na parte inferior, a actividade económica consistiu na produção de bens de subsistência, com poucas trocas no mercado. Uma camada média era composta por actividades orientadas para o mercado organizado por empresários concorrentes entre si. O escalão superior era reservado aos que em rigor se poderiam considerar os capitalistas, tirando proveito das posições de monopólio e associados fortemente ao poder do Estado. Este é um enquadramento que tem servido de suporte de muitas análises dos sistemas-mundo, e Arrighi emprega-o para sugerir modelos distintos para o desenvolvimento do Ocidente e da Ásia Oriental. A Ocidente, os capitalistas dominaram o Estado, gerando uma combinação poderosa de expansão económica e militar que permitiu que às potências ocidentais conquistarem o mundo. Na Ásia Oriental, pelo contrário, um Estado forte promoveu as trocas mercantis, mas manteve o capital em grande escala sob o seu controle. Este modelo floresceu sob a supervisão hegemónica do império chinês, presidindo a um sistema relativamente pacífico de relações entre estados na região, o que fez deste império o mais rico no mundo até ao século XIX. Com o declínio do Estado chinês e a integração da Ásia Oriental numa economia mundial dominada pelas potências europeias durante o século XIX e princípio do século XX, o Japão enxertou elementos da economia capitalista ocidental na sua própria economia, criando assim um sistema híbrido.
Em The Long Twentieth Century, Arrighi tinha esperança de que o poder económico crescente do Japão, desprovido da sua dimensão militar após a segunda guerra mundial, pudesse promover um novo modelo em que o poder económico e o militar estariam dissociados, e poderia eventualmente gerar uma sociedade de mercado mundial póscapitalista. Em Adam Smith em Pequim, Arrighi desloca a sua atenção para a China, onde, escreve, um forte Estado-Providência criado pela revolução comunista tinha redescoberto o dinamismo económico do mercado, promovendo a iniciativa de massas de pequenos empresários, rurais e urbanos. À medida que a China conduz a Ásia Oriental no processo de recuperação da sua antiga posição de região economicamente mais desenvolvida do globo, sugere o autor, esta pode escolher conformar-se ao paradigma do capitalismo ocidental ou pode, em alternativa, traçar um trajecto diferente, mais de acordo com seu próprio passado.
Arrighi desenvolve os seus modelos numa grande escala, abrangendo as redes globais do poder e comércio, a concorrência entre os Estados e a evolução dos sistemas económicos políticos ao longo de centenas de anos. Como outros que trabalham no paradigma dos sistemas-mundo, ele está mais preocupado com as estruturas que reproduzem a desigualdade internacional do que com aquelas que reproduzem a desigualdade no interior das nações. Consequentemente, dá pouca atenção à análise dos detalhes das relações da produção. O que poderemos nós ver se revisitarmos a história económica chinesa recente, centrando a nossa atenção nas relações da produção? Esta será a minha linha de análise e com esta finalidade utilizarei o enquadramento conceptual de Marx. Considerarei de seguida a sugestão de Arrighi que a China pode estar a ser pioneira ao seguir uma trajectória de desenvolvimento diferente do Ocidente, usando a definição de Braudel do capitalismo, que se centra na relação entre o capital e o Estado.
Marx e Mao
O enquadramento de Marx é largamente familiar, pelo que o referirei de modo rápido afim de construir uma tipologia em três partes das organizações económicas com as quais analisaremos as mudanças no sistema económico da China. O primeiro tipo é baseado no trabalho familiar, o segundo é baseado na unidade de trabalho socialista e a terceira no trabalho assalariado capitalista.
Antes do advento do capitalismo, escreveu Marx, tanto nas zonas rurais como nos agrupamentos urbanos, o trabalho esteve sempre firmemente ligado aos meios de produção, e nenhum poderia ser livremente comprado e vendido. O capitalismo separou os dois e colocou ambos no mercado, criando um sistema baseado na troca livre do trabalho assalariado e meios de produção. Nos sistemas anteriores, as responsabilidades relativas quer à produção quer ao consumo tinham sido combinadas dentro das mesmas organizações económicas, que eram tipicamente baseadas na família e o consumo era a finalidade final da produção. Uma vez que as empresas capitalistas eram livres de empregar e despedir os trabalhadores e não tinham nenhuma responsabilidade quanto ao consumo dos seus empregados, poderiam, em contraste, fazer do lucro o seu objectivo principal. Isto fez do capitalismo um sistema dinâmico que era muito eficiente em afectar trabalho a fim de maximizar os lucros e de acumular capital. Embora as empresas capitalistas tenham existido desde há muito tempo, a primeira vez que o trabalho assalariado se transformou na forma dominante das relações da produção foi na Inglaterra durante a Revolução Industrial. A propagação das relações de produção capitalistas conduziu a concentrações extremas de actividade económica e a uma polarização severa entre classes sociais, alcançando níveis que tinham sido impossíveis sob sistemas baseados no trabalho familiar. Devido ao seu dinamismo e eficiência, Marx previu que este sistema seria dominante à escala mundial, mas antecipou igualmente que o socialismo poderia então inverter o que capitalismo tinha feito, voltando a reunir o trabalho e os meios de produção.
Antes de 1949, muita da economia chinesa estava organizada em torno das trocas mercantis, mas as relações capitalistas de produção desempenhavam apenas um papel relativamente limitado. A China tinha sido durante muito tempo uma sociedade altamente comercial, em que a terra era comprada e vendida e os produtos consumidos em massa, incluindo os cereais e os têxteis comuns eram comercializados em grande escala como matérias-primas. Muitos, se não a maioria, dos agregados familiares camponeses estavam envolvidos no mercado, vendendo não somente bens agrícolas, mas também produtos fabricados pelo agregado familiar, incluindo tecidos. Durante o século que antecedeu a revolução de 1949, o sector capitalista (isto é, o sector assente no trabalho assalariado) estava em crescimento mas era ainda microscópico e a produção dos agregados familiares camponeses, baseada no trabalho da família, constituía a maioria da produção da economia.
Durante a era de Mao Tsé Tung, 1949 a 1976, ambos os sectores do trabalho familiar e capitalista, foram virtualmente eliminados; as trocas no mercado foram restringidas fortemente e a economia foi reorganizada ao longo das linhas socialistas. A totalidade da população rural converteu-se em membros das brigadas colectivas da produção, e virtualmente toda a população urbana em membros das unidades de trabalho (que incluíam os funcionários do governo, as instituições tais como hospitais e escolas, as empresas de propriedade estatal e as colectivas). Os membros da unidade colectiva de trabalhadores eram pagos como assalariados, mas eram empregados permanentes, de modo que o trabalho não era assumido como uma mercadoria, livremente trocada. Tal como as famílias, as brigadas rurais da produção e as unidades de trabalho urbanas não podiam despedir os seus membros, e eram responsáveis não somente pela organização da produção mas também tinham a obrigação de garantir o consumo aos seus membros, o que reduzia estruturalmente a possibilidade de se tomar como objectivo máximo o lucro. Marx, pretendia que o trabalho e os meios de produção se reunissem, e isto foi precisamente o que o Partido Comunista Chinês fez.
Uma economia de mercado não-capitalista
Durante o período que se seguiu imediatamente a Mao, 1976 a 1992, as reformas iniciais do mercado constituíram o que poderia ser chamado uma economia de mercado não-capitalista. A China urbana continuou a ser dominada pelo sector público; apesar de empresas privadas em pequena escala terem sido autorizadas depois de 1978, estas desempenharam um papel marginal nas cidades. Nas empresas de propriedade estatal e colectiva, as características fundamentais do sistema das unidades de trabalho sobreviveram. Ambas continuaram a ser baseadas na propriedade pública e no emprego permanente. Embora as reformas estruturais realizadas a partir de meados dos anos 80 começassem a exigir que os trabalhadores assinassem contratos por vários anos (que substituíram formalmente o emprego para a vida) e algumas pequenas empresas começassem a dar sinais de falência, houve muito poucos despedimentos. As unidades de trabalho continuaram a ser responsáveis pelos meios de subsistência dos seus membros, quer no activo quer reformados.
Após 1984, as trocas mercantis substituíram gradualmente a economia planificada, e os incentivos económicos foram usados para estimular os gerentes/gestores das empresas a aumentar as taxas de lucro (que incluíam mecanismos que lhes permitiam manter os lucros acima de um montante previamente estipulado), mas a sua capacidade em dar prioridade aos lucros continuou a ser limitada pelas responsabilidades que as unidades de trabalho tinham para com os seus membros. De facto, nos anos 80, como era permitido que as empresas mantivessem parte dos seus rendimentos, muitos usaram uma grande parcela destes fundos para construir habitações para os seus empregados e para criar as unidades subsidiárias que foram frequentemente projectadas mais para fornecer trabalho aos filhos dos empregados do que para maximizar os lucros. No começo dos anos 90, mesmo depois de mais de uma década de reformas de mercado, as empresas do sector público eram dificilmente o tipo de máquinas de gerar lucros que se defendia e recomendava nas escolas de gestão no Ocidente. Mais ainda, estas permaneceram empresas sociais que abrigavam um número crescente de empregados e aposentados e uma colecção de unidades da produção e de serviços pouco flexíveis, incluindo complexos de apartamentos, clínicas de saúde, escolas vocacionais para os empregados, centros de guarda e escolas primárias e secundárias para os filhos dos seus membros, lojas, bares e cafés, instalações culturais e de recreio.
Nas margens do sector público urbano, desenvolvia-se um sector privado urbano modesto composto, na sua maior parte, por vendedores ambulantes, barbeiros, promotores de lojas pequenas, restaurantes, oficinas de reparações e assim por diante. No início, a empresa privada era restringida ao getihu (agregados familiares individuais), que legalmente não poderia empregar mais de sete empregados, mas mesmo depois desta limitação ter sido levantada em 1987, o getihu continuou a dominar o sector privado nas cidades da China. A sociedade urbana estava separada em dois mundos muito distintos, um `dentro do sistema’ e o outro ` fora do sistema’. Os dois mundos encontraram-se no portão da unidade colectiva de trabalho, onde os pequenos comerciantes e vendedores se encontravam para venderam os seus produtos aos que viviam dentro do sistema.
Na China rural, pelo contrário, a maioria da população dedicava-se a actividades económicas de organização familiar. Depois de a des-colectivização da agricultura ter sido concluída, em 1984, a terra continuou a ser propriedade da respectiva localidade, mas os direitos de exploração foram divididos entre as famílias dos camponeses e a produção agrícola foi organizada em torno do trabalho da família, tendo acontecido o mesmo com o florescimento da economia privada que foi baseado na indústria familiar, do comércio e dos transportes. Ao mesmo tempo, as maiores empresas industriais cresceram rapidamente nas vilas e cidades com acessos fáceis aos mercados urbanos e aos mercados externos. Pela lei, as township, as empresas de propriedade do distrito e das vilas, eram empresas de propriedade colectiva e muitas delas eram-no de facto, embora tenha havido uma enorme variedade de formas em que estas estavam realmente organizadas. No modelo de cariz mais colectivista, que predominou durante o rápido crescimento da região do delta de Yangtzé e podia também ser encontrado em muitas regiões, as fábricas de propriedade colectiva rural foram construídas pelas respectivas administrações da aldeia ou do distrito, com as autoridades locais em exercício e os habitantes dessas localidades a reivindicarem todos os postos de trabalho; mesmo quando as exigências de produção em mão-de-obra eram superiores à população activa local e se empregavam pessoas vindas de fora, os membros da comunidade local continuavam a exercer as melhores posições.
No outro extremo, num modelo que se estende para além das zonas económicas especiais no sudeste das províncias de Guangdong e de Fujian, rurais, as fábricas rurais foram geralmente financiadas por accionistas de Hong Kong e da Formosa e preferiam empregar trabalho imigrante do interior, mais barato. Embora fora das zonas económicas especiais tais empresas tivessem que se registar oficialmente como empresas colectivas, as suas relações da produção estavam muito mais perto do ideal do mercado livre. Devido ao facto de toda a indústria rural não estar sujeita à economia planificada, quer as fábricas de distrito ou das vilas fossem controladas pelas autoridades distritais e das vilas ou por empresários privados, o seu sucesso exigiu a gestão e formação empresarial, o emprego era mais instável e mais flexível, e os meios de produção e respectivas instalações produtivas mudavam mais rapidamente de mãos.
Se nós olharmos de longe, no tempo, para o país como um todo, durante o período que vai de 1978 a 1992, diríamos que havia dois grandes sectores: um sector público que estava ainda fortemente baseado, na sua maior parte, nas relações socialistas da produção e um sector privado em que prevaleciam as relações da produção familiares. Olhando um pouco para mais perto de nós, nas áreas urbanas, o sector público era dominante, com uma economia familiar próspera nas suas margens, enquanto nas áreas rurais, a economia familiar era dominante, com um sector empresarial em claro crescimento no que se refere às empresas distritais, as townships, e às fábricas das vilas, que constituíam no seu conjunto a produção socialista e a produção capitalista das pequenas empresas. Esta era, certamente, uma economia de mercado não-capitalista, embora já em acelerada mudança.
Privatizações e lucros
Desde 1992, as reformas muito mais radicais do mercado que foram aplicadas mudaram tudo. A visita de Deng Xiaoping, altamente publicitada, às empresas de capital estrangeiro criadas nas zonas económicas especiais do sudeste da China no início de 1992 é habitualmente citada como o momento chave que marcou a mudança mais radical na reestruturação da economia chinesa. Depois desse ano, o Partido Comunista Chinês incentivou fortemente o crescimento do sector capitalista privado e no final dessa década tinha presidido à privatização da grande maioria das empresas de propriedade pública. Entre 1991 e 2005, a proporção da mão-de-obra urbana empregada no sector público caiu de aproximadamente 82 por cento para aproximadamente 27 por cento (veja-se gráfico 1).
Gráfico 1. Parte do sector público no emprego urbano, 1978-2005 (%)
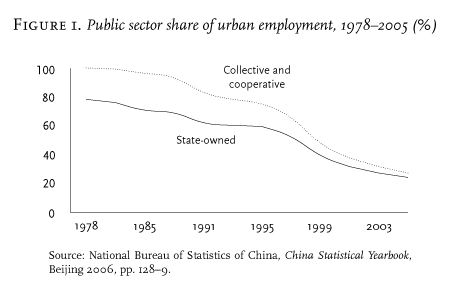 |
Fonte: National Bureau of Statistics of China, China Statistical Yearbook, Pequim, 2006, pp. 128–9. |
Durante o início dos anos 90, as políticas que limitavam a dimensão das empresas privadas e que restringiam o investimento estrangeiro foram revogadas e as autoridades do Estado a todos os níveis eram também, por todos os meios, os seus promotores. Ao contrário do Japão, Coreia do Sul e Formosa, a China dava as boas vindas ao investimento directo estrangeiro, de braços bem abertos, e o capital começou a fluir ao país numa grande escala. Pequenos empresários vindos de Hong Kong, Formosa, Singapura e outros locais encontraram colaboradores nas townships e vilas chinesas, enquanto as grandes empresas multinacionais com as sedes nestes centros da diáspora chinesa assim como no Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Europa, encontraram parceiros a níveis mais elevados. No ano 2000, quase um terço da indústria transformadora chinesa foi gerada por empresas filiadas ou associadas às grandes multinacionais estrangeiras.
O recente legitimado sector capitalista interno cresceu igualmente de forma rápida, devido por um lado aos empresários de sucesso oriundos das fileiras de habitantes rurais e das empresas em regime de agregado familiar (os getihu) e, por outro, devido aos quadros e aos profissionais do interior do sistema que tinham decidido ter chegado o seu tempo, que tinha chegado à altura de “saltar para o mar” (xiahai) das empresas privadas. Um segmento particular de grande sucesso de empresários (xiahai) era constituído por associações de familiares ou por associados de quadros de empresas públicas e de quadros da Administração Pública que foram capazes de usar as suas ligações criadas no interior do sistema para vencerem no acesso aos contratos, às licenças, ao crédito, aos recursos e aos mercados.
No sector público empresarial, o Partido Comunista Chinês decidiu-se pela política de manter as grandes e deixar as pequenas empresas (“hold onto the large and let go of the small”). Quase todas as empresas distritais (townships) e das vila, as empresas da grande maioria dos estados urbanos e a maioria das empresas colectivas foram parcial ou totalmente privatizadas. Algumas fábricas foram vendidas a investidores estrangeiros mas a maioria delas foi vendida a chineses. Nalguns casos iniciais as acções foram vendidas aos seus empregados, mas este modelo foi rapidamente rejeitado a favor de uma aquisição pela Administração. Uma vez que os administradores têm geralmente pouco capital, esta situação exigia geralmente arranjos financeiros com bastante criatividade. As investigações sobre a privatização nas áreas rurais e urbanas indicam que muitas das empresas de propriedade colectiva se transformaram em última instância em propriedade dos seus próprios administradores. Muitas empresas colectivas e estatais foram liquidadas e outras reduziram drasticamente o seu volume de mão-de-obra; como consequência da reestruturação do sector público e mais de cinquenta milhões de trabalhadores, ou seja cerca de 40 por cento da força de trabalho empregue no sector público, perdeu o seu emprego.
Esta transformação maciça do sector público em sector privado, em propriedade privada, transformou os seus administradores em proprietários e os outros, os membros da unidade colectiva de trabalho, em proletários sem direitos. As unidades colectivas de trabalho, em que antes os administradores e os trabalhadores tinham direitos garantidos, de repente transformaram-se em propriedade exclusiva dos seus administradores. Na linguagem de Marx, a força de trabalho ficou separada dos meios de produção e ambos foram convertidos em mercadorias e, nesta mudança, as anteriores responsabilidades pela produção e pelo consumo também se modificaram.
O controle de interesses
As grandes empresas nas quais o Estado decidiu manter o controle foram reestruturadas para se adaptarem a um modelo de grande empresa em que os seus activos foram convertidos em acções cotadas na Bolsa. O Estado manteve o seu controle sobre as maiores e mais estratégicas empresas, em particular, na banca, no petróleo, no aço, na energia eléctrica nas telecomunicações e na indústria de armamento. Numa segunda série de empresas um pouco mais pequenas, incluindo muitas que eram propriedade dos governos provinciais e locais, o Estado tornou-se um accionista minoritário. Os dirigentes das empresas agora reestruturadas eram agora formalmente responsáveis face a um conselho de administração, e holdings foram estabelecidas para gerir os activos do Estado e representar o interesse do Estado nestas administrações. Aos membros da administração foram atribuídos a tarefa de assegurar que os gestores maximizavam os interesses dos accionistas, e mesmo as holdings de empresas do próprio governo tinham como principal objectivo rentabilizarem ao máximo os activos do Estado.
De modo a manter alguma capacidade de dirigir as empresas públicas na linha dos interesses políticos, o Partido Comunista Chinês manteve o poder de nomear administradores para posições-chave e as autoridades governamentais continuaram a usar as holdings públicas para levar a cabo os objectivos do Estado que são de âmbito mais vasto que os simples dividendos trimestrais.
Contudo, a estrutura destas empresas foi fundamentalmente mudada de modo a que se lhes possa ser exigido - e que sejam capazes – de assumirem a rentabilidade como o seu objectivo fundamental. Para realizar este objectivo, abandonaram as suas anteriores obrigações para os seus empregados. As garantias do emprego para a vida foram eliminadas e as empresas reduziram não somente o volume de mão-de-obra utilizada mas igualmente despediram trabalhadores mais velhos que foram depois substituídos por trabalhadores mais novos, que eram menos caros e mais dóceis. As minas de carvão públicas, por exemplo, utilizam os serviços de empreiteiros para a exploração das minas e estes utilizam o trabalho de imigrantes, reduzindo assim o custo por tonelada, um sistema que faz com que a exploração das minas de carvão na China as tenha tornado as mais perigosas em todo o mundo. As empresas também encerraram subsidiárias não rentáveis e retiraram-se elas próprias da obrigação de fornecimento de habitação, cuidados médicos, as pensões, a puericultura, actividades recreativas, instrução e outros serviços para os empregados e para as suas famílias. Embora estas empresas permaneçam em parte como propriedade estatal, as características que faziam delas empresas socialistas foram eliminadas.
A entrada de China na Organização Mundial do Comércio, em 2001, que foi imediatamente acompanhada pela eliminação das restrições legais ao comércio internacional e ao investimento externo, veio dar uma maior força às reformas do mercado ao levar a que as empresas chinesas fiquem submetidas à concorrência internacional. Com muito poucas excepções, todas as empresas foram levadas a reduzir o custo do trabalho e os custos sociais que não contribuíam directamente para aumentar a rentabilidade.
Em consequência das reformas radicais realizadas nos últimos anos, a economia de mercado não capitalista que existiu nos anos 80 foi transformada numa economia capitalista. Já não há um sector socialista e virtualmente todas as empresas que empregam mais do que um punhado de pessoas, sejam públicas ou de propriedade privada, trabalham agora todas elas de acordo com os princípios capitalistas. O sector de trabalho familiar está em declínio, como o estão também as pequenas empresas capitalistas. O capital está a ser rapidamente centralizado: as pequenas fábricas estão a ser substituídas por fábricas maiores; as lojas e os pequenos restaurantes estão a ser substituídos por grandes cadeias; os mercados públicos por supermercados e por grandes centros comerciais.
Até aqui, a grande excepção a esta tendência foi a agricultura, onde o sistema do trabalho familiar foi protegido pelas leis que impedem as vendas individuais da terra e impedem também a produção em grande escala. Mesmo isto, entretanto, está a mudar. Nas áreas da agricultura comercial altamente desenvolvida, os grandes interesses da agro-indústria em grande escala estão a trabalhar sobre o sistema colectivo de posse da terra, desenvolvendo a aplicação de contractos não estandardizados ou mesmo alugando a terra e empregando a mão-de-obra como trabalhadores assalariados. Além disso, em Outubro deste ano o Comité Central do Partido Comunista Chinês decidiu permitir a venda de direitos de utilização da terra por agregados familiares individuais, com a finalidade explícita de concentrar a propriedade rural. Embora não seja ainda claro como é que a decisão será executada, é provável que venha a abrir a via para a expropriação em massa das terras que estão na posse das famílias de habitantes rurais..
Mesmo agora, a maioria de famílias rurais está directamente amarrada à produção capitalista através do trabalho migrante. Em muitas aldeias e vilas, só ficam as pessoas mais velhas e as crianças porque as gerações de idade para o trabalho vão-se embora, para fora, à procura de emprego, fornecendo assim muito do trabalho barato que faz da China o concorrente mais formidável no mundo da indústria transformadora virada para a exportação. Esta relação entre a agricultura de subsistência e o capital permite que os imigrantes enviem as suas remessas de dinheiro de volta à vila, mas igualmente subvencionam os seus próprios empregadores, os empregadores do trabalho migrante, que podem assim pagar como custo salarial um valor que não cobre sequer o custo de reprodução das novas gerações e do sustento dos que estão reformados.
O capitalismo é novo para a China. Embora as empresas capitalistas existissem já antes de 1949, estas eram somente uma pequena parte da economia; a economia como um todo é orientada hoje por imperativos capitalistas. Embora o sistema económico que emergiu em consequência das reformas recentes tenha certamente características chinesas, é baseado nas relações de produção cujo caminho foi aberto na Inglaterra, há duzentos anos e, de acordo com a predição de Marx, se tem espalhado por todo o mundo.
Polarização de classes
A reestruturação da economia de China ao longo das linhas de orientação e funcionamento capitalista produziu a polarização económica, reflectida num dramático e repentino aumento das disparidades de rendimento. Durante os anos que se seguiram à aplicação do primeiro conjunto de reformas do mercado que foi concretizado em 1978 e antes de as reformas radicais terem começado a serem aplicadas, o que aconteceu em 1992, a desigualdade de rendimentos aumentou, mas de forma relativamente modesta. A dimensão das empresas privadas era restrita e dentro do sector público os quadros viviam melhor que os restantes trabalhadores, mas não muito melhor; os seus salários eram mais elevados, mas ainda eram relativamente modestos; foram-lhes concedidos apartamentos maiores, mas estes continuavam, geralmente, a localizar-se nos mesmos complexos habitacionais da unidade colectiva de trabalho onde os seus subordinados viviam. A corrupção tornou-se patente, mas mesmo assim era ainda pequena quando comparada com o que estava para vir.
Foi a privatização que abriu o caminho para a emergência de uma classe que se tornou verdadeiramente rica. Esta classe inclui os empresários privados em grande escala, assim como os empresários do sector público que detêm interesses nas empresas sob o seu domínio. A riqueza acumulada por aqueles à frente de empresas privadas ou públicas criou também novas oportunidades para os quadros do Governo e Administração Pública e Instituições Públicas com fins não lucrativos. A corrupção em larga escala tornou-se mais tentadora e praticável, uma vez que muitas famílias tinham membros dentro e fora do sistema e os sinais de grande riqueza já não eram mal vistos. Ao mesmo tempo, os profissionais do sector público e os gestores poderiam agora exigir salários mais elevados, bónus e outras vantagens, justificando as suas reivindicações com os padrões de nível cada vez mais elevado do sector privado. Depressa começaram a abandonar os seus apartamentos relativamente modestos em complexos habitacionais da unidade colectiva de trabalho para se juntarem aos empresários bem sucedidos nos condomínios fechados suburbanos ou nos luxuosos arranhacéus que proliferaram nas principais cidades da China.
Hoje, os indivíduos mais influentes da China são extremamente ricos qualquer que seja o padrão de referência. As listas de ricos são avidamente lidas na China, e a mais antiga e mais conhecida delas é compilada por um contabilista britânico chamado Rupert Hoogewerf. No final de 2007, a lista de Hoogewerf incluiu 800 indivíduos na Republica Popular da China que valiam, em conjunto, qualquer coisa como 457 mil milhões de dólares. Nesta lista identificou 106 multimilionários, medidos em dólares americanos, um número mais elevado do que em qualquer um de todos os outros países com a excepção dos Estados Unidos, enquanto no extremo oposto do espectro social urbano, várias dezenas de milhões de trabalhadores que tinham estado empregados em fábricas de propriedade estatal desde que se formaram na escola secundária, têm agora sido despedidos, com poucas hipóteses de encontrarem um emprego na economia formal. Afortunados são aqueles que obtiveram pensões, outros, uma pequena pensão de subsistência, outros ainda uma pequena indemnização mas muitos foram deixados sem nada e o seguro de saúde desapareceu com o desaparecimento do seu emprego. Foram assim atirados para o fundo da escala social e juntaram-se pois às dezenas de milhões de migrantes rurais. Enquanto os operários despedidos atingem a sua condição actual devida à perda repentina dos rendimentos do trabalho, os trabalhadores migrantes vieram à procura de oportunidades nos mercados de trabalho urbanos recentemente abertos.
Em 1978, o coeficiente de Gini da China (a medida usada para comparar a desigualdade internacional de rendimento em que o valor 0 indica a igualdade absoluta e o valor 1 indica a desigualdade absoluta) foi calculado em 0,22 para a China. Este valor é das mais baixas taxas no mundo. Os observadores ficaram particularmente impressionados por este valor dada a dimensão da China e a sua diversidade geográfica. O PRC tinha realizado este estudo, apesar das grandes diferenças de rendimento entre as áreas urbanas e as rurais e entre as regiões mais e menos desenvolvidas, porque dentro de cada localidade as diferenças eram mínimas. Menos de três décadas mais tarde, em 2006, os dados deram o valor de 0,496, ultrapassando os Estados Unidos e aproximando-se das taxas dos países do mundo onde a desigualdade é maior, tais como o Brasil e a Africa do Sul. A desigualdade entre as regiões e entre as áreas rurais e as urbanas aumentaram ambas substancialmente, mas a mudança mais dramática tem sido a polarização do rendimento dentro das localidades.
Nas pequenas localidades a distância entre rendimentos cresceu significativamente, mas a parte superior da escala permanece bastante baixa quando comparada com as cidades, que viram um espectacular aumento na disparidade dos rendimentos. Em 1985, o rendimento per capita médio do quintil superior dos agregados familiares urbanos era aproximadamente três vezes maior do que o do quintil inferior; em 2006, o grupo da parte superior teve quase dez vezes mais rendimento do que o grupo inferior (veja-se o gráfico 2). Além disso, estes gráficos não capturam a extensão da polarização do rendimento porque o grupo superior é bastante vasto, abrangendo 20 por cento de agregados familiares urbanos e colocando assim os ricos nas classes médias.
Gráfico 2. Rendimento anual per capita dos 20 % mais ricos e mais pobres de agregados familiares urbanos, 1985-2006.
 |
Rendimento em milhares de yuans. Fonte: Department of Urban Society and Economic Statistics, National Bureau of Statistics of China, China Urban Life and Price Yearbook 2007, Pequim, 2007, pp. 14-29. |
Os dados do gráfico 2 indicam que todos os residentes urbanos, incluindo aqueles que estão na parte inferior, usufruem agora de rendimentos substancialmente mais elevados. Estes gráficos, entretanto, somente registam os rendimentos em dinheiro e, escondem, consequentemente, a perda de produtos e serviços que antes tinham sido distribuídos pelas unidades do Estado e pelas unidades colectivas de trabalhadores e não pelo mercado, incluindo os subsídios para a habitação ou habitação subvencionada, os serviços culturais e recreativos, os géneros alimentícios, as necessidades do agregado familiar, os cuidados médicos e a educação. A insuficiência na utilização do rendimento como instrumento para calcular o bem-estar através da transformação estrutural de um regime socialista numa economia capitalista torna-se clara se se compara o rendimento dos agregados familiares urbanos nos meados dos anos 80 com melhores rendimentos com o dos agregados familiares mais pobres hoje. O primeiro grupo, composto por quadros administrativos e profissionais, vivia em bons apartamentos e usufruía de conforto e segurança económicos substancialmente consideráveis, mesmo tendo apenas um rendimento anual médio de apenas 1400 yuan; o último grupo, composto principalmente de desempregados ou de trabalhadores informalmente empregados, apesar de terem um rendimento médio, em dinheiro, de 380 yuan, viviam em apartamentos deteriorados, tinham dificuldade em suportar as suas despesas e evitavam ir ao médico.
A expansão repentina de relações capitalistas de produção desde 1992 é o que fez disparar meteoricamente as desigualdades de rendimento na China. Até aí, porque o grande volume da actividade económica era organizado em torno da unidade de trabalho familiar e dos sistemas de unidades colectivas de trabalho que tinham adicionalmente a responsabilidade do consumo para os seus membros, o crescimento da desigualdade de rendimentos estava então estruturalmente condicionado. As reformas recentes retiraram estes condicionantes.
A polarização das classes sociais incitou à uma tremenda indignação popular e durante a última década os trabalhadores e os camponeses realizaram muitas e grandes manifestações de protestos em todo o país. Desde que assumiu o controlo do poder do Estado em 2003, Hu Jintao e Wen Jiabao distinguiram-se do regime anterior de Jiang Zemin e de Zhu Rongji por expressarem a sua preocupação com a polarização crescente do rendimento na China. Além disso, o governo implementou um número de medidas práticas para tentar ultrapassar as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos mais pobres na China e para abrandar os efeitos mais prejudiciais resultantes das reformas do mercado. Embora estas medidas estejam associadas com Hu e Wen, muitas são anteriores à transição da liderança de 2003 e reflectem provavelmente um interesse partilhado entre os líderes chineses quanto às severas desestruturações das classes sociais e aos fortes descontentamentos causados pelas reestruturações económicas. O PCC, entretanto, governa agora um sistema económico dominado pelas empresas que são orientadas pelo objectivo de maximização dos lucros, a força motriz que está por detrás desta polarização. Além disso, o partido é levado ainda a um maior desenvolvimento deste sistema, usando as normas internacionais de gestão das grandes empresas como um modelo e a realçar ainda mais a estatura já formidável da China como o país que tem já a indústria transformadora mais competitiva do mundo, o que foi conseguido, na sua maior parte, pela exploração altamente eficiente de trabalho barato. Por isso mesmo, a polarização das classes sociais, apesar dos esforços do governo para a abrandar, continuou a avançar sem redução sequer do seu ritmo.
Um trajecto distinto para a Ásia do Leste?
O modelo do Leste Asiático de Arrighi não deixa de ter alguma base empírica na história da China. Quer utilizemos o enquadramento conceptual de Braudel ou de Marx, é evidente que muita da economia chinesa esteve organizada em torno do mercado, das trocas mercantis, mas não na forma capitalista, quer no passado longínquo quer no passado ainda recente. A dinastia Qing promoveu uma economia destinada ao mercado baseada, na sua maior parte, no sistema de trabalho familiar; o desenvolvimento de relações capitalistas da produção foi condicionado por um Estado forte e não havia certamente uma classe capitalista que ditasse ordens ao trono. É igualmente pensável ver o sistema que emergiu nos anos 80, com um Estado forte, um sector dinâmico do trabalho familiar e somente um pequeno sector capitalista composto na sua maior parte de pequenas empresas, como a recuperação dos elementos básicos dessa anterior estrutura de referência.
Torna-se mais difícil, entretanto, sustentar este modelo no presente, depois das relações capitalistas da produção terem transformado a economia chinesa e a sua estrutura de classes. A definição de Arrighi do capitalismo, naturalmente, depende de uma fusão do capital e do poder do Estado. O carácter capitalista do desenvolvimento baseado no mercado não é determinado pela presença das instituições e disposições capitalistas mas sim pela relação do poder do Estado ao capital, escreve Arrighi. Adicionem-se tantos capitalistas quantos se quiser a uma economia de mercado, mas a menos que o Estado seja subordinado aos seus interesses de classe, a economia de mercado permanece não-capitalista’. O livro Adam Smith in Pequim permanece prudentemente agnóstico quanto ao facto de o Estado chinês estar no processo de se transformar numa comissão para gerir os interesses nacionais da burguesia”, mas como prova que tal não aconteceu ainda, Arrighi menciona os esforços do governo para estimular a concorrência, o que resultou no que se assemelha mais com um mundo de capitalistas à Adam Smith que são levados pela concorrência implacável a trabalhar para o interesse nacional. Ele deixa-nos com a imagem de um Estado chinês autónomo a obrigar os seus capitalistas a concorrerem entre si e contra as empresas menores, distritais e das cidades, com a preocupação do desenvolvimento nacional.
Esta imagem sugere uma maior diferença entre o Estado e o capital do que a que existe realmente. Durante a era de Mao, o PCC e o seu aparelho de Estado dominaram completamente a economia, e o processo subsequente de privatização e de criação de grandes empresas ocorreu sob a firme supervisão do partido. Em consequência, a maioria do sector capitalista consiste no Estado reestruturado e nas empresas colectivas e a maioria das pessoas responsáveis são originárias do Partido e do seu aparelho de Estado. Dirigentes partidários poderosos, desde Hu Jintao e de Wen Jiabao, no topo da escala, até abaixo, às secretárias do partido nas empresas distritais, tem filhos que se tornaram ricos executivos nos negócios. Mesmo os capitalistas que começaram as suas carreiras como pequenos empresários, fora do sistema do Partido-Estado, tiveram que tecer relações próximas do poder político para terem sucesso. As organizações provinciais do partido, municipais e distritais, proporcionam redes de poder que incluem as autoridades e os capitalistas locais.
Nas intrincadas ligações entre o capital e o Estado na China, a influência flui em ambos os sentidos, e toda a tentativa de medir a extensão em que o capital é responsável poderia levar-nos a um outro debate - mas isto seria igualmente verdadeiro para cada um dos estados que Arrighi inclui no seu modelo de capitalismo ocidental. Quaisquer que fossem os resultados de tal debate, uma coisa é certa: uma característica distintiva do actual sistema chinês é a extensão com que o capital é organizado em torno do aparelho do Estado. Este é certamente o caso no topo do poder, entre as enormes empresas públicas que ocupam os sectores estratégicos e de monopólio da economia. Agora que estas empresas estão transformadas em grandes empresas cotadas na Bolsa que devem centrar a sua atenção sobre os ganhos líquidos, elas assemelham-se muito ao nível capitalista da hierarquia de Braudel. Na China, entretanto, a associação íntima entre o poder do Estado e o capital verifica-se de cima até abaixo do aparelho, do governo central ao governo regional e local, do governo das províncias ao governo das vilas, todos estão envolvidos na gestão das empresas estatais e colectivas e mantêm ligações muito estreitas com as suas reincarnações privadas.
Que a configuração actual do poder na China pode apropriadamente ser considerada um Estado capitalista é confirmado pelo forte apoio do governo à expansão do sector capitalista. A ocupação do sector do trabalho familiar e o violento e implacável desaparecimento das pequenas empresas pelas empresas maiores foi conduzida sobretudo pelos mecanismos de mercado mas foi também uma opção de política económica do Estado. Os líderes políticos da China não querem os antigos mercados de produtos, querem supermercados modernos, e as autoridades governamentais esperam identificar e apoiar os vencedores na concorrência económica. Esta expectativa estende-se para além da direcção do Partido que prepara os futuros campeões nacionais, desde os quadros do aparelho central do partido até aos quadros de todo o poder local, que são os impulsionadores inveterados das empresas locais bem sucedidas. Sob estas circunstâncias, é difícil distinguir, quer conceptual quer empiricamente, entre o desenvolvimento das estratégias do Estado e os interesses pecuniários das autoridades governamentais e do elevado número de empresários, que estão entre si ligados por uma miríade de elos desde a família até todas as outras.
Dois tipos de desigualdade
Arrighi sublinha e correctamente a importância do sistema peculiar da China no que se refere à posse dos terrenos rurais, o que impediu os indivíduos de vender a terra, impedindo a expropriação em grande escala dos meios de subsistência dos camponeses. Estas leis protegeram o sistema do trabalho familiar na agricultura da sua possível usurpação capitalista, mas não foram de todo incompatíveis com a concretização de relações capitalistas da produção no resto da economia, e permitiram vias significativas ao capitalismo nas áreas mais rentáveis do sector agrário. Embora muitos empresários se tenham sentido certamente frustrados por estas leis, e os empregadores do trabalho migrante veriam com agrado o influxo crescente dos trabalhadores itinerantes que a venda de direitos da terra produziria, o sistema da propriedade da terra estabelecido nos anos 80 serviu os interesses mais vastos do capital. Foi ele que evitou não somente a instabilidade social associada às enormes populações dos sem-terra mas permitiu igualmente que a produção rural em bens de subsistência suportasse os empregadores de trabalhadores migrantes, e permitiu igualmente a criação de um grande exército de reserva do trabalho rural a flutuar de acordo com as exigências das variações da produção capitalista. De facto, quando a decisão recente do PCC para promover a venda de direitos do uso da terra pode agora permitir que o capitalismo floresça no campo, mas pode igualmente ajudar a desestabilizar o sistema no seu todo.
O facto de que a China se ter transformado na fábrica do mundo é uma realização impressionante, que pode certamente ser atribuída em parte ao trajecto específico de desenvolvimento que o país seguiu. Arrighi tem razão ao distinguir as características que são parte do legado socialista do país: Uma população que tem um razoável nível de instrução e de saúde e um campesinato que mantém a posse da terra. Estas, entretanto, não alteram o facto de o sector da economia que está a crescer de forma mais rápida e a concorrer com sucesso nos mercados internacionais estar a funcionar de acordo com os princípios capitalistas. De facto, as empresas neste sector podem concorrer com sucesso porque são capitalistas. Os empresários chineses e os seus sócios estrangeiros, com forte e efectivo apoio do Estado, criaram o que é - pelo menos até ao momento - o sistema mais eficiente de extrair a mais-valia. As características que fazem este sistema tão competitivo no mercado global são as mesmas que estão a produzir a polarização crescente das classes sociais na China.
As três ilações de Arrighi são estreitamente ligadas no seu modelo da Ásia Oriental mas não são necessariamente mutuamente dependentes. A China pode, sem dúvida, conduzir a Ásia Oriental a conseguir recuperar a sua posição como sendo a região economicamente mais dinâmica e rica do mundo, mas como as coisas estão neste momento, este desenvolvimento pode levar mais a mudar a forma do que a transcender a ordem capitalista existente. Além disso, parece improvável que a RPC possa ser capaz de recriar à escala do mundo o sistema de relações inter-estatais relativamente calmas entre a China, a Coreia e o Japão, a que a China presidiu durante diversos séculos.
Também não é ainda claro se China poderá usar a sua força industrial para alcançar uma posição mais elevada na hierarquia económica global. Enquanto Arrighi vê o governo chinês a fazer capitalistas, estrangeiros e nacionais, a concorrer no mercado mundial para acumular a riqueza da nação, outros vêem Wall-Mart fazer capitalistas na China e outros países também a competirem para extrair dos trabalhadores o máximo de produção para o mínimo de custos salariais. Mas se a China, com a sua vasta população, pode realmente deslocar-se da periferia para o centro da ordem económica mundial, esta deslocação reestruturaria significativamente a hierarquia global. Eu partilho da expectativa de Arrighi que tal mudança pôde contribuir para diminuir a desigualdade global extrema entre os países e as regiões que caracterizou a era da dominação do Atlântico Norte. Esta seria uma enorme e positiva mudança e por esta razão eu estou feliz em ver o peso de China na economia mundial aumentar. Mas se a reestruturação actual da ordem económica global terminará realmente por diminuir a desigualdade entre os países, o certo é que está certamente a agravar a desigualdade dentro dos países, e esta realidade é ainda mais evidente na China. Além disso, a capacidade actual da China no mercado mundial e a polarização crescente das classes sociais dentro do país são estreitamente ligadas. Ambas são produtos da transformação recente da economia da China, que criou um sistema de relações capitalistas da produção que é mais eficiente e mais brutal do que a maioria de todos eles.










