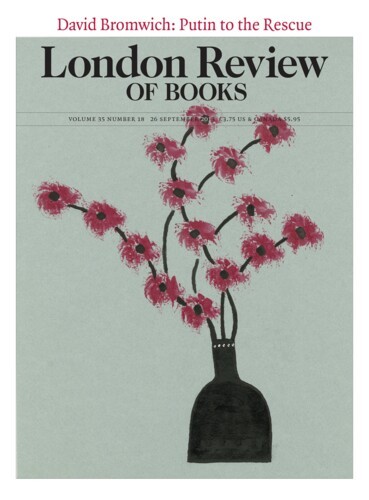Lisa O'Carroll
The Guardian
 |
| Seymour Hersh exposed the My Lai massacre during the Vietnam war, for which he won the Pulitzer Prize. Photograph: Wally McNamee/Corbis |
Seymour Hersh tem algumas idéias extremas sobre como corrigir jornalismo - fechar as agências de notícias NBC e ABC, demitir 90% dos editores e voltar para o trabalho fundamental dos jornalistas que, segundo ele, é ser um outsider.
Não é preciso muito para incendiar Hersh, jornalista investigativo que tem sido a nêmese dos presidentes dos EUA desde os anos 1960s, quando escreveu que o Partido Republicano é “o parente mais próximo, dentro do jornalismo dos EUA, de um grupo terrorista”.
Vive enfurecido ante a timidez dos jornalistas nos EUA, o fracasso do jornalismo que não confronta a Casa Branca e não consegue ser mensageiro impopular da verdade.
Para Hersh, o New York Times “gasta mais dinheiro para promover Obama do que jamais pensei que fosse possível”. E enfurece-se ante qualquer referência a morte de Osama bin Laden. “Nenhum jornal, nenhum jornalista, ninguém, na imprensa-empresa dos EUA, moveu uma palha para desmascarar aquela mentira gigante. Tudo, ali, é mentira. Não há, na história contada sobre a morte de bin Laden, sequer uma palavra que seja verdade” – diz ele, sobre o dramáticoraid dos SEALS da Marinha dos EUA em 2011.
Hersh está escrevendo um livro sobre segurança nacional e dedica um capítulo ao assassinato de bin Laden. Diz que matéria recente, publicada por uma comissão paquistanesa “independente” sobre o complexo, em Abottabad, no qual Bin Laden foi cercado, não resiste a análise séria. “Nem quero começar a falar sobre o relatório dos paquistaneses! Digamos o seguinte: foi redigido com “apoio” norte-americano. É lixo. Não vale nada”. Para mais informação, teremos de esperar pelo livro.
O governo Obama mente sempre, sistematicamente, diz ele. Mas ninguém dos leviatãs da imprensa-empresa nos EUA o confronta, nem a televisão, nem os jornais, ninguém.
“É jornalismo patético. Os jornalistas são servis, obsequiosos, os jornalistas têm medo daquele cara [Obama]” – disse Hersh, em entrevista ao The Guardian.
“Antes, quando se tinha uma situação em que algo muito dramático aconteceu e o presidente e seu círculo de puxa-sacos controlavam a narrativa, sabia-se que algum jornalista trataria de trabalhar o mais possível para divulgar a verdadeira história. Hoje, não mais. Aproveitam o que o poder diga e tratam exclusivamente de reeleger o presidente.
Ele duvida, até, de que as recentes revelações sobre a profundidade e o alcance do estado de vigilância, imposto ao país pela Agência de Segurança Nacional dos EUA tenham algum efeito ou consequências duradouros.
Não é preciso muito para incendiar Hersh, jornalista investigativo que tem sido a nêmese dos presidentes dos EUA desde os anos 1960s, quando escreveu que o Partido Republicano é “o parente mais próximo, dentro do jornalismo dos EUA, de um grupo terrorista”.
Vive enfurecido ante a timidez dos jornalistas nos EUA, o fracasso do jornalismo que não confronta a Casa Branca e não consegue ser mensageiro impopular da verdade.
Para Hersh, o New York Times “gasta mais dinheiro para promover Obama do que jamais pensei que fosse possível”. E enfurece-se ante qualquer referência a morte de Osama bin Laden. “Nenhum jornal, nenhum jornalista, ninguém, na imprensa-empresa dos EUA, moveu uma palha para desmascarar aquela mentira gigante. Tudo, ali, é mentira. Não há, na história contada sobre a morte de bin Laden, sequer uma palavra que seja verdade” – diz ele, sobre o dramáticoraid dos SEALS da Marinha dos EUA em 2011.
Hersh está escrevendo um livro sobre segurança nacional e dedica um capítulo ao assassinato de bin Laden. Diz que matéria recente, publicada por uma comissão paquistanesa “independente” sobre o complexo, em Abottabad, no qual Bin Laden foi cercado, não resiste a análise séria. “Nem quero começar a falar sobre o relatório dos paquistaneses! Digamos o seguinte: foi redigido com “apoio” norte-americano. É lixo. Não vale nada”. Para mais informação, teremos de esperar pelo livro.
O governo Obama mente sempre, sistematicamente, diz ele. Mas ninguém dos leviatãs da imprensa-empresa nos EUA o confronta, nem a televisão, nem os jornais, ninguém.
“É jornalismo patético. Os jornalistas são servis, obsequiosos, os jornalistas têm medo daquele cara [Obama]” – disse Hersh, em entrevista ao The Guardian.
“Antes, quando se tinha uma situação em que algo muito dramático aconteceu e o presidente e seu círculo de puxa-sacos controlavam a narrativa, sabia-se que algum jornalista trataria de trabalhar o mais possível para divulgar a verdadeira história. Hoje, não mais. Aproveitam o que o poder diga e tratam exclusivamente de reeleger o presidente.
Ele duvida, até, de que as recentes revelações sobre a profundidade e o alcance do estado de vigilância, imposto ao país pela Agência de Segurança Nacional dos EUA tenham algum efeito ou consequências duradouros.
Snowden mudou o debate sobre a vigilância
Ele não tem dúvidas de que Edward Snowden, que vazou segredos da Agência de Segurança Nacional “mudou completamente a natureza do debate” sobre o estado de vigilância. Diz que ele e outros jornalistas já haviam escrito sobre a vigilância, mas Snowden mudou o jogo, porque exibiu provas documentais irrefutáveis – mas ele não tem qualquer esperança de que as revelações venham a mudar a política do governo dos EUA.
“Duncan Campbell [jornalista investigativo britânico, que revelou a verdadeira história e desmascarou a Zircon], James Bamford [jornalista norte-americano] e Julian Assange e eu e a revistaNew Yorker, todos já havíamos escrito sobre a existência de vigilância constante, mas Snowden exibiu o documento. Isso mudou a natureza do debate: agora é fato” – diz Hersh.
“Editores adoram documentos”. “Editores acovardados, que jamais publicariam matérias como essas, só se deixam convencer por documentos”. “Os documentos de Snowden, sim, conseguiram mudar o jogo” – mas, na sequência, ele fala de suas poucas esperanças.
“Não sei se tudo isso significará alguma coisa no longo prazo, porque as pesquisas que tenho visto nos EUA... Basta que o presidente pronuncie as palavras “al-Qaeda, al-Qaeda”, para os eleitores aprovarem, com proporção de 2:1, qualquer tipo de vigilância. É reação perfeitamente idiota”.
Holding court to a packed audience at City University in London's summer school on investigative journalism, 76-year-old Hersh is on full throttle, a whirlwind of amazing stories of how journalism used to be; how he exposed the My Lai massacre in Vietnam, how he got the Abu Ghraib pictures of American soldiers brutalising Iraqi prisoners, and what he thinks of Edward Snowden.
Hope of redemption
Despite his concern about the timidity of journalism he believes the trade still offers hope of redemption.
"I have this sort of heuristic view that journalism, we possibly offer hope because the world is clearly run by total nincompoops more than ever … Not that journalism is always wonderful, it's not, but at least we offer some way out, some integrity."
His story of how he uncovered the My Lai atrocity is one of old-fashioned shoe-leather journalism and doggedness. Back in 1969, he got a tip about a 26-year-old platoon leader, William Calley, who had been charged by the army with alleged mass murder.
Instead of picking up the phone to a press officer, he got into his car and started looking for him in the army camp of Fort Benning in Georgia, where he heard he had been detained. From door to door he searched the vast compound, sometimes blagging his way, marching up to the reception, slamming his fist on the table and shouting: "Sergeant, I want Calley out now."
Eventually his efforts paid off with his first story appearing in the St Louis Post-Despatch, which was then syndicated across America and eventually earned him the Pulitzer Prize. "I did five stories. I charged $100 for the first, by the end the [New York] Times were paying $5,000."
He was hired by the New York Times to follow up the Watergate scandal and ended up hounding Nixon over Cambodia. Almost 30 years later, Hersh made global headlines all over again with his exposure of the abuse of Iraqi prisoners at Abu Ghraib.
Dar tempo ao tempo
Para os estudantes de jornalismo, a mensagem de Seymour Hersh é “deem tempo ao tempo, e andem”. Hersh já sabia da tortura de prisioneiros em Abu Ghraib cinco meses antes de poder escrever e publicar as denúncias, porque recebeu informes de um oficial do exército do Iraque que arriscara a vida numa viagem de Bagdá a Damasco para encontrar-se com Hersh e contar que havia prisioneiros que estavam escrevendo às famílias pedindo que viessem visitá-los para matá-los, porque haviam sido “desonrados”.
“Passei cinco meses à procura de alguma prova, porque, sem algum documento não havia notícia, e o que eu escrevesse seria desmentido facilmente”.
Hersh volta a falar do presidente Bush dos EUA. Disse antes que a confiança da imprensa-empresa norte-americana para desafiar o estado e o governo dos EUA entrou em colapso depois do 11/9, mas afirma, sem vacilar, que Obama é pior que Bush.
“Você acha que Obama está sendo avaliado por algum padrão racional? Guantánamo foi fechada? Alguma guerra acabou? Alguém está prestando atenção ao que está acontecendo no Iraque? Alguém diz coisa com coisa sobre o que está acontecendo na Síria? Os EUA, nesse momento, estão fracassando nas 80 guerras em que estão metidos. Por que, diabos, Obama quer meter-nos em mais uma guerra? E os jornalistas? Estão fazendo O QUÊ?” – pergunta ele.
Para ele, o jornalismo investigativo nos EUA está sendo assassinado pela crise de confiança, falta de recursos e por uma ideia errada do que seja o serviço jornalístico.
“A impressão que tenho é que há gente demais à caça de prêmios. É jornalismo que só visa ao Prêmio Pulitzer” – diz. – “É um pacote. Basta selecionar um tema (não quero diminuir os que trabalhem), mas basta escolher um tema, como segurança para atravessar as ruas ou coisa do tipo. Não quero dizer que isso não interesse, mas há outras questões sobre as quais absolutamente ninguém investiga”.
“Assassinato de civis, por exemplo. Como é possível que Obama continue a safar-se de críticas, ao mesmo tempo em que mantém o programa de assassinatos premeditados, por drones? Por que ninguém lhe pergunta sobre isso? O que o presidente tem a dizer em sua defesa? Por que não insistimos mais nessa investigação? Com que tipo de inteligência o presidente está operando? Por que ninguém abre a discussão sobre esse programa? Por que não descobrimos e divulgamos dados reais? Por que ninguém até hoje disse, pelos jornais, que se trata de assassinato premeditado apresentado como se fosse prática legal? Por que os jornais só fazem repetir dados de um ou dois grupos, sempre os mesmos, que monitoram a matança por drones? Por que nenhum jornal ou jornalista investiga diretamente os fatos, as fontes?”.
“O trabalho jornalístico não é apenas repetir que há um debate. Nosso serviço é ir além do debate como ele aparece e descobrir quem diz a verdade e quem mente, em todos os debates. Isso é o que já ninguém faz. Porque esse trabalho é caro, custa dinheiro, exige tempo, implica riscos. Ainda há uns poucos jornalistas de investigação – no New York Times, por exemplo. Mas os jornalistas só investigam para bajular o governo, mais do que jamais imaginei que fosse possível.
É como se mais ninguém tivesse coragem de pensar fora do padrão (patrão) dominante, e só”.
Diz que, em vários sentidos, era mais fácil escrever sobre o governo do presidente George Bush. “A era Bush, acho que era mais fácil criticar o governo, que hoje, no governo Obama. No governo Obama é muito mais difícil” – diz Hersh.
Para ele, os editores são covardes, e têm de ser demitidos.
Hersh tampouco entende por que o Washington Post segurou os arquivos que recebeu de Snowden e talvez nem os tivesse publicado, se não chegasse a informação de que o The Guardian se preparava para publicar tudo.
Se Hersh mandasse na empresa “Mídia Norte-americana Inc.”, sua política de terra arrasada não pararia na demissão de editores. “Eu fecharia também todas as agências de notícias de todas as redes. Fecharia tudo. Tabula rasa. Para começarem do zero. As grandes NBCs, ABCs, não gostariam da minha ideia. Nesse caso, que recomeçassem, que fizessem qualquer coisa melhor do que o que fazem hoje, qualquer coisa”.
Atualmente, Hersh não está trabalhando como repórter: está preparando um livro que com certeza nenhum jornalista gostará de ler, ou que os jornalistas provavelmente apreciarão tão pouco quanto Bush e Obama.
“A república está em perigo, nos EUA. Mente-se demais, mente-se, pelos jornais e noticiários sobre tudo e todos. A mentira virou o gancho”. E suplica que os jornalistas façam algo contra esse estado de coisas.
“Duncan Campbell [jornalista investigativo britânico, que revelou a verdadeira história e desmascarou a Zircon], James Bamford [jornalista norte-americano] e Julian Assange e eu e a revistaNew Yorker, todos já havíamos escrito sobre a existência de vigilância constante, mas Snowden exibiu o documento. Isso mudou a natureza do debate: agora é fato” – diz Hersh.
“Editores adoram documentos”. “Editores acovardados, que jamais publicariam matérias como essas, só se deixam convencer por documentos”. “Os documentos de Snowden, sim, conseguiram mudar o jogo” – mas, na sequência, ele fala de suas poucas esperanças.
“Não sei se tudo isso significará alguma coisa no longo prazo, porque as pesquisas que tenho visto nos EUA... Basta que o presidente pronuncie as palavras “al-Qaeda, al-Qaeda”, para os eleitores aprovarem, com proporção de 2:1, qualquer tipo de vigilância. É reação perfeitamente idiota”.
Holding court to a packed audience at City University in London's summer school on investigative journalism, 76-year-old Hersh is on full throttle, a whirlwind of amazing stories of how journalism used to be; how he exposed the My Lai massacre in Vietnam, how he got the Abu Ghraib pictures of American soldiers brutalising Iraqi prisoners, and what he thinks of Edward Snowden.
Hope of redemption
Despite his concern about the timidity of journalism he believes the trade still offers hope of redemption.
"I have this sort of heuristic view that journalism, we possibly offer hope because the world is clearly run by total nincompoops more than ever … Not that journalism is always wonderful, it's not, but at least we offer some way out, some integrity."
His story of how he uncovered the My Lai atrocity is one of old-fashioned shoe-leather journalism and doggedness. Back in 1969, he got a tip about a 26-year-old platoon leader, William Calley, who had been charged by the army with alleged mass murder.
Instead of picking up the phone to a press officer, he got into his car and started looking for him in the army camp of Fort Benning in Georgia, where he heard he had been detained. From door to door he searched the vast compound, sometimes blagging his way, marching up to the reception, slamming his fist on the table and shouting: "Sergeant, I want Calley out now."
Eventually his efforts paid off with his first story appearing in the St Louis Post-Despatch, which was then syndicated across America and eventually earned him the Pulitzer Prize. "I did five stories. I charged $100 for the first, by the end the [New York] Times were paying $5,000."
He was hired by the New York Times to follow up the Watergate scandal and ended up hounding Nixon over Cambodia. Almost 30 years later, Hersh made global headlines all over again with his exposure of the abuse of Iraqi prisoners at Abu Ghraib.
Dar tempo ao tempo
Para os estudantes de jornalismo, a mensagem de Seymour Hersh é “deem tempo ao tempo, e andem”. Hersh já sabia da tortura de prisioneiros em Abu Ghraib cinco meses antes de poder escrever e publicar as denúncias, porque recebeu informes de um oficial do exército do Iraque que arriscara a vida numa viagem de Bagdá a Damasco para encontrar-se com Hersh e contar que havia prisioneiros que estavam escrevendo às famílias pedindo que viessem visitá-los para matá-los, porque haviam sido “desonrados”.
“Passei cinco meses à procura de alguma prova, porque, sem algum documento não havia notícia, e o que eu escrevesse seria desmentido facilmente”.
Hersh volta a falar do presidente Bush dos EUA. Disse antes que a confiança da imprensa-empresa norte-americana para desafiar o estado e o governo dos EUA entrou em colapso depois do 11/9, mas afirma, sem vacilar, que Obama é pior que Bush.
“Você acha que Obama está sendo avaliado por algum padrão racional? Guantánamo foi fechada? Alguma guerra acabou? Alguém está prestando atenção ao que está acontecendo no Iraque? Alguém diz coisa com coisa sobre o que está acontecendo na Síria? Os EUA, nesse momento, estão fracassando nas 80 guerras em que estão metidos. Por que, diabos, Obama quer meter-nos em mais uma guerra? E os jornalistas? Estão fazendo O QUÊ?” – pergunta ele.
Para ele, o jornalismo investigativo nos EUA está sendo assassinado pela crise de confiança, falta de recursos e por uma ideia errada do que seja o serviço jornalístico.
“A impressão que tenho é que há gente demais à caça de prêmios. É jornalismo que só visa ao Prêmio Pulitzer” – diz. – “É um pacote. Basta selecionar um tema (não quero diminuir os que trabalhem), mas basta escolher um tema, como segurança para atravessar as ruas ou coisa do tipo. Não quero dizer que isso não interesse, mas há outras questões sobre as quais absolutamente ninguém investiga”.
“Assassinato de civis, por exemplo. Como é possível que Obama continue a safar-se de críticas, ao mesmo tempo em que mantém o programa de assassinatos premeditados, por drones? Por que ninguém lhe pergunta sobre isso? O que o presidente tem a dizer em sua defesa? Por que não insistimos mais nessa investigação? Com que tipo de inteligência o presidente está operando? Por que ninguém abre a discussão sobre esse programa? Por que não descobrimos e divulgamos dados reais? Por que ninguém até hoje disse, pelos jornais, que se trata de assassinato premeditado apresentado como se fosse prática legal? Por que os jornais só fazem repetir dados de um ou dois grupos, sempre os mesmos, que monitoram a matança por drones? Por que nenhum jornal ou jornalista investiga diretamente os fatos, as fontes?”.
“O trabalho jornalístico não é apenas repetir que há um debate. Nosso serviço é ir além do debate como ele aparece e descobrir quem diz a verdade e quem mente, em todos os debates. Isso é o que já ninguém faz. Porque esse trabalho é caro, custa dinheiro, exige tempo, implica riscos. Ainda há uns poucos jornalistas de investigação – no New York Times, por exemplo. Mas os jornalistas só investigam para bajular o governo, mais do que jamais imaginei que fosse possível.
É como se mais ninguém tivesse coragem de pensar fora do padrão (patrão) dominante, e só”.
Diz que, em vários sentidos, era mais fácil escrever sobre o governo do presidente George Bush. “A era Bush, acho que era mais fácil criticar o governo, que hoje, no governo Obama. No governo Obama é muito mais difícil” – diz Hersh.
Para ele, os editores são covardes, e têm de ser demitidos.
Hersh tampouco entende por que o Washington Post segurou os arquivos que recebeu de Snowden e talvez nem os tivesse publicado, se não chegasse a informação de que o The Guardian se preparava para publicar tudo.
Se Hersh mandasse na empresa “Mídia Norte-americana Inc.”, sua política de terra arrasada não pararia na demissão de editores. “Eu fecharia também todas as agências de notícias de todas as redes. Fecharia tudo. Tabula rasa. Para começarem do zero. As grandes NBCs, ABCs, não gostariam da minha ideia. Nesse caso, que recomeçassem, que fizessem qualquer coisa melhor do que o que fazem hoje, qualquer coisa”.
Atualmente, Hersh não está trabalhando como repórter: está preparando um livro que com certeza nenhum jornalista gostará de ler, ou que os jornalistas provavelmente apreciarão tão pouco quanto Bush e Obama.
“A república está em perigo, nos EUA. Mente-se demais, mente-se, pelos jornais e noticiários sobre tudo e todos. A mentira virou o gancho”. E suplica que os jornalistas façam algo contra esse estado de coisas.
Lisa O'Carroll
Lisa O'Carroll is the Guardian's Brexit correspondent.