Adam Shatz
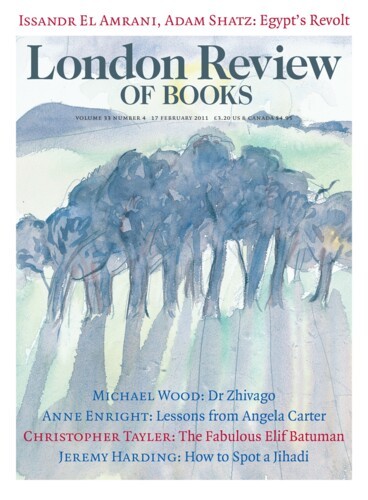 |
| Vol. 33 No. 4 · 17 February 2011 |
Tradução / Após a batalha pela Praça Tahrir, a classificação conceitual usada no Ocidente para dividir o mundo islâmico entre amigos e inimigos, moderados e radicais, bons e maus muçulmanos nunca pareceu tão inadequada ou irrelevante. Um governo árabe “moderado” e “estável”, pilar da estratégia americana no Oriente Médio, foi deposto no Egito por protestos em escala nacional que reivindicavam uma reforma democrática, um governo transparente, liberdade de reunião, uma distribuição mais justa dos recursos do país e uma política externa alinhada com a opinião popular. Esse movimento deixou outros governos árabes em pânico, ao mesmo tempo em que despertou a esperança de seus povos jovens e frustrados. Se a revolução no Egito for bem-sucedida, terá derrubado não só um regime corrupto e autocrático. Terá destronado também o vocabulário e os padrões de pensamento que sustentaram a política ocidental no Oriente Médio por mais de meio século.
O destino da revolução permanece incerto. Mubarak se foi, os manifestantes em sua maioria foram varridos das ruas e o Exército preencheu o vácuo. Disciplinado, continua no poder e dispõe de recursos consideráveis à sua disposição. A retórica cortante de seus comunicados pode soar refrescante após os discursos de Mubarak, de seu filho Gamal e dos empresários que dominavam o Partido Nacional Democrático. Até agora, a maior parte dos egípcios tem se mostrado disposta a dar ao Conselho Supremo das Forças Armadas o benefício da dúvida. Como em qualquer revolução, o desejo de ordem e segurança é quase tão forte quanto o anseio por mudança. Milhares de trabalhadores em indústrias críticas entraram em greve, desafiando o Conselho Supremo, e os egípcios mais pobres podem desejar transformações mais abrangentes do que as pleiteadas pela classe média.
Os temores de uma tomada do poder pelo Exército são descabidos: as Forças Armadas egípcias sempre preferiram permanecer distantes da política, para que um governo civil lidasse com as questões do dia a dia. Ainda que a Lei de Emergência venha a ser suspensa e se estabeleça um governo democrático, qualquer tentativa de reduzir os privilégios do Exército, ou de reconfigurar a política externa, será recebida com resistência pelos generais. Nesse caso, é improvável que os Estados Unidos imponham alguma pressão significativa, ou que suspendam sua ajuda. Com suas cidades militares autossuficientes, nas quais apartamentos confortáveis e produtos estrangeiros podem ser obtidos com desconto, e uma ampla participação numa economia baseada em um misto de clientelismo e neoliberalismo, os oficiais graduados do Exército vivem em um mundo à parte, e não querem vê-lo perturbado. Eles tampouco querem ver ameaçada a ajuda que recebem dos Estados Unidos, o que significa que não vão aderir a qualquer mudança dramática na orientação da política externa – para alívio de Israel.
Os temores de uma tomada do poder pelo Exército são descabidos: as Forças Armadas egípcias sempre preferiram permanecer distantes da política, para que um governo civil lidasse com as questões do dia a dia. Ainda que a Lei de Emergência venha a ser suspensa e se estabeleça um governo democrático, qualquer tentativa de reduzir os privilégios do Exército, ou de reconfigurar a política externa, será recebida com resistência pelos generais. Nesse caso, é improvável que os Estados Unidos imponham alguma pressão significativa, ou que suspendam sua ajuda. Com suas cidades militares autossuficientes, nas quais apartamentos confortáveis e produtos estrangeiros podem ser obtidos com desconto, e uma ampla participação numa economia baseada em um misto de clientelismo e neoliberalismo, os oficiais graduados do Exército vivem em um mundo à parte, e não querem vê-lo perturbado. Eles tampouco querem ver ameaçada a ajuda que recebem dos Estados Unidos, o que significa que não vão aderir a qualquer mudança dramática na orientação da política externa – para alívio de Israel.
O Exército recebe 1,3 bilhão de dólares por ano dos Estados Unidos para manter a paz com Israel e prover diversos serviços, como ajudar no bloqueio a Gaza e enfraquecer a unidade palestina, interrogar prisioneiros na “guerra contra o terror” e agilizar a passagem de navios americanos pelo Canal de Suez. O próprio Exército egípcio também tem vínculos estreitos com Israel. De acordo com um telegrama divulgado pelo WikiLeaks, Omar Suleiman, o chefe de inteligência de Mubarak e vice-presidente por um breve período, disse aos israelenses que eles podiam se sentir “à vontade” para invadir a Rota Filadélfia, uma estreita faixa de terra entre o Egito e Gaza, para combater o tráfico de armas pelo Hamas. Empresas egípcias próximas à família Mubarak também vendem gás natural para Israel com desconto – elas respondem por 40% do abastecimento do Estado judeu. Como era de se esperar, o Conselho Supremo das Forças Armadas se apressou em garantir a Israel que o tratado de paz seria honrado. Resta saber se, sob um governo mais democrático, o Egito vai interpretar o tratado em termos tão suscetíveis aos interesses dos Estados Unidos e de Israel.
Ainda é cedo para dizer se o Egito fará a transição para um governo civil, se recuperará a sua soberania depois de trinta anos como Estado-cliente dos Estados Unidos, e muito menos se vai um dia recuperar a liderança regional que exerceu sob Nasser. Mas não é cedo para especular sobre o impacto da derrubada de Mubarak no equilíbrio de forças da região. “Os regimes estão se sentindo vulneráveis”, disse o filósofo sírio Sadiq al-Azm. Com os protestos se espalhando pelo mundo árabe e muçulmano, não surpreende que os governantes recorram à força bruta. Mas ela pode não ser tão eficaz quanto foi no passado – justamente devido aos exemplos dados pela Tunísia e pelo Egito.
A resistência sem violência ganhou o charme – e reputação de eficácia – que nunca teve no mundo islâmico. Acreditava-se que naquela parte do mundo os governos não poderiam ser derrubados por meios pacíficos; que ali a luta armada perpetuaria um estilo mais viril de rebelião, calcado nos anos heroicos da revolução palestina. Outro efeito bem-vindo dos protestos de agora foi o de resgatar a linguagem da democracia no mundo islâmico, de onde ela havia sido expelida pelas guerras norte-americanas.
O nascimento de um movimento democrático no mundo árabe não é o golpe fatal para o islamismo anunciado pelos analistas ocidentais mais otimistas. Enquanto milhões de árabes pobres forem induzidos a recorrer a organizações como a Irmandade Muçulmana, em vez de procurarem o Estado para obter serviços básicos, e enquanto os locais sagrados islâmicos de Jerusalém seguirem sob o controle israelense, o braço político do Islã continuará a ter uma base de apoio significativa. Graças à experiência egípcia, contudo, as velhas divisões entre forças islâmicas e seculares foram atenuadas. Ficou demonstrado que elas podem atuar unidas em prol de objetivos políticos comuns. O canto ouvido de ponta a ponta na praça Tahrir – “A Tunísia é a solução” – em breve poderá eclipsar o velho slogan da Irmandade Muçulmana, “O Islã é a solução”.
Nos Estados Unidos, as revoltas provocam surpresa. Soam como non sequitur em um debate que, dez anos depois do 11 de Setembro, permanecia estagnado na ameaça do radicalismo islâmico. À medida que o medo se transformou em fascínio, e que os jornalistas e autoridades americanas começaram a tentar interpretar os protestos, eles se esforçam em encontrar explicações que parecem refletir um desejo de reenquadrá-los em uma imagem mais familiar. O debate americano sobre o Egito não tardou em se transformar num debate sobre os Estados Unidos.
Falou-se da influência de Gene Sharp, o renomado teórico da não-violência, citado como inspirador das revoluções na Tunísia e no Egito; das lições que os ativistas egípcios aprenderam em Belgrado com ativistas contrários ao ex-presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević, treinados pelos americanos; e, acima de tudo, do papel facilitador desempenhado pelo Twitter e pelo Facebook. A engenhosidade tecnológica americana, graciosamente transmitida para o mundo árabe, foi a parteira da revolução. Não é de espantar que, nos Estados Unidos, o rosto mais popular da revolta egípcia tenha sido um jovem executivo do Google, Wael Ghonim, cuja visão empreendedora de mudança não soaria deslocada no Vale do Silício. Só que os homens que fizeram as barricadas na praça Tahrir e as defenderam quando chegaram os rufiões a cavalo não eram usuários do Twitter; eram Irmãos Muçulmanos, cujas visões muito diferentes do futuro do Egito terão de ser levadas em conta, e não apenas como um perigo a ser evitado.
Acadêmicos americanos, tanto de direita quanto de esquerda, também tentaram reivindicar crédito pela revolta. Mas parecem não ter notado na praça Tahrir os cartazes que denunciavam Mubarak como um agente americano, e que sugeriam em hebraico que ele se exilasse em Tel-Aviv. Na verdade, a revolta brotou em parte de um movimento cujas origens remontam aos comitês populares em defesa da Segunda Intifada. Vários democratas egípcios se opuseram por muito tempo à posição do governo sobre a Palestina, considerada não só injusta, como um insulto à dignidade nacional.
Ainda é cedo para dizer se o Egito fará a transição para um governo civil, se recuperará a sua soberania depois de trinta anos como Estado-cliente dos Estados Unidos, e muito menos se vai um dia recuperar a liderança regional que exerceu sob Nasser. Mas não é cedo para especular sobre o impacto da derrubada de Mubarak no equilíbrio de forças da região. “Os regimes estão se sentindo vulneráveis”, disse o filósofo sírio Sadiq al-Azm. Com os protestos se espalhando pelo mundo árabe e muçulmano, não surpreende que os governantes recorram à força bruta. Mas ela pode não ser tão eficaz quanto foi no passado – justamente devido aos exemplos dados pela Tunísia e pelo Egito.
A resistência sem violência ganhou o charme – e reputação de eficácia – que nunca teve no mundo islâmico. Acreditava-se que naquela parte do mundo os governos não poderiam ser derrubados por meios pacíficos; que ali a luta armada perpetuaria um estilo mais viril de rebelião, calcado nos anos heroicos da revolução palestina. Outro efeito bem-vindo dos protestos de agora foi o de resgatar a linguagem da democracia no mundo islâmico, de onde ela havia sido expelida pelas guerras norte-americanas.
O nascimento de um movimento democrático no mundo árabe não é o golpe fatal para o islamismo anunciado pelos analistas ocidentais mais otimistas. Enquanto milhões de árabes pobres forem induzidos a recorrer a organizações como a Irmandade Muçulmana, em vez de procurarem o Estado para obter serviços básicos, e enquanto os locais sagrados islâmicos de Jerusalém seguirem sob o controle israelense, o braço político do Islã continuará a ter uma base de apoio significativa. Graças à experiência egípcia, contudo, as velhas divisões entre forças islâmicas e seculares foram atenuadas. Ficou demonstrado que elas podem atuar unidas em prol de objetivos políticos comuns. O canto ouvido de ponta a ponta na praça Tahrir – “A Tunísia é a solução” – em breve poderá eclipsar o velho slogan da Irmandade Muçulmana, “O Islã é a solução”.
Nos Estados Unidos, as revoltas provocam surpresa. Soam como non sequitur em um debate que, dez anos depois do 11 de Setembro, permanecia estagnado na ameaça do radicalismo islâmico. À medida que o medo se transformou em fascínio, e que os jornalistas e autoridades americanas começaram a tentar interpretar os protestos, eles se esforçam em encontrar explicações que parecem refletir um desejo de reenquadrá-los em uma imagem mais familiar. O debate americano sobre o Egito não tardou em se transformar num debate sobre os Estados Unidos.
Falou-se da influência de Gene Sharp, o renomado teórico da não-violência, citado como inspirador das revoluções na Tunísia e no Egito; das lições que os ativistas egípcios aprenderam em Belgrado com ativistas contrários ao ex-presidente da Iugoslávia, Slobodan Milošević, treinados pelos americanos; e, acima de tudo, do papel facilitador desempenhado pelo Twitter e pelo Facebook. A engenhosidade tecnológica americana, graciosamente transmitida para o mundo árabe, foi a parteira da revolução. Não é de espantar que, nos Estados Unidos, o rosto mais popular da revolta egípcia tenha sido um jovem executivo do Google, Wael Ghonim, cuja visão empreendedora de mudança não soaria deslocada no Vale do Silício. Só que os homens que fizeram as barricadas na praça Tahrir e as defenderam quando chegaram os rufiões a cavalo não eram usuários do Twitter; eram Irmãos Muçulmanos, cujas visões muito diferentes do futuro do Egito terão de ser levadas em conta, e não apenas como um perigo a ser evitado.
Acadêmicos americanos, tanto de direita quanto de esquerda, também tentaram reivindicar crédito pela revolta. Mas parecem não ter notado na praça Tahrir os cartazes que denunciavam Mubarak como um agente americano, e que sugeriam em hebraico que ele se exilasse em Tel-Aviv. Na verdade, a revolta brotou em parte de um movimento cujas origens remontam aos comitês populares em defesa da Segunda Intifada. Vários democratas egípcios se opuseram por muito tempo à posição do governo sobre a Palestina, considerada não só injusta, como um insulto à dignidade nacional.
Uma vez deposto Mubarak, o governo Obama, amplamente criticado por sua resposta incoerente – e muitas vezes ciclotímica – à revolta, tentou apresentar o seu desempenho como o triunfo de uma diplomacia silenciosa e heroicamente persistente. As mensagens ambíguas, contradições e mudanças de rumo repentinas refletiam, dizem-nos agora, uma disputa entre a jovem guarda da Casa Branca, comprometida com a mudança de ventos no Oriente Médio, e a velha guarda cautelosa do Departamento de Estado de Hillary Clinton. Mubarak podia ser abandonado, mas não o Estado egípcio, cuja cooperação é essencial para a política americana na região, do antiterrorismo à luta contra o Irã, do “processo de paz” entre Israel e os palestinos ao Canal de Suez.
Na realidade, se a resposta de Washington pareceu confusa, não foi tanto por causa de um conflito geracional em Washington, mas devido à enraizada “parceria” de trinta anos com o regime “moderado” do Egito. Não surpreende que o governo Obama tenha coberto de elogios os militares, que eles esperam que contenham os manifestantes ansiosos por mudanças mais radicais nas políticas interna e externa.
Em seu primeiro pronunciamento após a queda de Mubarak, Barack Obama não ocultou a natureza da relação dos Estados Unidos com o governo militar egípcio. Apenas fez o possível para expressá-la na retórica despolitizada da amizade e da parceria. O presidente pareceu tenso e preocupado à medida que narrava a derrota de um velho aliado. Enfatizou que os militares teriam de garantir uma transição “verossímil”, iniciar a redação de uma nova Constituição, suspender a Lei de Emergência e incluir “todas as vozes do Egito” – um aceno implícito à Irmandade Muçulmana.
Mas migrou rapidamente para o plano nobre e etéreo da História, no qual sempre se mostrou mais à vontade, seja discutindo revoluções no mundo árabe ou em sua vida pessoal. Obama celebrou a “força moral da não-violência”, citou Martin Luther King – “Há algo na alma que clama por liberdade” – e comparou a transformação democrática do Egito à queda do Muro de Berlim. O que Obama não disse – não poderia fazê-lo – é que ele não desempenharia o papel de Mikhail Gorbachev no processo atual.
“O Egito jamais será o mesmo”, disse Obama no discurso, mas sua equipe não parece achar que isso implique a necessidade de mudanças em Washington. O secretário de Imprensa da Casa Branca tentou transformar o sucesso da revolta no Egito – uma derrota americana – em uma futura vitória no Irã, saudando as manifestações do Movimento Verde em Teerã. Disse desejar que o governo iraniano honrasse a liberdade de reunião, como o governo no Cairo fizera. Mas parece ter se esquecido de que pelo menos 365 manifestantes no Egito morreram, milhares foram feridos e centenas detidos, e que a revolta em questão pretendia derrubar o governo que ele estava elogiando.
Nem Hillary Clinton nem Obama, porém, parecem ter se comovido quando aquele “algo na alma que clama por liberdade” se fez ouvir no Bahrein. Os protestos da maioria oprimida de xiitas contra a monarquia sunita apoiada pelos Estados Unidos eram inconvenientes: o rei Hamad bin Isa al-Khalifa, um inimigo confiável do Irã, é o anfitrião da Quinta Frota da Marinha americana e de mais de 2 mil militares americanos. Ademais, a derrubada do regime poderia dar ideias à maioria sunita insatisfeita nas províncias orientais, ricas em petróleo, da Arábia Saudita.
Na realidade, se a resposta de Washington pareceu confusa, não foi tanto por causa de um conflito geracional em Washington, mas devido à enraizada “parceria” de trinta anos com o regime “moderado” do Egito. Não surpreende que o governo Obama tenha coberto de elogios os militares, que eles esperam que contenham os manifestantes ansiosos por mudanças mais radicais nas políticas interna e externa.
Em seu primeiro pronunciamento após a queda de Mubarak, Barack Obama não ocultou a natureza da relação dos Estados Unidos com o governo militar egípcio. Apenas fez o possível para expressá-la na retórica despolitizada da amizade e da parceria. O presidente pareceu tenso e preocupado à medida que narrava a derrota de um velho aliado. Enfatizou que os militares teriam de garantir uma transição “verossímil”, iniciar a redação de uma nova Constituição, suspender a Lei de Emergência e incluir “todas as vozes do Egito” – um aceno implícito à Irmandade Muçulmana.
Mas migrou rapidamente para o plano nobre e etéreo da História, no qual sempre se mostrou mais à vontade, seja discutindo revoluções no mundo árabe ou em sua vida pessoal. Obama celebrou a “força moral da não-violência”, citou Martin Luther King – “Há algo na alma que clama por liberdade” – e comparou a transformação democrática do Egito à queda do Muro de Berlim. O que Obama não disse – não poderia fazê-lo – é que ele não desempenharia o papel de Mikhail Gorbachev no processo atual.
“O Egito jamais será o mesmo”, disse Obama no discurso, mas sua equipe não parece achar que isso implique a necessidade de mudanças em Washington. O secretário de Imprensa da Casa Branca tentou transformar o sucesso da revolta no Egito – uma derrota americana – em uma futura vitória no Irã, saudando as manifestações do Movimento Verde em Teerã. Disse desejar que o governo iraniano honrasse a liberdade de reunião, como o governo no Cairo fizera. Mas parece ter se esquecido de que pelo menos 365 manifestantes no Egito morreram, milhares foram feridos e centenas detidos, e que a revolta em questão pretendia derrubar o governo que ele estava elogiando.
Nem Hillary Clinton nem Obama, porém, parecem ter se comovido quando aquele “algo na alma que clama por liberdade” se fez ouvir no Bahrein. Os protestos da maioria oprimida de xiitas contra a monarquia sunita apoiada pelos Estados Unidos eram inconvenientes: o rei Hamad bin Isa al-Khalifa, um inimigo confiável do Irã, é o anfitrião da Quinta Frota da Marinha americana e de mais de 2 mil militares americanos. Ademais, a derrubada do regime poderia dar ideias à maioria sunita insatisfeita nas províncias orientais, ricas em petróleo, da Arábia Saudita.
De repente, é Washington, e não o Oriente Médio, que parece estagnado. As revoltas na Tunísia e no Egito – e os sinais crescentes de turbulência na esfera de influência americana no Oriente Médio – aconteceram a despeito do poder americano, e não por causa dele. Deixaram os Estados Unidos confusos e isolados. Seus aliados mais próximos na região são uma monarquia absolutista em que mulheres não podem dirigir e decapitações determinadas pela Justiça são comuns, e um Estado judeu expansionista e cada vez mais chauvinista cuja amizade é tanto um bem quanto uma obrigação. Se os esforços de Barack Obama para mudar a imagem do império americano progrediram pouco, é em parte porque não foram acompanhados por uma tentativa séria para repensar essas prioridades estratégicas. A grandeza de sua retórica mal esconde a pobreza de sua visão.
Enquanto isso, no Oriente Médio a revolta é a última expansão de um novo dinamismo. Um governo apoiado pelo Hezbollah assumiu o poder no Líbano por meios constitucionais, invalidando os cálculos de Washington e aprofundando a influência de Teerã. A Turquia, sob um governo islâmico, tem conduzido uma política externa ambiciosa, que ignora a classificação de Washington. Mesmo no Iraque e no Afeganistão, os Estados Unidos não podem mais contar com a deferência dos governos que eles ajudaram a instituir.
Apesar da sua supremacia militar na região, Washington não parece conseguir traduzir seu poder em influência, ou seu domínio em hegemonia duradoura. Sua ajuda é raramente solicitada na resolução de conflitos. Uma preferência clara pela mediação regional tem emergido. Essa tendência é a expressão não de um antiamericanismo crescente, mas do aumento da autoconfiança e da convicção de que eles podem encontrar soluções sozinhos. O melhor que pode ser dito da política de Obama para o Oriente Médio é que ele não obstruiu essa tendência tanto quanto seu antecessor. Ele foi impedido de estimulá-la por seus instintos cautelosos e pelas alianças herdadas com Israel e a Arábia Saudita, cujos termos ele não quer ou não pode modificar. Os dias de hegemonia americana no Oriente islâmico não acabaram, mas pela primeira vez em anos, de Ancara ao Cairo, de Túnis a Beirute, os contornos de um Oriente Médio pós-americano podem ser vislumbrados.
Enquanto isso, no Oriente Médio a revolta é a última expansão de um novo dinamismo. Um governo apoiado pelo Hezbollah assumiu o poder no Líbano por meios constitucionais, invalidando os cálculos de Washington e aprofundando a influência de Teerã. A Turquia, sob um governo islâmico, tem conduzido uma política externa ambiciosa, que ignora a classificação de Washington. Mesmo no Iraque e no Afeganistão, os Estados Unidos não podem mais contar com a deferência dos governos que eles ajudaram a instituir.
Apesar da sua supremacia militar na região, Washington não parece conseguir traduzir seu poder em influência, ou seu domínio em hegemonia duradoura. Sua ajuda é raramente solicitada na resolução de conflitos. Uma preferência clara pela mediação regional tem emergido. Essa tendência é a expressão não de um antiamericanismo crescente, mas do aumento da autoconfiança e da convicção de que eles podem encontrar soluções sozinhos. O melhor que pode ser dito da política de Obama para o Oriente Médio é que ele não obstruiu essa tendência tanto quanto seu antecessor. Ele foi impedido de estimulá-la por seus instintos cautelosos e pelas alianças herdadas com Israel e a Arábia Saudita, cujos termos ele não quer ou não pode modificar. Os dias de hegemonia americana no Oriente islâmico não acabaram, mas pela primeira vez em anos, de Ancara ao Cairo, de Túnis a Beirute, os contornos de um Oriente Médio pós-americano podem ser vislumbrados.





