Tradução / As reflexões que seguem dizem respeito a um desafio permanente e fundamental que todos os movimentos populares em luta contra o capitalismo enfrentaram e enfrentam. Por lutas contra o capitalismo entendo sejam (a) as lutas dos movimentos que assumam o objetivo radical de abolir esse sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção modernos (o capital), para substituí-lo por sistema baseado na propriedade social dos trabalhadores; e (b) as lutas dos movimentos que, sem ir até lá, mobilizam-se para realmente transformar, e em medida significativa, as relações entre o trabalho (“empregado do capital”) e o capital (“que emprega trabalhadores”). Esses movimentos (a) e (b) podem contribuir, em graus diferentes, para pôr o capitalismo outra vez em causa; como podem também só criar a ilusão de que agem naquela direção, quando, de fato, só constrangem o capital a se transformar para absorver, caso a caso, as reivindicações do trabalho. Sabendo que a fronteira entre a eficácia e a impotência das estratégias adotadas nem sempre é fácil de demarcar, como tampouco é fácil o choque entre as perspectivas estratégicas e as contingências táticas.
Considerados em conjunto, bom número desses movimentos podem ser qualificados como “movimento ao socialismo”. Tomo emprestada a locução ao vocabulário posto em uso ao longo das últimas décadas por alguns partidos da América do Sul (Chile, Bolívia e outros). Esses partidos renunciaram ao objetivo tradicional dos partidos comunistas (“exercer o poder para construir o socialismo”), para substituí-lo por outro – de aparência mais modesta – de construir pacientemente as condições sociais e políticas que permitem avançar rumo ao socialismo. A diferença está em que a construção do socialismo pregada pelos partidos comunistas a ela dedicados partia de uma definição de socialismo previamente conhecida, inspirada pela experiência soviética, que se pode resumir em dois termos: nacionalizações e planejamento de Estado. Os partidos que se definem pelo “movimento ao socialismo” deixam aberta a identificação final dos meios para socializar a gestão de uma economia moderna.
Certo número de organizações e partidos – mas não todos – que reivindicam para eles o socialismo, ou ainda o comunismo, declaram-se herdeiros de Marx e mesmo, às vezes, de um marxismo histórico como formulado pelas tradições do sovietismo e/ou do maoísmo.
De fato, o triunfo do capitalismo a partir da revolução industrial e sua globalização pela expansão imperialista criaram simultaneamente as condições para a emergência de um projeto de civilização universal superior, o do socialismo/comunismo. Várias fontes convergiram nessa invenção; e Lênin, depois de Engels, ofereceu-lhe uma classificação bem conhecida da variante marxista: a economia clássica inglesa, o socialismo utópico francês, a filosofia hegeliana alemã. Apresentação que simplifica a realidade e ignora várias outras contribuições de antes e depois de Marx.
Sem dúvida, a contribuição de Marx à formulação do projeto socialista/comunista constitui a cisão decisiva na elaboração do projeto. O pensamento de Marx constrói-se, de fato, a partir de uma análise científica rigorosa do capitalismo considerado em todas as facetas de sua realidade histórica, o que não havia nas formulações socialistas anteriores e mesmo posteriores, que ignoraram Marx. A formulação da lei do valor própria do capitalismo, a identificação das tendências longas da acumulação do capital, a identificação das contradições, a análise das relações entre as lutas de classes e os conflitos internacionais, por um lado; e das transformações das modalidades da gestão da acumulação e da política, por outro lado; e a análise das expressões alienadas das consciências sociais definem juntas o pensamento de Marx que inaugura o desdobramento de marxismos históricos, em particular os da II e da III Internacionais, do sovietismo e do maoísmo.
A posição central da Revolução Francesa na formação do mundo moderno
A Revolução Francesa ocupa, na minha leitura da construção moderna, uma posição central. Porque ela define um sistema de valores (liberdade, igualdade, fraternidade – hoje se diria solidariedade) que enraíza a modernidade em sua contradição fundamental; porque esses valores são, definitivamente, bem mais os valores de uma civilização socialista superior a ser inventada, que valores que o capitalismo possa honrar com plena e autêntica realização. Nesse sentido, a Revolução Francesa é mais que uma “revolução burguesa” (como o foi, por exemplo, a de 1688 na Inglaterra); ela anuncia, com a Convenção da Montanha – a necessidade de ir além.
Os valores do capitalismo – os que são úteis para o desdobramento do capitalismo – são os que inspiraram a não-revolução americana: liberdade e propriedade. Juntas, elas definem a liberdade de empresa, a liberdade de empreender, seja a pequena empresa agrícola familiar, como foi o caso nas colônias da Nova Inglaterra, seja a fazenda escravista nas colônias do sul, ou seja, mais tarde, a grande empresa industrial, depois os monopólios financeirizados. Juntos, esses dois valores associados excluem qualquer aspiração à igualdade que vá além da igualdade que haja no direito igual para todos: “igualdade de oportunidades”, dirá o discurso ideológico que ignora as desigualdades iniciais que separam as classes de proprietários, do proletariado vendedor de força de trabalho.
Liberdade e propriedade dão, juntas, uma legitimidade aparente à desigualdade: a desigualdade será o produto do talento e do trabalho do indivíduo. Elas ignoram as virtudes da solidariedade, para só reconhecerem as de seu antípoda: a competição entre indivíduos e empresas.
Liberdade e igualdade são valores conflitantes por natureza, e só se tornariam complementares se se suprimisse a propriedade burguesa, entendida como propriedade de uma minoria. A Revolução Francesa, mesmo em seu momento de radicalismo “montanhês”, não vai até lá: ela continua a proteger a propriedade sacralizada, que concebe como generalizável, sob a forma de pequena propriedade agrícola e artesanal familiar. Ela não tem os meios que lhe permitiriam conter o movimento do capitalismo que reconhecerá a concentração progressiva e inevitável da propriedade moderna – a concentração do capital.
A ideia do socialismo/comunismo, entendida como etapa da civilização superior à ideia do capitalismo, constitui-se precisamente na tomada gradual de consciência do que está implicado na prática sincera da divisa “liberdade, igualdade, solidariedade”: substituir a propriedade coletiva da minoria dos burgueses, pela propriedade coletiva dos trabalhadores.
As diferentes linhagens na formação do pensamento e da ação socialistas
Confrontar as relações sociais do capitalismo e a exploração dos trabalhadores a elas associados está na origem dos movimentos de lutas populares modernas. Esses movimentos podem ter sido em certos casos, na origem, espontâneos; em outros casos, foram impulsionados com diferentes graus de sucesso por grupos que se dedicaram a mobilizar e a organizar, para esse fim, os trabalhadores.
Esses movimentos em questão aparecem muito cedo na nova Europa, entrada na revolução industrial, em particular na Inglaterra, na França e na Bélgica, um pouco mais tarde na Alemanha e em outros pontos na Europa, como nos EUA, na Nova Inglaterra. Desenrolam-se ao longo de todo o século XIX, para tomar vários rumos (qualificados de “revolucionários” e de “reformistas” no século XX).
Outros movimentos surgem nas sociedades do capitalismo periférico, quer dizer, em países integrados ao sistema globalizado do capitalismo em muitas regiões submetidas às exigências da acumulação, dos centros dominantes. Em seu desdobramento mundial, o capitalismo histórico é polarizador, no sentido de que centros dominantes e periféricos dominados são construídos simultaneamente em uma relação de assimetria sempre reproduzida e aprofundada pela lógica do sistema. Capitalismo e imperialismo constituem o verso e o reverso indissociáveis da mesma realidade.
Nessas condições, os movimentos em luta contra o sistema instalado são largamente anti-imperialistas, no sentido de que as forças sociais que estão na origem deles propõem-se como objetivo, não construir uma sociedade pós-capitalista, mas, sim, “copiar para resgatar” as sociedades capitalistas opulentas dos centros. Todavia, porque a burguesia desses países é modelada desde o nascimento pela relação de dependência (e por isso qualificada como “compradora” por natureza, para empregar o termo com que, na origem, foi designada pelo comunismo chinês), ela não tem meios para reconstruir-se como burguesia nacional capaz de uma autêntica revolução burguesa (“antifeudal”, para empregar o termo em uso no comunismo da III Internacional). Daí que o combate contra o imperialismo, conduzido como grande aliança social anti-imperialista e antifeudal dirigida por um partido que reivindica para ele a perspectiva socialista/comunista, torne-se potencialmente anticapitalista.
Esses movimentos de emancipação nacional e popular põem-se o objetivo de atravessar a etapa da revolução anti-imperialista/antifeudal/popular (e não burguesa)/democrática. Inscrevem-se então no movimento ao socialismo.
Temos, pois, de examinar de mais perto duas famílias de movimentos ao socialismo: os que emergem e desenrolam-se nos centros imperialistas; e os que se desenrolam nas periferias dominadas. Essas duas famílias de movimentos jamais se beneficiam da garantia de que serão vistas como famílias de movimentos ao socialismo, mas alguns movimentos podem, potencialmente, vir a sê-lo. Quais são as condições e quais os critérios que nos permitem classificar como tal alguns movimentos?
Linhagens de movimentos ao socialismo nos centros do sistema capitalista mundial
A tomada de consciência de que o capitalismo deve ser abolido e substituído por uma organização socialista da sociedade opera seus primeiros avanços na França, mais que em outros pontos da Europa do século XIX ou nos EUA. O vetor dessa progressão é fornecido pelos herdeiros do jacobinismo, atores maiores em 1848 depois na Comuna de 1871, cuja teoria foi produzida por Blanqui, a qual se inspirou no sindicalismo revolucionário francês. A cooperativa de produção e a autogestão fornecem o quadro institucional e jurídico dessas primeiras formulações da socialização da propriedade.
O “socialismo francês” – podemos chamá-lo assim – distingue-se do outro cuja emergência será inspirada por Marx, por seu caráter idealista. De fato, suas origens devem ser buscadas na herança da Filosofia das Luzes do século XVIII, à qual dá a mais radical interpretação social do sentido dos valores éticos de justiça, cidadania, igualdade, liberdade, solidariedade. Mas persiste sem tomar conhecimento do exame científico dos processos que regem a produção e a reprodução da acumulação – que Marx será o primeiro e único a analisar para compreender as razões e a natureza da aspiração ao socialismo.
Compreende-se assim que Marx, depois os marxismos históricos da II e da III Internacionais, tenha sido críticos da teoria e da prática desse “socialismo francês”. Crítica do blanquismo que substitui a estratégia da luta de longa duração do proletariado que se organiza ele próprio, pela estratégia de conspiração e do golpe de estado; crítica não menos violenta da filosofia de Proudhon; crítica da concepção “elitista” da organização do sindicalismo revolucionário. Adiante, voltaremos sobre essa questão do “sindicalismo revolucionário” (à francesa), cujos traços estão ainda vivos na França contemporânea, e que o distingue do “sindicalismo de massa” (ou de “consenso”) de outros países europeus.
Marx ouviu bem outras linhagens, além da francesa, que contribuíram para a formação do (ou dos) movimento ao socialismo, efetivo ou ilusório, na Europa, portanto, da linhagem inglesa em particular. Mas não as examinarei aqui.
Essas fontes convergirão para a construção da Associação Internacional dos Trabalhadores - Association Internationale des Travailleurs (AIT) -, a I Internacional, criada quando Marx ainda vivia e com sua ativa participação.
Sobre ela, Marx escreveu em 1866 (Resolução do 1º Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores): "A obra da AIT é generalizar e unificar os movimentos espontâneos da classe operária, mas não prescrever-lhe ou impor algum sistema doutrinal seja qual for."
A AIT associa organizações – embriões de partidos e de sindicatos, associações diversas – que reivindiquem para elas “sistemas doutrinais” diferentes: o de Marx, mas também os de Bakunin e de Proudhon. Marx combate, no seio da AIT, um combate ideológico e político contra as doutrinas que para ele não têm fundamento científico e, por isso mesmo, são fonte de ilusão e ineficácia para o movimento operário. Mas, na frase citada acima, Marx expõe o princípio fundamental ao qual me alinho: aceitar, reconhecer a diversidade, agir para reforçar a unidade nas lutas.
Ora, o que se desenvolverá na Europa ao longo do último terço do século XIX, depois da morte de Marx, mas com Engels ainda vivo, é exatamente uma evolução dos movimentos europeus ao socialismo que surgirão desse princípio.
A II Internacional é marcada pelo encontro de “partidos” que se haviam tornado – em termos relativos – “grandes partidos operários”, praticamente um por país. Essa evolução será concomitante à formação de grandes sindicatos, incomparavelmente maiores que os da Europa de Marx. A cada país “seu” partido. São diferentes, de um país a outro. Mas todos partilham o ideal de serem “o partido operário único” em seu país. A formação deles, como tal, baseia-se de fato na fusão de movimentos que, na origem, cumpriam diferentes obediências. O Partido Operário Social Democrata Alemão associa lassalistas e marxistas; o Partido Socialista Francês, jaurès-sistas (herdeiros da tradição do “socialismo francês"), guesdistas (marxistas) e blanquistas. O Partido Britânico confunde-se com os sindicatos federados no Partido Trabalhista. Essa evolução, na época, pareceu positiva e sólida, a muitos. A história mostrará que é mais frágil do que se supunha.
Mas “a unidade” formalmente realizada do plano organizacional irá, dali em diante, ser concebida não como complementar da diversidade – cuja existência é negada – mas como em conflito com ela.
A unidade aparente do partido operário parece consolidada pela emergência do sindicalismo, ele também unificado. O “sindicalismo de massa” encontra via livre: todos os assalariados de um ramo de atividades industriais e comerciais têm de ser sindicalizados (é o objetivo que se autoimpõem) e tem de pertencer ao mesmo sindicato único. O modelo por excelência desse sindicalismo será dado, um pouco mais tarde, pelos países escandinavos. Mas a França continua a ser a exceção a essa tendência geral. Na tradição do sindicalismo revolucionário, o Sindicato só recruta a vanguarda politizada e dedica a adestrar as massas de assalariados, a organizar as lutas delas, e/ou a apoiar os movimentos espontâneos. O Sindicato faz-se de quase-partido, aliado ou concorrente dos partidos operários. O sindicalismo de massa não favorece a politização de suas tropas, mas, ao contrário, facilita sua obediência passiva, sua despolitização. O Sindicato de massas alinha-se pelo menor denominador comum: a reivindicação estritamente econômica, vez ou outra o apoio eleitoral ao seu aliado, o partido socialdemocrata.
A guerra de 1914 fará eclodir à luz do dia a impotência dos partidos e sindicatos da II Internacional. A “traição” de Kautsky surpreendeu o próprio Lênin. Contudo, a deriva “revisionista” iniciada por Bernstein – e o sucesso que teve – faria compreender que os partidos e sindicatos não mais constituíam qualquer “movimento ao socialismo”. A razão maior dessa deriva não estava porém na “traição dos chefes”, nem na corrupção da magra faixa de aristocracia operária e do carreirismo dos burocratas da organização. Sua origem estava em um fato objetivo: a opulência da sociedade fundada sobre a pilhagem imperialista. A deriva persistirá no período do entre-guerras (1920-1939) e mesmo depois da II Guerra Mundial, durante os “30 anos gloriosos” (1945-1975). Os partidos e os sindicatos “reformistas” – que renunciaram a repor em questão o capitalismo – manteriam a confiança da maioria dos trabalhadores, relegando os comunistas leninistas ao status de minorias.
Claro que há nuanças em tudo isso, e o autor dessas linhas crê ter consciência delas, desde o início. Em alguns momentos do entre-guerras, ante a ameaça fascista e nazista, as lutas para salvaguardar a democracia (burguesa) convergem com as lutas por melhores condições para os trabalhadores. As Frentes Populares podem então fazer renascer a esperança de que o movimento seja reconvertido ao socialismo. No pós-guerra, a soma da colaboração de classes das burguesias do continente europeu e a Alemanha nazista rampante, o papel decisivo das classes operárias nos movimentos de resistência, o prestígio do Exército Vermelho que derrotou os nazistas, tudo isso torna outra vez possível que renasça uma esperança de movimento ao socialismo, sobretudo na França e na Itália. As conquistas das classes operárias, na Grã-Bretanha e na Europa ocidental, mesmo nos EUA – a seguridade social, as políticas de pleno emprego, o aumento dos salários paralelo aos ganhos anuais da produtividade média do trabalho social – nada disso pode ser visto, em nenhum caso, com desprezo. Tudo isso transformou – e para melhor – as condições de dezenas de milhões de trabalhadores. Tudo isso transformou – e para melhor – a figura das sociedades envolvidas.
Mas ao mesmo tempo é forçoso constatar que esses ganhos dos trabalhadores foram possibilitados – pelo capital – pela pilhagem imperialista reforçada. Durante todos os “30 anos gloriosos”, a energia (o petróleo) tornou-se praticamente gratuita.
Não há pois oposição séria, nos centros imperialistas, que se oponha à vitória do capital, em contraofensiva, a partir de 1975, pondo fim aos “30 anos gloriosos” e às conquistas operárias e, simultaneamente, à progressão da deriva dos partidos e sindicatos da ex-II Internacional, alinhando-se pois no social-liberalismo. Chegamos assim ao fim da progressão: à sociedade de “consenso”, entendido como a aceitação do “capitalismo eterno”, da despolitização, da substituição do trabalhador-cidadão pelo espectador e pelo consumidor.
Essa vitória do capital e o desaparecimento nos centros imperialistas que tenham a ver, de qualquer movimento ao socialismo, não foram contudo assim tão firmes como se acreditou ou se fez crer. A renovação das lutas contra as devastações sociais associadas ao diktat do capital vitorioso anuncia a possibilidade de uma renovação do movimento ao socialismo. Adiante, voltaremos a isso.
As linhagens leninistas do movimento ao socialismo
A primeira revolução vitoriosa feita em nome do socialismo é a da Rússia, país semiperiférico. E não por acaso. O Partido Operário Social Democrata Russo, criado no fim do século XIX, acredita pertencer à família europeia da época e Kautsky é seu mentor. De fato, o POSDR não pertence à Europa; e anuncia a transferência do centro de gravidade dos movimentos ao socialismo, dos centros imperialistas para os centros periféricos. Essa transferência vai modelar todo o século XX. Não é pois por acaso que a tendência radical (os bolcheviques) vença na Rússia a tendência da conciliação (os mencheviques) que ela empurra para a defensiva, quando, em todos os países europeus, vê-se acontecer o inverso.
Não obstante, Lênin permanece ligado aos conceitos da II Internacional no que tenha a ver com a relação entre a unidade necessária e a diversidade das correntes do movimento ao socialismo. E, em duas questões importantes, até lhes acentua os traços. Primeiramente, considera que só há lugar para um único partido da classe operária – “uma classe/um partido”. Todos os outros partidos que a III Internacional reconhecerá não participam do movimento ao socialismo. São traidores; nada além disso; é preciso ganhar as massas que eles enganam. Pode-se fazê-lo, ele acreditou, até a derrota – a qual, contudo, já estava anunciada – da revolução alemã de 1918-1919. Em segundo lugar, não se admite a independência sindical. Porque os sindicatos, diz ele, entregues a eles mesmos, não conseguem ultrapassar a consciência reformista, da reivindicação. É preciso pois integrar os sindicatos no sistema do movimento ao socialismo, submetendo-os ao status de correia de transmissão da estratégia revolucionária do Partido revolucionário.
Contudo, a história real das lutas sociais na própria Europa desmentiria a conceitualização da II Internacional e a conceitualização de Lênin, sobre o papel dos sindicatos. Os “grandes sindicatos de massa” (como na Alemanha), baseados no consenso e aliados fiéis dos “grandes partidos” da esquerda eleitoral (como o SPD na Alemanha) não foram obstáculo ao desdobramento da ofensiva do capital dos monopólios financeirizados. Ao contrário: ajudaram-nos a alcançar seus objetivos. Por outro lado, o que resta da tradição do sindicalismo revolucionário na França (chamado de “elitista” e de minoritário), porque deixa boa margem de autonomia às iniciativas da base, mostra-se mais eficaz na resistência à ofensiva do capital. O que o patronato francês deplora, enquanto não se cansa de elogiar o “modelo alemão”.
O leninismo, assim definido, inspirará as linhagens dominantes do movimento ao socialismo do século XX; enquanto as linhagens europeias, como já observei acima, deslizarão cada vez mais abertamente para posições oportunistas, no melhor dos casos só de reivindicação, inscrevendo-se nas relações capitalistas fundamentais; e assim, sairão do que se pode considerar como o movimento ao socialismo.
Lênin, pessoa, é responsável pelo “leninismo” de seus sucessores, na União Soviética e no mundo? Sim e não. Sim, no sentido da adesão de todos os sucessores, Stálin inclusive, aos dogmas do leninismo sobre a gestão da relação unidade/diversidade. Não, com certeza, na medida em que Lênin só viveu os primeiros anos da Revolução russa e não pode ser responsabilizado pessoalmente pelo que veio depois.
Essa sequência tem, contudo, um aspecto positivo que tem importância decisiva para o futuro do movimento mundial ao socialismo. O leninismo rompe com o dogma eurocêntrico segundo o qual a revolução socialista só estará na ordem do dia nos países capitalistas avançados – de fato, imperialistas. Ele faz o ato de transferir o centro de gravidade do combate pelo socialismo, dos centros para as periferias. [O Congresso dos Povos do Leste, em] Baku (1920) anunciou exatamente isso, diante de Lênin: que a III Internacional estaria presente no mundo inteiro, enquanto a II só existia na Europa.
No que tenha a ver com a sociedade soviética, o movimento ao socialismo dirigido pelo bolchevismo leninista foi forçado, pelas condições objetivas do país (o atraso; o caráter de capitalismo semiperiférico), a reduzir a “construção do socialismo” (seu objetivo proclamado) à construção de um socialismo de Estado.
Insisto aqui sobre a diferença entre socialismo de estado e capitalismo de estado. O capitalismo de estado (como o da França de De Gaulle) continua a ser um sistema a serviço do capital dos monopólios (mesmo quando faz concessões importantes em benefício dos trabalhadores); o socialismo de estado comporta dois traços de natureza muito diferente: (I) a obrigação de mostrar-se como equivalente do poder dos trabalhadores, pelo menos para o desdobramento de políticas sociais ousadas que lhe dão a legitimidade que tem; e (II) a postura independente nas relações com o sistema capitalista mundial.
Esse socialismo de Estado, que define o stalinismo e assim autoriza a classificar o stalinismo como um leninismo, levava nele a possibilidade de evoluir gradualmente à esquerda, isso é, de dar à socialização da gestão econômica formas progressivamente mais avançadas, mais conformes aos valores do socialismo, pela participação efetiva dos trabalhadores no exercício do poder. Mas levava nele igualmente o risco de estagnação, para finalmente tombar à direita, por uma restauração capitalista. O que se passou na Europa Oriental e na União Soviética com Ieltsin e Gorbatchev. Trotski teria feito melhor? Duvido muito. E essa é a razão pela qual a IV Internacional (de fato, uma III Internacional) jamais foi mais que a tribuna para oradores que reproduziram ad nauseam os princípios do leninismo, sem jamais ir além deles.
Os sistemas stalinistas e pós-stalinistas jamais conseguiram sequer começar a ultrapassar o estágio de socialismo de Estado (estatização e planejamento). Mas o início dessa ultrapassagem aconteceu, por obra da Iugoslávia de Tito. Não é acaso que essa tentativa tenha sido posta em ostracismo por Moscou. Porque, no plano de suas intervenções em escala mundial, o comunismo da III Internacional (depois do Kominform) foi gradualmente submetendo todas as estratégias dos movimentos ao socialismo aos imperativos das táticas do Estado Soviético, exclusivamente preocupado com as exigências da resistência contra o cerco capitalista.
A teoria da “via não capitalista” imposta aos parceiros dos países não alinhados na época de Bandung – sobretudo ao Egito do nasserismo anti-imperialista radicalizado, que critiquei desde que foi formulada (só posso, aqui, remeter a meus outros escritos sobre o assunto) – inscrevia-se nesse abandono da perspectiva estratégica, em benefício unicamente de uma tática.
Caberia ao comunismo chinês e a Mao conceber o movimento ao socialismo nas periferias do capitalismo mundial de maneira diferente, não em ruptura contra a herança do leninismo, mas por ultrapassá-la. Esse é o tema de uma outra linhagem do movimento ao socialismo, que abordaremos na sequência.
As linhagens do movimento ao socialismo nas periferias do capitalismo mundial
Começo por considerar a experiência da China.
A Comuna de Paris (março-maio 1871) e a Revolução (digo deliberadamente “revolução”, não “revolta”) dos Taipings (1851-1864) anunciam a entrada da humanidade na fase contemporânea de sua história. Põem fim às ilusões sobre o caráter progressista do capitalismo e anunciam o outono.
Duas revoluções gigantescas, pelo alcance de longo prazo. Uma (a Comuna de Paris) desenrola-se num centro capitalista desenvolvido; a segunda, à época, em termos de desenvolvimento econômico, depois da Inglaterra; a outra (a revolução dos Taipings) irrompe numa região que acabava apenas de ser integrada, na qualidade de periferia dominada, no capitalismo imperialista globalizado.
A Revolução dos Taipings derruba a autocracia imperial despótica da China dos Qing, abole o regime de exploração dos camponeses pela classe dirigente desse modo social de produção que classifiquei como “tributário” (que os comunistas chineses classificam como “feudal” – e a questão semântica é secundária). Mas, ao mesmo tempo, a Revolução dos Taipings recusa as formas do capitalismo infiltradas nas falhas do sistema tributário; ela aboliu o comércio privado. E rejeita com o mesmo vigor a dominação estrangeira pelo capital imperialista. E o fez muito cedo, porque a partir das primeiras agressões do imperialismo – a guerra do ópio de 1840 – apenas dez anos antes, que se destinava a reduzir a China ao status de periferia dominada na globalização capitalista imperialista. Antes do próprio tempo, os Taipings aboliram a poligamia, o concubinato e a prostituição.
A Revolução dos Taipings – chamados também de “os filhos do céu” – lança as bases do socialismo/etapa mais avançada da civilização humana, ao formular a primeira estratégia revolucionária dos povos das periferias do capitalismo imperialista global. A Revolução dos Taipings é a ancestral da “revolução popular antifeudal – anti-imperialista” (para usar a linguagem posterior dos comunistas chineses). Ela anuncia o despertar dos povos do Sul (da Ásia, da África e da América Latina) que modelará o século 20. Ela inspira Mao. Ela indica a via da revolução para todos os povos das periferias do moderno sistema mundial capitalista, a via que lhe permitirá engajar-se na longa transição socialista.
A Comuna de Paris não é capítulo da história da França, nem os Taipings, da história da China. São duas revoluções de alçada universal. A Comuna de Paris dá a substância ao internacionalismo “proletário” da 1ª Internacional (a Associação Internacional dos Trabalhadores), clama para que se substituam os nacionalismos chovinistas, o cosmopolitismo do capital, pelas identidades comunitária do passado. O universalismo do apelo dos Taipings encontra seu símbolo na figura do Cristo, adoção simbólica, pode-se dizer “curiosa”, estranha à história chinesa. Como um ser humano batido pelos adversários – o poder – poderia ser um “Deus” pressuposto invencível? Para os Taipings, esse Cristo não é o mesmo do cristianismo de submissão que os missionários tentam introduzir na China, mas é caso exemplar de o que deve ser o combatente que luta pela libertação dos seres humanos: corajoso até a morte e cuja morte faz prova de que o segredo do sucesso é a solidariedade na luta.
A Comuna de Paris e a Revolução dos Taipings demonstram que o capitalismo não é mais que um parêntese na história, como já escrevi. Parêntese de curta duração. O capitalismo apenas cumpriu a função – honrosa – de ter criado – por um breve tempo histórico – as condições que tornam sua superação/abolição necessária para permitir a construção de um estágio mais avançado da civilização humana. A Comuna de Paris e a Revolução dos Taipings abrem por isso o capítulo da história contemporânea – que se vai desenvolver no século 20 e entrará pelo século 21. Elas abrem capítulos sucessivos das primaveras dos povos, paralelas ao outono do capitalismo.
Na outra extremidade do continente, a China apresentava também caracteres especiais favoráveis a uma precoce maturação política. A China havia começado muito cedo a ultrapassar o modo social/econômico tributário (aqui numa forma sólida, “avançada”), antes mesmo que a Europa. Estava cinco séculos à frente, na invenção de sua modernidade (abandonar uma religião de salvação individual – o budismo –, em benefício de uma espécie de laicidade a-religiosa avant la lettre, o desenvolvimento ousado de relações comerciais centradas no mercado interno). Aqui, remeto o leitor ao que já escrevi sobre essas questões. A China igualmente resistiu por muito tempo ao assalto do capitalismo imperialista europeu (contrastando, nesse ponto, com a Índia e o Império Otomano). Só em 1840 os canhões britânicos forçaram as portas do Império celeste. A conjunção dessa agressão e dos avanços prévios do capitalismo chinês teve aqui, portanto, prodigiosos efeitos aceleradores: as desigualdades no acesso à terra (aos quais a lógica do sistema tributário opunha resistência em declínio) foram aceleradas, e a “traição” da classe dirigente (o Imperador e a aristocracia fundiária) impôs-se rapidamente aos esforços anteriores de resistência “nacional”. Compreende-se então a precocidade da Revolução dos Taipings e seu caráter “antifeudal/anti-imperialista”.
Duas grandes revoluções, portanto, mas duas revoluções operando sobre dois terrenos complementares do capitalismo imperialista globalizado – no centro e na periferia – nos dois “elos fracos” desse sistema global.
Marx e o (ou os) marxismo histórico estiveram à altura das exigências dessa realidade do capitalismo globalizado e, assim, das exigências para formular estratégias eficazes para “mudar o mundo”, quer dizer, abolir o capitalismo? Sim e não. Marx cedeu à tentação de ver na expansão mundial do capitalismo uma força que devia homogeneizar as condições econômicas e sociais, reduzindo os trabalhadores de todo o mundo ao mesmo estatuto de assalariados explorados da mesma maneira e com a mesma intensidade pelo capital. Sobre essa base justificava a colonização, que finalmente implicaria progresso. Não faltam citações de escritos de Marx em apoio a essa interpretação, pondo em destaque as “consequências” progressistas da colonização, ainda que involuntárias, quer dizer, apesar de suas práticas odiosas (que Marx denunciou), na Índia, na Argélia, na África do Sul, na Eritreia, como na anexação do Texas e da Califórnia pelos “yankees” (“trabalhadores”, em oposição aos mexicanos “preguiçosos”). Marx condena, nessa lógica, os Taipings (sobre os quais, de fato, ignora absolutamente tudo!). E contudo, Marx, se tratava de país do qual não ignorasse tudo, esboçava visão completamente diferente da expansão capitalista. Marx não vê coisa alguma de positivo na colonização da Irlanda pela Inglaterra; ao contrário, denuncia sem reservas os efeitos destrutivos sobre a própria classe operária inglesa.
Tratando da Rússia que lhe era menos desconhecida que a China – Marx tem a intuição de que se trata de um “elo fraco” da cadeia capitalista mundial (para empregar o termo que Lênin usará), e que uma revolução anticapitalista que abra a via de uma avançada socialista é aí, por isso, possível. Há evidências disso na correspondência de Marx com Vera Zassoulitch. Uma revolução de forte dimensão camponesa, fundada sobre a resistência das comunidades camponesas (organizadas no “mir”), se elas libertam-se da exploração feudal pela abolição real da servidão, mas mesmo assim continuam ameaçadas de serem expropriadas em favor, simultaneamente, de novos camponeses ricos e de novos latifundiários (os antigos “feudais”), parece a Marx que é possível que ela abra e que seja até capaz de abrir uma via original para a avançada socialista.
Lênin e, pois, o marxismo histórico “leninista”, dá um grande passo adiante: Lênin denuncia “o imperialismo”. Pouco importa que, provavelmente por respeito por Marx, ele o qualifique como um novo estágio, recente, do capitalismo. E extrai a dupla consequência que se impõe: a “revolução” não está mais na ordem do dia “no Ocidente”; ao contrário, a “revolução” entra na ordem do dia no “Oriente”.
Lênin não extrai imediatamente essa consequência: ele hesita. Espera sempre, dentre outras esperanças, que a revolução acontecida no “elo fraco do sistema” (a Rússia) arrastará a revolução dos trabalhadores nos centros desenvolvidos (a Alemanha é o primeiro lugar). Ele continua a ler a primeira grande crise sistêmica do capitalismo (iniciada nos anos 1870 e que levou à I Guerra Mundial) como se fosse simultaneamente “a última” do capitalismo moribundo. Mas afinal Lênin, sim, extrai a conclusão dos fatos: ele se enganara, a revolução na Europa (na Alemanha) acabou; a (ou as) revolução que desponta(m) aponta(m) para o leste, para o oriente (na China, no Irã, no Império Otomano, nas colônias e semicolônias).
Lênin contudo não associa a nova leitura que faz do marxismo, ao aprofundamento de uma revolução sobre o lugar da Rússia no sistema capitalista mundial – lugar periférico (ou semiperiférico). Vê nesse traço – a “Rússia semiasiática” – mais um obstáculo, que uma vantagem. Lênin não vê tampouco que a questão camponesa é central na nova “revolução” que chega à ordem do dia. Avalia, acertada ou erradamente, que as possibilidades do “mir” foram aniquiladas pelo desenvolvimento do capitalismo na Rússia (título de uma de suas obras da juventude). E extrai disso a consequência: a revolução russa dará terra aos camponeses, mas para fazer deles, proprietários.
Caberá pois a Mao, herdeiro dos Taipings – extrair até o fundo as lições dessa história.
Mao formula a estratégia e os objetivos da longa transição ao socialismo iniciada numa revolução anti-imperialista/“antifeudal” conduzida sob as condições que havia nas sociedades periféricas do sistema mundial. A definição das tarefas dessa revolução “antifeudal” manifesta o desprezo absoluto, por Mao, da ilusão passadista sob qualquer de suas formas.
A revolução dos povos da periferia inscreve-se necessariamente na perspectiva universalista do socialismo.
O comunismo chinês de Mao vai, pois, pôr em ação uma estratégia coerente do movimento ao socialismo para a China, cujas lições têm alcance importante para todos os povos das periferias (Ásia, África, América Latina). Aqui se encontra a questão fundamental: a da relação entre unidade e diversidade.
A revolução anti-imperialista/antifeudal/popular e democrática (e não burguesa democrática) associa classes e forças sociais, ideológicas e culturais diversas. Não pode ser uma “revolução do proletariado”. Além disso, essa “revolução do proletariado” tem sido, até aqui, embrionária e fraca em todas as sociedades das modernas periferias. Deve ser, sim, revolução da maioria dos camponeses, oprimidos e explorados. Deve ser revolução dos segmentos importantes das classes médias educadas que se manifestam na intelligentsia revolucionária. Ela pode neutralizar (sem suprimir) a intervenção política da burguesia local, que se dedica a frear o movimento ao socialismo. Ela pode, mesmo, favorecer o deslizamento da burguesia em questão, de seu comportamento comprador natural, para tomadas de posição nacionais.
Resta que as condições objetivas da China só permitiam que se criasse um socialismo de estado naquela etapa. O que foi feito. Mas esse socialismo de estado, no início à imagem do modelo soviético, rapidamente distanciou-se dele, em pontos diversos e importantes. Dentre outros, nas questões indissociáveis da gestão do mundo rural e da democratização da socialização da vida econômica e política.
A manutenção e o reforço da unidade do povo selada durante a guerra de libertação implicava, segundo Mao, uma gestão das relações cidade-campo que dava pleno espaço à igualdade das condições dos trabalhadores (“camponeses e operários”) e inicialmente rejeita a opção da “acumulação primitiva socialista” que deixava sobre as costas do campesinato todo o peso do desenvolvimento e da modernização industrial. Feita essa escolha, as condições estavam reunidas para avançar numa democratização possível da sociedade. A fórmula maoísta para isso foi a da “linha de massa”. Envio o leitor, no que se relacione à evolução do sistema chinês do movimento ao socialismo, avanços e recuos (pós-maoístas), alternativas de diferente futuro que ela abre (transformação do socialismo de estado em capitalismo de estado), a meus escritos recentes sobre a questão.
A lição importante que extraio dessa leitura da evolução da China (de 1950 a hoje) é que até aqui o tratamento da relação entre unidade (da nação, do povo) e a diversidade (dos elementos sociais que compõem aquela nação) foi suficientemente correto, para dar ao sistema de poder de Pequim uma legitimidade certa e assim garantir a estabilidade social. O sucesso da emergência da China, sem par, quando se a compara com outros países do sul contemporâneo (Índia e Brasil, por exemplo), é produto dessa melhor gestão (ou menos má, pelo menos) da relação unidade/diversidade.
Outros exemplos de movimento ao socialismo em países da periferia venceram com sucesso algumas belas etapas, dentre outros motivos porque souberam gerir corretamente a relação unidade/diversidade, e assim facilitaram a evolução da luta anti-imperialismo de origem, em direção à implantação de políticas que, saídas do quadro das lógicas do capitalismo, inscrevem-se na longa rota ao socialismo. Penso é claro no Vietnã e em Cuba.
Pode-se também fazer referência aos avanços obtidos na América do Sul ao longo das décadas passadas, na Venezuela, no Brasil, na Bolívia e no Equador. A partir de revoltas potentes das classes populares, esses movimentos venceram eleições (caso excepcional em nossa época) e ultrapassaram uma primeira etapa. Mas, para ir além e tornarem-se autênticos movimentos ao socialismo que se veja em fatos, e não só na manifestação dos que o desejam, eles precisam ainda encontrar respostas mais eficazes ante o desafio da contradição unidade/diversidade.
Mas não se podem ignorar os exemplos de fracassos imensos de grandes movimentos populares que derrubaram ditaduras sangrentas ao longo das últimas décadas, mas não conseguiram impor-se como movimentos ao socialismo. Penso aqui nos movimentos que derrubaram as ditaduras de Moussa Traoré no Mali; de Marcos nas Filipinas e de Suharto na Indonésia. Nenhum desses movimentos conseguiu formular e impor um programa que se baseasse na unidade na diversidade. Também essa gestão dessa contradição, inexistente ou, mesmo, deplorável, caracteriza os movimentos no mundo árabe a partir de 2011 (Egito, Tunísia, Síria). Não há pois movimento ao socialismo em todos esses países, apesar de que estejam ali reunidas as condições objetivas para sua possível emergência.
Mais atrás no tempo, a época da [Conferência de] Bandung (1955-1975/1980) é tempo de avanço vitorioso dos movimentos de libertação nacional na Ásia e na África. Todos esses movimentos, pelas razões de fundo que invoco em minha análise, trazem neles a possibilidade de vir a ser movimentos ao socialismo. Mas o que houve na realidade de seu desenvolvimento, de suas vitórias e de seus desdobramentos?
Essa resposta tem de ser nuançada. Sim, em certos momentos do desdobramento de movimentos populares mais avançados que outros, o movimento ao socialismo desenha-se como uma possibilidade. Foi o caso, por exemplo no Iêmen do Sul “comunista” (de fato, nacional popular avançado) ou, esboçado, no Sudão. Em bom número de experiências africanas, os poderes de Estado assumidos pelos partidos que haviam organizado e dirigido a libertação nacional se autoproclamaram socialistas, às vezes, até, marxistas leninistas, muitas vezes reivindicando para eles uma tradição mais imaginária que real e dita socialista. E essa postura não era demagógica; traduzia as ambições de grupos dirigentes progressistas e de seus reais apoios populares.
Contudo, todos esses regimes insistiram na “unidade do povo” (sob seus dirigentes!) e frequentemente negaram a importância, i.e., a realidade da diversidade dos interesses sociais em competição dentro da grande aliança nacional, ou diversidades de outros tipos entre os componentes da nação (étnicas, religiosas, linguísticas). Essa gestão medíocre, no mínimo, da contradição fundamental do movimento ao socialismo está na origem da incapacidade de aqueles regimes seguirem em frente em ritmo sustentado; da rápida erosão que sofreram, depois de alcançados os limites do que podiam fazer, da legitimidade que tivesses e, assim, de seu deslizar de volta, em direção à dobra gerada pelo imperialismo contemporâneo e seus associados, a burguesia “compradorizada” ou, no pior dos casos, ao estado “comprador”.
Sem exame concreto, país a país, não é possível dizer mais. Propus análises concretas dessa emergência ‘aleijada’ do movimento ao socialismo para alguns países africanos, asiáticos e do mundo árabe, com atenção especial, é claro, ao Egito nasserista.
Nessa história movimentada os partidos que reivindicam para eles o marxismo-leninismo – quando havia – não conseguiram empurrar a evolução a favor do movimento ao socialismo. Há várias razões para essa fraqueza daqueles partidos; mas sem dúvida a adesão ao campo do comunismo internacional dirigido por Moscou foi inúmeras vezes o fator decisivo para aniquilar as esperanças depositadas neles. Seu alinhamento à tese da “via não capitalista” pregada por Moscou é o exemplo mais dramático: esses partidos tornar-se-iam “a ala esquerda” de um poder que deslizava para a direita. No caso da Índia, o esfacelamento do antigo Partido Comunista da Índia, que se alinhou, de facto, sob o Partido do Congresso, e a Constituição do PC-Marxista (inspirado no maoísmo) não produziram o salto qualitativo que teria sido necessário para fazer do segundo a réplica do que o Partido Comunista Chinês havia sido. Razões numerosas e diferentes explicam esse fracasso: o caráter sagrado do sistema de castas e seus efeitos de alienação no desdobramento das lutas de classes; a diversidade das nações que constituem a União Indiana. O PC-M que chegou ao governo (pela via eleitoral) em Bengala ocidental e em Kerala tem certamente a seu favor a realização de avanços sociais não desprezíveis. Mas não conseguiu inverter o equilíbrio das forças na escala da União Indiana em favor de um movimento ao socialismo. Foi assim gradualmente “absorvido” pelo sistema, incapaz de ir além dos limites do que podia fazer nos dois estados em que operava. Uma radicalização do comunismo maoísta indiano delineou-se então, com a constituição do PC-ML e a guerra dos camponeses/dalits que ele iniciou. Mas é forçoso reconhecer que fracassou, e, na sequência, o partido fragmentou-se. Mas, deve-se observar, a mesma linha de ação deu alguns resultados no Nepal e desenhou, em linha pontilhada, um movimento ao socialismo possível.
Chamei a família desses avanços do “primeiro despertar do Sul” (as décadas de Bandung), de regimes “nacionais-populares”, no seio dos quais o movimento ao socialismo só se inscreveu em linhas pontilhadas, prejudicado em seu desenvolvimento possível pela tendência, das classes políticas dirigentes, a manter o próprio poder exclusivo, mesmo que ao preço de um retorno ao berço comprador.
O desafio para o movimento ao socialismo: A socialização da gestão de uma economia moderna
A questão central posta pelos avanços revolucionários e/ou reformistas autênticos que reivindicam para si socialismo, comunismo, marxismo, marxismo-leninismo, maoísmo foi e é a da socialização da gestão de uma economia “moderna”, cujas bases foram construídas pelo desenvolvimento do capitalismo histórico seja nos centros dominantes seja nas periferias dominadas. Nos centros, a deriva do socialismo reformista e em seguida o abandono da referência a Marx levaram logicamente a renunciar à pergunta pelo “pós-capitalismo”. Nas periferias, ao contrário, que foram teatro de revoluções conduzida na perspectiva de construir o socialismo, a questão da socialização da gestão da vida econômica permaneceu no coração dos debates e dos conflitos que se travaram dentro das vanguardas revolucionárias e dos poderes do estado.
As condições objetivas específicas da revolução nas periferias do capitalismo globalizado pesaram muitíssimo, é claro, na balança: era preciso “resgatar” (desenvolver as forças produtivas e, para fazê-lo, era preciso “copiar” e reproduzir formas capitalistas de organização da produção) e “fazer diferente” (construir o socialismo). A resposta a essa questão foi dada pela construção de “socialismos de estado” ou de “capitalismos de Estado”, com fronteiras sempre fluidas e moventes entre as duas modalidades. Resta disso que nos desenvolvimentos teóricos, tanto quanto nos programas dos partidos que se declaram socialistas, os avanços na socialização da gestão da economia e os avanços na democratização da gestão política da sociedade sempre foram pensados como indissociáveis.
A afirmação desse princípio central na formulação do projeto do socialismo/comunismo do futuro deve ser lembrada, uma vez que precisamente os socialismos/capitalismo de estado das experiências soviética, chinesa e outras dissociaram enormemente, em sua prática, essas duas dimensões do mesmo desafio.
Outono do capitalismo, primavera dos povos?
Embora suscetíveis de constituir o verso e o reverso da mesma moeda, o outono do capitalismo e a primavera dos povos são diferentes.
A emergência da nova forma do capitalismo – a do capitalismo dos monopólios – a partir do fim do século 19 inicia o fim desse sistema – desse parêntese na história, como já disse. O “turno” que o capitalismo tinha a cumprir, período curto (só o século 19) – durante o qual cumpriu funções progressistas – acabou. Entendo por isso que, se, no século 19, as dimensões “criativas” da acumulação capitalista (a aceleração fantástica do progresso tecnológico, em comparação a épocas anteriores de toda a história da humanidade; a emancipação do indivíduo – ainda que reduzida a emancipação só dos privilegiados, limitada e deformada para os demais) apoiavam-se sobre as dimensões negativas daquela mesma acumulação (em primeiro lugar os efeitos de destruição de sociedades periféricas integradas na expansão imperialista indissociável do capitalismo histórico, com a emergência do capitalismo dos monopólios a relação entre essas duas dimensões foi invertida, em detrimento das primeiras).
É nesse quadro da perspectiva da longa duração que analisei as duas longas crises sistemáticas do capitalismo “obsoleto” (“senil”): a primeira longa crise que desenvolve de 1871-73 até 1945-55; a segunda, sempre em andamento, inicia-se um século mais tarde, a partir de 1971-73. Nessa análise, destaco o meio central que o capital mobilizou para superar sua crise permanente: a construção e o crescimento vertiginoso de um terceiro setor (para complementar os dois setores – de produção de bens de produção e de produção de bens de consumo dos quais Marx tratou –, de absorção da mais-valia associada à renda dos monopólios simultaneamente renda imperialista (remeto o leitor àqueles textos).
Lênin começou a tomada em consideração dessa mudança qualitativa da natureza do capitalismo. Pecou apenas por optimismo, ao crer que essa primeira crise sistemática do capitalismo seria a última. Subestimou os efeitos perversos e corruptores do desenvolvimento imperialista nas sociedades do centro do sistema. Mao, extraindo as consequências da exata avaliação desses efeitos, optou pela paciência: a rota do socialismo será necessariamente muito longa e semeada de percalços.
O século 20 foi, sim, um tempo do “despertar do Sul”, mais exatamente dos povos, das nações e dos estados das periferias do sistema: falava da Rússia (“semiperiferia”) para englobar China, Ásia, África e América Latina. O século 20 é, nesse sentido, tempo da primeira primavera desses povos. Listei uma série de eventos maiores que, desde o início do século, anunciam essas primaveras – as revoluções russas (1905-1917), chinesas (1911 e a continuação), mexicana (1910-20) e outras. Substituí nesse quadro o período de Bandung pela Ásia e a África contemporâneas (1955-1980), que coroa, mas simultaneamente conclui esse grande momento da história universal. De certa maneira portanto pode-se ler essa resposta dos povos dominados pelo desenvolvimento imperialista como o prosseguimento da tarefa iniciada pela revolução dos Taipings e sua generalização para os três continentes.
Em contraste, a Comuna de Paris não teve sucessores no Ocidente desenvolvido. Apesar de suas corajosas tentativas, os comunistas da 3ª Internacional não conseguiram construir um bloco histórico alternativo ao bloco alinhado sobre a direção da sociedade pelos monopólios imperialistas. Aqui jaz o verdadeiro drama do século 20, não nas insuficiências do despertar das periferias, mas no nenhum despertar nos centros. As insuficiências – depois derivas fatais – das nações das periferias teriam sido superadas provavelmente, se os povos dos centros tivessem rompido com seu alinhamento pró-imperialista.
As primaveras dos povos que se desenrolaram durante o século 20 esgotaram seus efeitos. De deriva em deriva, terminaram por afundar-se e cair à direita face à contraofensiva do capital. Esse afundamento exprime-se pela série de contrarrevoluções triunfantes dos anos 1990. As possibilidades que existiam seja de evolução à esquerda desses sistemas inflados, em crise; ou de sua estabilização em trono de fórmulas de centro-esquerda que preservam o futuro, foram quebradas pela tríplice conjunção em que se associam: (I) insuficiências do protesto popular, limitado à reivindicação da democracia dissociada da questão social e da geopolítica; (II) as respostas dos poderes, exclusivamente repressivas; (III) as intervenção do Ocidente imperialista. Qualificar nessas condições as “revoluções” da União Soviética e dos países do leste europeu (1989-91) de “primavera dos povos” é farsa. Construídos sobre ilusões gigantescas sobre a realidade capitalista, esses movimento deram em nada que se possa considerar positivo. Os povos envolvidos ainda esperam sua primavera, que talvez venha.
Ao longo de todo o século 20, e até hoje, o outono do capitalismo e a primavera dos povos (eles próprios já reduzidos aos povos das periferias) foram dissociados. O outono do capitalismo, assim, constituiu o elemento motor principal da evolução. Pôs a evolução nos trilhos rumo à barbárie sempre crescente, única resposta lógica que está em acordo com as exigências da manutenção da dominação do capital. Daí a barbárie imperialista redobrada pela entrada em ação do controle militar sobre o planeta pelas forças armadas dos EUA e de seus aliados subalternos europeus (a OTAN), em benefício exclusivo dos monopólios do imperialismo coletivo da ‘tríade’ (EUA, Europa, Japão). Mas, também em resposta a essa trinca, o deslizamento das respostas de suas vítimas – os povos do Sul –, na direção de ilusões passadistas, que também são portadoras de barbárie.
Esse risco – que é a realidade dominante hoje – permanecerá total, dado que os avanços em direção à conjunção entre o outono do capitalismo e a primavera dos povos – de todos os povos, das periferias, mas também dos centros – não foram suficientemente decisivos para abrir a perspectiva socialista universalista. Será então o século 21 um ‘remake’ do século 20, associando tentativas de libertação dos povos do Sul, à manutenção do alinhamento pró-imperialista dos povos do Norte?
Construir a unidade no reconhecimento da diversidade
Não há avançada revolucionária possível do movimento ao socialismo, sem que se construa a unidade estratégica de ação que associe a massa crítica necessária de diferentes forças sociais em conflito com o sistema do capitalismo dominante. Ainda falta identificar a natureza da diversidade social de que aqui se trata. As diferenças que contam e as que contam menos. As fontes e as formas da diversidade – elas próprias inumeráveis. Descrição dessas formas cobriria páginas e páginas de quadros estatísticos: há homens e mulheres; jovens e idosos; nacionais e imigrados; em muitos países, seres humanos com uma ou outra cor de pele, que professam uma ou outra religião, que falam uma ou outra língua; os proprietários e os não proprietários; trabalhadores qualificados e os demais, etc..
Uma análise de classe não simplificadora permite ir mais longe na análise dos problemas. Há, claro, fundamentalmente, no capitalismo, o contraste entre os burgueses (proprietários dos meios de produção e/ou gestionários dessa propriedade) e os proletários (que nada têm para vender, além da própria força de trabalho). Mas esse contraste expressa-se mediante uma grande diversidade de situações sociais concretas. Há assalariados (que vendem força de trabalho) que se beneficiam de certo grau de estabilidade que lhes dá sua qualificação privilegiada; e há os que são condenados à eterna instabilidade. Há os capitalistas – proprietários – empresários, pequenos, médios ou grandes; e há os gerentes do grande capital dos monopólios financeirizados, etc..
Essa grande diferenciação das classes fundamentais também é extremamente variada, conforme a sociedade considerada seja de país capitalista/imperialista dominante, ou de país do capitalismo periférico dominado. A situação social de um proletário num país opulento é diferente da de seu alter ego de uma sociedade pobre. A massa rural e camponesa, reduzida hoje à insignificância numérica nos centros, permanece fortemente presente nas periferias, etc..
Há certamente uma pesada tendência lógica da acumulação do capital (concentração da propriedade e/ou centralização do controle) a simplificar a estruturação social, mas algumas ideias concernentes à simplificação da estruturação social que o capitalismo produziria são falsas: (I) a ideia de que o contraste burguesia/proletariado aniquilaria a presença de outras forças sociais que se expressam no campo político; (II) a ideia de que a burguesia por um lado, e o proletariado por outro lado, converter-se-iam em blocos homogêneos pouco diferenciados; (III) a ideia de que a expansão globalizada do capitalismo aproximaria as formas das estruturações sociais avançadas, das forma dos países atrasados que sejam engajados no caminho do “resgate” (como se diz: “em vias de desenvolvimento”).
Tomemos o exemplo da expansão do capitalismo industrial na Europa do século 19. Em nenhum país desse continente a burguesia, classe dominante nova, eliminou as classes de aristocratas do Antigo Regime. Por toda parte a burguesia aprovou compromissos políticos com aqueles aristocratas, que conservaram o controle de segmentos importantes do poder (como o corpo de oficiais militares). E se a guerra de 1914 é guerra interimperialistas, ela é também guerra entre as cabeças coroadas de toda a Europa (a França é a única República em guerra, à espera dos EUA).
A burguesia não é classe que reúna todos os proprietários formais dos meios de produção. Essa propriedade pode, com a invenção da sociedade por ações, ser disseminada, mesmo que o controle sobre essa propriedade não o seja. A burguesia não é classe homogênea simplesmente organizada sobre o modelo da pirâmide da riqueza de pequenos, médios e grandes capitalistas. Ela integra camadas médias (pelo volume de rendas, formalmente, rendas do trabalho assalariado) associadas à gestão econômica e política (burguesa) da sociedade. A burguesia é também diferenciada segundo se situe em setores da atividade e/ou regiões em crescimento ou em declínio, etc..
A burguesia nas periferias não é simplesmente nascida tardiamente, mas em via de expansão sobre o modelo da burguesia dos centros. Tampouco é partilhada em dois segmentos, um comprador (o mau burguês), o outro nacional (os bons burgueses). Emergente no quadro da expansão mundial do imperialismo, a burguesia em seu conjunto é comprador por natureza. Mas ela pode adotar o comportamento de uma burguesia nacional, se as circunstâncias lhe oferecem margem possível de manobra. Insisti na importância dessa leitura maoísta sobre a natureza das burguesias periféricas.
A estrutura das classes populares nos países periféricos é também muito diferente da que se vê nos centros. Os campesinatos do sul são eles também diferenciados de vários modos, de um país a outro, com estruturações herdadas em parte de diferentes passados pré-capitalistas os quais, por sua vez, foram remodelados pelos específicos modos da integração/submissão ao capitalismo moderno. Os processos de pauperização produzidos pela acumulação capitalista mundial criaram aqui, nas periferias, uma massa crescente de precários que só sobrevivem por atividades do “informal”.
Pesadas tendências operaram ao longo das três últimas décadas no quadro do desenvolvimento do capitalismo dos monopólios globalizados, financeirizados e generalizados (remeto o leitor aos meus escritos em que elaboro sobre essa transformação qualitativa do capitalismo) – sob o nome, enganador, de “neoliberalismo”. Essas pesadas tendências produziram: (I) uma proletarização generalizada (a população de trabalhadores, pelo menos nos centros, passou a ser constituída, em mais de 80%, de assalariados vendedores de força de trabalho) mas extremamente segmentada; (II) por toda parte, nos centros e nas periferias, a implantação de formas de submissão de atividades aparentemente independentes dos monopólios (em particular dos campesinatos das periferias, mas também de suas indústrias) e da redução desses trabalhadores ao estatuto de subcontratados (de fato ou de direito), o que permite a formação de uma fração crescente da mais valia da renda dos monopólios; (III) a substituição de formas históricas de organização do capitalismo encarnado nas burguesias concretas, por uma nova forma de dominação do capital abstrato (“encarnado pelo mercado e, em particular, o “mercado financeiro”). A burguesia é, assim, classe constituída de assalariados – muito bem remunerados! – empregados pela oligarquia financeira (os 1% de Occupy Wall Street e os Indignados da Espanha).
O desdobramento dessa nova estrutura do capitalismo dos monopólios generalizados não produziu (nem pode produzir) estabilização social relativa, mas, ao contrário, uma degradação social portadora das revoltas populares. Ela não produziu (nem pode produzir) qualquer estabilização relativa das novas relações centros/periferias, mas, ao contrário, produziu o agravamento das contradições e dos conflitos entre eles. Os centros imperialistas históricos (a trinca EUA/Europa/Japão) não podem mais manter sua dominação, senão mediante o controle limitar do planeta. Em face desse desdobramento geoestratégico de Washington e de seus aliados subalternos, alguns estados e povos do Sul (os “emergentes”) resistem pela afirmação – em graus diversos – de “projetos soberanos”, fonte de conflitos crescentes Norte-Sul. Em outros países da periferia, o sistema de dominação do capitalismo dos monopólios globalizados opera mediante sua aliança com os poderes do estado compradorsem legitimidade nacional e popular. É um segundo motivo das revoltas dos povos.
O capitalismo dos monopólios generalizados implode ante nossos olhos nas formas variadas lembradas aqui. Decorre daí que um período novo de situações revolucionárias abre-se frente a nós. Como agir, nessas circunstâncias, para fazer do possível, uma realidade: como obter avanços do movimento ao socialismo? A resposta exige que retomemos a reflexão sobre a relação unidade estratégica de ação/diversidade dos elementos sociais e políticos que compõem o movimento dos povos.
No passado, as situações revolucionárias permitiram avanços revolucionários (rumo ao socialismo) cada vez que se deram respostas concretas a essa contradição dialética unidade/diversidade.
Falo aqui de contradição dialética. Porque, de fato, a solução dela não passa pela negação de um dos termos, mas pela transformação do contraste entre ambas, em complementaridade ativa. A visão metafísica da contradição é incapaz de compreender a natureza desse desafio e o meio de responder a ele. Ora, essa visão foi muitas vezes, e ainda é, dominante, porque suas respostas são fáceis e, na aparência imediata, podem parecer as únicas possíveis.
Por exemplo: afirma-se a absoluta prioridade de “a unidade” (do povo) e negam-se os efeitos reais da diversidade que torna impossível ou nefasta a operação daquela “unidade”. Ou, ao contrário, nega-se a necessidade incontornável da unidade (a identificação de objetivos estratégicos de etapas comuns e da organização de frente unida que assume a responsabilidade de realizar aqueles objetivos) e afirma-se que as diversas lutas (das frações diversas do povo em revolta) produzirão, por elas mesmas, a solução do problema. Elude-se assim a questão (incontornável) do poder. Essa resposta metafísica à contradição ainda domina a cena contemporânea por toda parte, no Norte e ao Sul. Ela reduz os movimentos em luta a manter-se em posições defensivas, deixando a iniciativa ao adversário – o capital dos monopólios e seus instrumentos políticos de Estado no Norte e no Sul. Essa é pois estratégia impotente para fazer avançar o movimento ao socialismo.
Como já disse em escritos anteriores, respostas dialéticas foram algumas vezes postas em operação, com sucesso. Na Rússia em 1917, Lênin colheu o momento de dar toda sua potência à unidade, propondo objetivos estratégicos comuns, aos componentes diversos do povo em revolta: paz e terra. A terra para os camponeses soldados funda uma aliança que permite ao novo Partido bolchevique sair de seu isolamento. Porque esse partido jamais tivera real penetração no campesinato. Na China, Mao refunda desde os anos 1930 o Partido Comunista sobre a base de uma aliança sólida e durável com o campesinato pobre e explorado. É o segredo do triunfo de 1949. O que adveio na sequência, sobre a gestão da relação unidade/diversidade (quer dizer, a questão das alianças constitutivas do bloco histórico do movimento ao socialismo) é outro problema, do qual não trato aqui.
Nos dois casos, a resposta ao desafio foi concreta. Partiu de uma análise concreta, que se revelou justa, do que as diversidades são, quais são decisivas (no sentido de que levá-las em contra permite fazer funcionar a alavanca do avanço revolucionário) e quais não são decisivas. Não há receita geral útil nesse domínio, que possa ser usada em substituição à análise concreta. As diversidades decisivas hoje não podem ser as mesmas na França e nos EUA, na China e na Índia, no Congo e no Peru.
Tudo que se possa dizer de “geral” aqui, creio já o ter formulado nas minhas proposições sobre a “audácia” necessária que, só ela, pode permitir às esquerdas radicais de nossa época que elas responder corretamente ao desafio. Remeto o leitor àqueles escritos. Resumo aqui, nos parágrafos a seguir o sentido daquelas proposições: (I) Nos centros imperialistas, a esquerda radical deve opor-se á expropriação pura e simples dos monopólios, pela nacionalização/estatização (primeira etapa), acompanhada de planos sobre a organização de avanços na direção da socialização democrática progressiva da gestão daqueles planos. Trata-se então de identificar as diversidades decisivas que devem ser associadas pela construção de uma unidade de ação fundada na identificação de objetivos comuns de cada etapa. (II) Nas periferias, a esquerda radical deve ser capaz de identificar os componentes diversas de um bloco social hegemônico alternativo àquele sobre o qual se apoia o bloco comprador no poder. Só poderá chegar a esse resultado se se torna capaz de identificar: (1) objetivos estratégicos comuns de cada etapa aos (2) segmentos decisivos do bloco anti-comprador.
Só quando essas condições forem satisfeitas, poder-se-á ver o movimento ao socialismo afirmar-se por avanços na transformação real, mais progressiva, das sociedades contemporâneas.
O comunismo, etapa superior da civilização humana
Em direção a uma segunda onda da emergência dos estados, das nações e dos povos das periferias.
O movimento ao socialismo tem a ambição de refundar a sociedade humana sobre bases diferentes das que caracterizam fundamentalmente o capitalismo. Esse futuro é concebido como a realização de uma etapa superior da civilização humana universal, não como modelo simplesmente “justo”, a saber, mais “eficaz”, da civilização que nós conhecemos (a civilização “moderna” do capitalismo).
Ora, preparar o futuro, mesmo distante, começa hoje. É bom saber o que se quer. Que modelo de sociedade? Fundada sobre quais princípios: a concorrência destruidora entre os indivíduos, ou a afirmação das vantagens da solidariedade?; a liberdade que dá legitimidade à desigualdade, ou a liberdade associada à igualdade?; a exploração de recursos do planeta sem qualquer preocupação com o futuro, ou a plena atenção à medida exata das exigências da reprodução da condições de vida do planeta?
O socialismo será democrático ou não será socialismo. Temos de compreender a democratização da sociedade como um processo sem fim, que não podemos reduzir à fórmula da democracia eleitoral pluripartidária representativa. Os veículos da imprensa-empresa ocidental dominante propõem para os países o Sul “a democracia em primeiro lugar”, entendendo por essa expressão a realização de eleições pluripartidárias imediatas; e um grande número de organizações da sociedade civil no Sul reuniram-se em torno dessa proposição. Contudo, repetidas experiências mostram que se trata, aí, de miserável farsa que os imperialistas e seus aliados locais reacionários sabem manipular a favor deles, sem dificuldade. Nos centros, a democracia eleitoral representativa sempre foi meio eficaz para manter o fracasso das ameaças de radicalização das lutas sociais. As lutas de classes, que se desenvolvem sobre o fundo de extrema diversidade das condições sociais de segmentação das classes trabalhadoras, articuladas nessas condições de regramento dos conflitos políticos pela eleição, sempre foram eficazes para manter em estado de fracasso a radicalização dos movimentos populares.
O eleitoralismo (o cretinismo parlamentar, dizia Lênin) reforça os efeitos negativos da segmentação das classes populares e aniquila a eficácia das estratégias de construção da sua unidade. A opinião pública ocidental não vê, infelizmente, alternativa para esse sistema de gestão da política, ao qual até os comunistas se alinharam. Mas, com a constituição do capitalismo dos monopólios generalizados, a farsa eleitoral explode à luz do dia, apagando o velho contraste direita/esquerda.
O movimento ao socialismo tem o dever de abrir campos novos à invenção de procedimentos mais avançados, de gestão da democracia política.
O socialismo será verde (“solar”) ou não será socialismo, escreveu Elmar Altvater. Acrescento que o capitalismo verde é sempre utopia, impossível, porque o respeito às exigências de uma ecologia política digna do nome é incompatível com o respeito às leis fundamentais que regem a acumulação capitalista. Também aqui, o movimento ao socialismo tem o dever de abrir novos campos à invenção de procedimentos de gestão econômica que integrem o longo prazo, que associam a socialização democrática das relações sociais às exigências da reprodução dos espaços de vida sobre o planeta, a qual, por sua vez, condiciona a transmissão, de uma geração a outra, da herança desses bens comuns.
O movimento ao socialismo não pode sequer limitar-se, nas respostas a essas questões, a expressão de votos piedosos, propor um remake dos socialismos utópicos do século 19. Para evita-lo, deve responder às seguintes questões: (I) quais são hoje nossos conhecimentos científicos em matéria de antropologia e sociologia que repõem em questão as “utopias” formuladas no passado? (II) quais são nossos conhecimentos científicos novos que tratam das condições de reprodução da vida sobre o planeta? (III) pode-se integrar esses conhecimentos num pensamento marxista aberto?
Nesse quadro geral, deve-se garantir todo o espaço necessário aos projetos da emergência dos estados e povos da Ásia, da África e da América Latina. A primeira onda dessas emergências, que se desdobrou com sucesso entre os anos 1950 e 1980, já passou. A página virada permitiu às potências imperialistas retomar a iniciativa e impor o “diktat” (não o, como se diz, pretenso “consenso”) de Washington. Por sua vez, esse projeto de globalização selvagem está em vias de implodir, oferecendo aos povos das periferias a possibilidade de engajar-se numa segunda onda de libertação e de progresso. Quais podem ser os objetivos dessa segunda onda? Diferentes visões políticas e culturais (reacionárias, ilusórias, progressistas) enfrentam-se aqui; e é preciso, pois, estudar suas possibilidades.
O movimento ao socialismo não conta com nenhum espaço que permita que comece a desdobrar-se sobre o terreno da realidade no quando do modelo da globalização presente. Deve, pois, escrever em seu programa objetivos estratégicos imediatos e mais distantes, que lhe permitam sair desse quadro. Pelo padrão, não se sairá do modelo de “lumpen desenvolvimento”, fundado sobre o destrato e a pilhagem dos recursos, produtor de uma pauperização insondável, que é a de todos os países que aceitam a submissão às exigências do desdobramento da globalização liberal.
O problema é mundial; a solução deve ser mundial. A primeira proposição é verdadeira; a segunda não é conclusão necessária. Uma transformação da globalização por cima, pelas negociações internacionais, no quadro da ONU, por exemplo, não tem absolutamente nenhuma chance de levar a qualquer progresso. Prova disso é a longa série de conferências internacionais da ONU das quais jamais saiu ideia alguma (o que sempre seria previsível). O sistema mundial jamais foi transformado de cima para baixo, mas sempre a começar por baixo, quer dizer, a partir de mudanças da linha de desenvolvimento possibilitadas, de início, nas escalas locais (quer dizer, nacionais, no quadro dos estados/nações que são locus de lutas políticas decisivas). Agora se podem reunir as condições para eventualmente se abrirem as possibilidades de transformação das relações globalizadas. É preciso sempre desconstruir, para poder reconstruir de outro modo. O exemplo da Europa aí está, como prova. A construção europeia jamais poderá ser transformada de cima para baixo, por Bruxelas. Só a desobediência de um estado europeu, seguido logo por outro, permitiria considerar alguma real possibilidade de reconstruir alguma “outra Europa”.
A estratégia de iniciar as transformações pela ação nos planos nacionais pode ser expressa pela seguinte frase: recusar o ajuste unilateral às exigências do desenvolvimento da globalização presente; substituir esse ajuste unilateral pela prioridade para implantação de “projetos soberanos”, forçar o sistema mundial a ajustar-se, ele, às exigências do desenvolvimento desses projetos nacionais.
Mas o que entendemos por “projetos soberanos”?
Pôr em ação projetos soberanos abre, sob determinadas condições, um espaço para avanços do movimento ao socialismo.
Claro: é preciso discutir a própria noção de “projeto soberano”. Dado o nível de penetração dos investimentos transnacionais em todos os domínios e em todos os países, não há como fugir da pergunta: a que tipo de soberania nos referimos?
O conflito mundial pelo acesso aos recursos naturais é um dos mais determinantes da dinâmica do capitalismo contemporâneo. Trata-se de uma questão particular, cujo exame não de ser misturado a outras considerações gerais. A dependência dos EUA para inúmeros recursos e a demanda crescente da China são desafios para a América do Sul, África e Oriente Médio, particularmente bem dotados em recurso e modelados pela história da pilhagem desses recursos. É possível desenvolver políticas nacionais e regionais nesses domínios que inaugurem uma gestão planetária racional e equitativa, da qual todos os povos seriam beneficiários? É possível desenvolver relações novas entre a China e os países do Sul dos quais se fala aqui, que se inscrevam nessa perspectiva? Associando o acesso da China àqueles recursos ao apoio à industrialização de cada país (o que os supostos “doadores” da OCDE recusam)?
O quadro de desenvolvimento de um projeto soberano eficaz não se reduz ao campo da ação internacional. Uma política nacional independente permanece frágil e vulnerável se não receber apoio nacional e popular real, o que exige que se assente sobre políticas econômicas e sociais que permitam que as classes populares sejam as beneficiárias do “desenvolvimento”. Esse é o preço da estabilidade social, condição do sucesso do projeto soberano face às políticas de desestabilização dos imperialistas. Será preciso pois examinar a natureza das relações entre os diferentes projetos soberanos existentes ou possíveis e as bases sociais do sistema de poder: projeto nacional, democrático e popular, ou projeto (ilusório?) de capitalismo nacional?
Pode-se agora, então, avaliar os “projetos soberanos” que estão sendo postos em prática hoje pelos países “emergentes”: (I) A China é o único país verdadeiramente engajado na via de um projeto soberano; só há ela. Esse projeto é coerente: articula a implementação planejada de um sistema industrial moderno e completo, autocentrado, além de simultaneamente agressivamente aberto para a exportação, a um modo de desenvolvimento da agricultura fundado sobre a modernização da pequena exploração sem pequena propriedade (garantindo assim o acesso de todos à terra). Mas qual é a natureza do objetivo de soberania buscada? Trata-se de uma soberania burguesa nacional (cujo sucesso permanece fundado, na minha opinião, em ilusões), ou de um projeto de soberania nacional/popular? Trata-se de um capitalismo de Estado fundado sobre a ilusão de um papel dirigente de uma nova burguesia nacional (de Estado, em parte)? Ou de um capitalismo de Estado com dimensão social, evoluindo para um “socialismo de Estado” possível, etapa, ele também, na longa rota até o socialismo? Os fatos ainda não responderam essa pergunta. Remeto o leitor aos meus escritos sobre as alternativas de futuro que se oferecem à China contemporânea. (II) A Rússia está de volta à cena política internacional, onde se afirma como o adversário de Washington. Está engajada na via de um projeto soberano? Sim, talvez, nas intenções do poder, de reconstruir um capitalismo de Estado independente dos diktats dos monopólios globalizados. Mas a gestão econômica do país permanece liberal, controlada pela oligarquia dos monopólios privados instalados por Ieltsin, sobre o modelo ocidental. Essa política permanece privada de qualquer dimensão social que permitiria arregimentar o povo russo. (III) Há elementos de política soberana na Índia, notadamente políticas industriais dos monopólios industriais privados nacionais, sustentados pelo Estado. Mas nada além disso; as políticas econômicas gerais continuam as ser as do liberalismo, acelerando dramaticamente a pauperização da maioria dos camponeses. (IV) Assim também, há elementos de política soberana no Brasil, conduzido pelo grande capital privado brasileiro industrial e financeiro, e pela grande propriedade agrícola capitalista. Mas aqui, como na Índia, as políticas econômicas gerais permanecem liberais, sem trazer qualquer solução aos problemas da pobreza num país já 90% urbanizado, exceto que a miséria é atenuada por meios de assistência redistributiva. No Brasil como na Índia, as hesitações do poder, que não vai ‘além’, favorecem a ambiguidade dos comportamentos do grande capital, tentado pela busca de compromissos com o capital internacional. As fabulosas riquezas naturais do Brasil, e sua exploração em condições deploráveis (a destruição da Amazônia) reforçam ainda a busca de inserção, pelo país, no sistema de globalização que há.(V) Não há projeto soberano na África do Sul, cujo sistema econômico permanece sob controle do império anglo-norte-americano. Quais são então as condições para a emergência de um projeto soberano nesse país? E essa emergência implicaria quais novas relações com a África? (VI) Países não continentais podem desenvolver projetos soberanos? Dentro de quais limites? Que formas de aproximações regionais poderiam facilitar-lhes o avanço?
Por onde começar?
Proporia, para os projetos soberanos cujo movimento ao socialismo deveria promover-lhe a implantação, começar o serviço pela identificação de ações prioritárias a serem empreendidas no plano econômico e no plano político.
Em relação ao nível econômico:
Sugeriria começar o serviço por sair da globalização financeira. Atenção: trata-se só da faceta financeira da globalização, não da globalização em todas suas dimensões, notadamente comerciais.
Parte-se da hipótese de que aí está o elo mais frágil do sistema neoliberal globalizado que há. Nesse espírito, examinaremos:
- a questão do dólar-moeda-universal; de seu futuro, considerado o crescimento da dívida externa dos EUA;
- as questões relativas às perspectivas de adoção do princípio da “convertibilidade total” do yuan, do rublo e da rúpia (ver meu artigo sobre o debate em torno do Yuan);
- a questão de “sair da convertibilidade” de algumas moedas de países emergentes (Brasil, África do Sul);
- as medidas que os países frágeis poderiam tomar no domínio da gestão da moeda nacional (África, em especial).
Houve iniciativas, de alcance ainda modesto; podem-se mencionar aqui a constituição da Conferência de Xangai; os acordos China/ASEAN, a ALBA, o Banco do Sul, o projeto “Sucre”, o Banco dos BRICS.
Em relação ao nível político:
Sugeriria que a prioridade seja implantar estratégicas capazes de pôr em xeque a geopolítica e a geoestratégia desenvolvidas pelos EUA e seus aliados subalternos da tríade.
Nosso ponto de partida é o seguinte: a busca da dominação mundial, pelos monopólios das potências imperialistas históricas (EUA, Europa, Japão) está ameaçada pelos crescentes conflitos entre (I) de um lado os objetivos da tríade (manter sua dominação) e; (II) de outro lado as aspirações dos países emergentes e dos seus povos em revolta, vítimas do “neoliberalismo”. Nessas condições, os EUA e seus aliados subalternos (associados no “imperialismo coletivo da tríade”) escolheram a fuga para adiante, com recurso à violência e às intervenções militares. Evidências disso são: (a) o desenvolvimento e o reforço das bases militares dos EUA (Africom e outros); (b) as intervenções militares no Oriente Médio (Iraque, Síria, no futuro o Irã?); (c) as medidas para cercar militarmente a China; as provocações que o Japão tem feiro, as manipulações relacionadas aos conflitos China/Índia e China/Sudeste da Ásia.
Mas parece que, enquanto a violência das intervenções das potências imperialistas continua inscrita na ordem do dia dos fatos, elas respondem cada dia com mais dificuldade às exigências de alguma estratégia coerente, condição de qualquer eventual sucesso. Os EUA estão à deriva? O declínio dessa potência é passageiro ou decisivo? As respostas de Washington, decididas, parece, ao sabor do dia a dia, nem por isso são menos perigosamente criminosas.
Em face desses grandes desafios, que estratégias de alianças políticas internacionais (ou militares) poderiam fazer recuar o projeto dos EUA, de controle militar de todo o planeta?
A importância dos avanços possíveis nesse terreno é evidente. Não por acaso, os BRICS, e depois deles bom número de países do Sul, uns envolvidos em graus diversos na via de projetos soberanos, outros ainda enredados nas dificuldades do lumpen desenvolvimento, manifestam cada dia mais claramente sua recusa a apoiar as aventuras militares dos EUA e ousam tomar iniciativas que contrariam Washington (como usar o direito de veto, como fizeram Rússia e China [no Conselho de Segurança da ONU]). É necessário ir mais longe nestas direções, de uma forma mais ampla e sistemática.
Notas
Teodor Shanin, ed., Late Marx and the Russian Road (New York: Monthly Review Press, 1983), 97–126.
Samir Amin, Three Essays on Marx’s Value Theory (New York: Monthly Review Press, 2013), 67–76.
See in particular my discussion of this in The Implosion of Contemporary Capitalism (New York: Monthly Review Press, 2013).
Ibid, 133–47.
See Samir Amin, “
China 2013,” Monthly Review 64, no. 10 (March 2013): 14–33.
Samir Amin, “
The Chinese Yuan and HSBC Bank,” Pambazuka no. 643, August 13, 2013, http://pambazuka.org/.
Referências
The paper deals strictly with the issue as indicated in the title. Yet it hints to concepts that I introduced in my recent writings: generalized monopoly capitalism, generalized and segmented proletarization, implosion of the system, the historical trajectory of capitalism, the long systemic crisis of declining capitalism, emergent nations, lumpen development, revolutionary advances and retreats in a number of African, Asian, and Arab countries, green capitalism and green socialism, a critique of international aid. The reader will find developments on these issues in the following bibliography:
Livros
The Liberal Virus (New York: Monthly Review Press, 2003)
Obsolescent Capitalism (London: Zed Books, 2003), chapters 4 and 5
Beyond US Hegemony (London: Zed Books, 2006), chapters 2, 4, and 5
Ending the Crisis of Capitalism or Ending Capitalism? (Oxford: Pambazuka Press, 2011), chapters 1, 2, and 4
The Law of Worldwide Value ((New York: Monthly Review Press, 2011), chapter 4
The Implosion of Contemporary Capitalism (New York: Monthly Review Press, 2013), chapters 1 and 2
Global History: A View from the South (Oxford : Pambazuka, 2011), chapters 5 and 6
Three Essays on Marx’s Value Theory (New York: Monthly Review Press, 2013)
Artigos
Samir Amin interviewed by Ali Amady Dieng, Development and Change 38, no.6 (November 2007): 1149–59.
“‘
Market Economy’ or Oligopoly Finance Capital,” Monthly Review 59, no. 11 (April 2008): 51–61.
“
Nepal, APromising Revolutionary Advance,” Monthly Review 60, no.9 (February 2009): 12–16.
“
Seize The Crisis,” Monthly Review 61, no.7 (December 2009): 1–16.
“
Capitalism and the Ecological Footprint,” Monthly Review 61, no. 6 (November 2009): 19–22.
“
The Trajectory of Historical Capitalism and Marxism’s Tricontinental Vocation,” Monthly Review 62, no. 9 (February 2011): 1–18.
“
Modernity and Religions Interpretations,” in Lansana Keita, ed., Philosophy and African Development (Dakar: CODESRIA, 2011).
“
Y a-t-il une solution aux problèmes” Recherches Internationales, no. 89 (January–March 2011): 233-36.
“
Egypte: Changement: demandez le programme!” Afrique-Asie, December 28, 2012, http://afrique-asie.fr.
“Preface,” in Hocine Belalloufi, ed., La démocratie en Algérie: Réforme ou Révolution? (Alger: APIC, 2012).
“
The Center Will Not Hold: The Rise and Decline of Liberalism,” Monthly Review 63, no. 8 (January2012): 45–57.
“
The Surplus in Monopoly Capital and the Imperialist Rent,” Monthly Review 64, no. 3 (July-August 2012): 78–85.
“
China 2013,” Monthly Review 64, no. 10 (March 2013): 14–33.
“Class Suicide, The Post Bourgeoisie and the Challenge of Development,” in Firoze Manji, ed.,Claim no Easy Victory (Dakar: CODESRIA, 2013).
“Audacity, More Audacity,” Review of Radical Political Economics 45, no. 3 (September 2013): 400–409.
“
Egypt, July 2013” (interview on July 15, 2013), July 24, 2013, http://samiramin1931.blogspot.com.
“
Egypt Today: The Challenges for the Democratic Popular Movement,” August 23, 2013,
http://samiramin1931.blogspot.com.
“
The Chinese Yuan and HSBC Bank,” Pambazuka no. 643, August 13, 2013, http://www.pambazuka.org.
Samir Amin é diretor do Fórum do Terceiro Mundo em Dakar, Senegal. Seus livros publicados pela Monthly Review Press incluem The Liberal Virus, The World We Wish to See, The Law of Worldwide Value e, mais recentemente, The Implosion of Contemporary Capitalism. Este artigo foi traduzido do francês por Shane Mage.

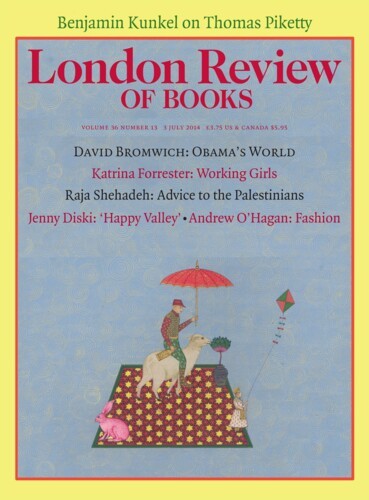





.jpeg)
