Perry Anderson
I: Lula/Dilma
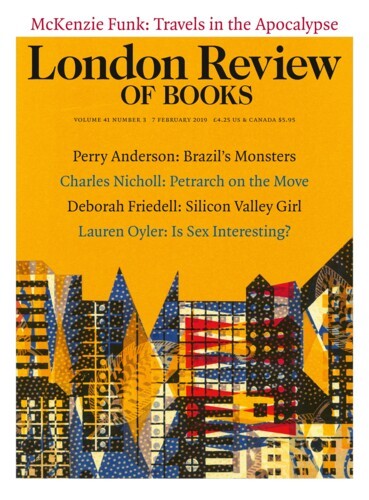 |
| Vol. 41 No. 3 · 7 February 2019 |
Tradução / A teratologia da imaginação política contemporânea — já farta o bastante: Trump, Le Pen, Salvini, Orbán, Kaczyński, ogros a granel - ganhou um novo monstro. Se sobressaindo acima da sua manada, o presidente eleito do Brasil exaltou o mais notório torturador de seu país; declarou que a ditadura militar deveria ter matado trinta mil oponentes; disse a uma congressista que ela era muito feia para merecer ser estuprada; anunciou que preferiria um filho morto em um acidente de carro do que gay; declarou temporada de caça aberta na floresta amazônica; e, não menos importante, no dia seguinte à sua eleição, prometeu aos seus seguidores livrar a terra dos marginais vermelhos. No entanto, para Sérgio Moro, seu novo ministro da justiça saudado no mundo inteiro como um epítome de independência e integridade judicial, Jair Bolsonaro é um “moderado”.
Desta vez não foram os militares, mas o judiciário, que atuou como suporte para alavancar a reviravolta que este estrato, organizado simplesmente em termos eleitorais, como partido ou conjunto de partidos, não conseguia alcançar. Magistrados, mais próximos em sua carreira e cultura da massa civil da classe média do que os oficiais, eram os aliados mais orgânicos numa causa comum. Discordando das duas caracterizações opostas do papel dos juízes na Lava Jato — ora os destemidos flagelos contra a corrupção, imparcialmente mantendo o estado de direito, ora os cruéis manipuladores com fins políticos partidários — Singer vê suas operações ao mesmo tempo como genuinamente republicanas nos efeitos, mas inconfundivelmente tendenciosas na direção. Republicana: de que outra forma poderia ser descrito o encarceramento dos mais ricos e poderosos magnatas da pátria? Não sem razão, uma das operações da Lava Jato foi batizada, após a resposta indignada de um chefe da Petrobras ao ser preso. — “Que país é esse?” Tendenciosa: de que outra forma poderia ser descrito o direcionamento sistemático no PT, e a preservação de outros partidos até que Dilma fosse derrubada? E isso para não falar dos desabafos de simpatias e antipatias políticas no Facebook, as fotos sorridentes de Moro com ornamentação do PSDB e todo o resto. A contradição era um nó inextricável, entrelaçado com o do próprio PT: os juízes “tendenciosos e republicanos”, o partido “criado para mudar instituições e engolido por elas”.
*
Tendo estabelecido o curso em que Dilma embarcou ao assumir o cargo, os obstáculos econômicos e legislativos em que ele corria, o sistema partidário em que ele se inseria, a matriz de forças de classe confrontando-o e o cerco judicial que, eventualmente, o envolveu, Singer termina com uma narrativa gráfica da sequência de movimentos e contra-movimentos pelos atores políticos individuais nos tumultuados e nublados caminhos rumo ao impeachment. Agora é dada às personalidades sua real importância. As intenções de Dilma eram mais do que honrosas. Ela queria avançar, não apenas preservar os ganhos sociais alcançados pelo PT sob Lula e libertá-los das conivências com as quais haviam sido comprados. Mas, de fácil desgaste político, ela se compensava com uma rigidez, e embora no âmbito particular ela pudesse estar relaxada e cativante o suficiente, em seu ofício ela não tolerava nem críticas nem conselhos. Para Singer, ela deve ser responsabilizada por dois erros fatais e evitáveis, e, em ambos os casos, se recusava a prestar atenção ao seu mentor. A primeira foi sua decisão de concorrer à presidência pela segunda vez em 2014, em vez de se retirar para permitir que Lula voltasse como ele esperava e desejava que fosse feito. Seria culpa da vaidade ou de um orgulho natural da autonomia de seu projeto? A certa altura, Lula admitiu publicamente que seria candidato se houvesse o perigo de o PSDB voltar, como logo aconteceu. Mas a franqueza pessoal não era seu estilo: ele nunca debateu essa questão diretamente com ela. A tradição política no Brasil, como é nos EUA, é de que um presidente em exercício concorre a um segundo mandato e ele assim respeitou.
A segunda acusação contra Dilma foi a de rejeição de qualquer acordo com Cunha para se salvar do impeachment, o que Lula acreditava ser necessário. Para Singer, aí residia uma diferença crucial de caráter. Politicamente, ele observa, Lula se curvaria, mas não quebraria; Dilma iria quebrar ao invés de se curvar. Os chantagistas nunca estão satisfeitos, ela disse: ao ceder eles sempre voltarão para mais. Sem enfatizar isso com palavras demais, Singer fica do lado de Lula. A política como vocação, escreveu Max Weber, requer a aceitação de “paradoxos éticos”. Citando-o, Singer sugere que esse foi um “dever” que Dilma recusou. E assim ele entendeu, porque as consequências de não se dobrar foram graves. Resistindo teimosamente a um acordo, ela abriu a porta para um “retrocesso da nação de proporções imprevisíveis”.
Nessa magistral reconstrução da queda de Dilma, esses julgamentos conclusivos parecem ser questionáveis. Singer, pode-se dizer, é ao mesmo tempo um pouco acrítico e crítico demais em relação a Dilma. O que se pode dizer contra a atribuição a Dilma de um republicanismo explícito, pelo menos no início, foram os dois principais assessores que ela escolheu quando concorreu pela primeira vez à presidência, e os instalou ao seu lado quando venceu. Como chefe de sua campanha e, em seguida, chefe da casa civil em Brasília (o equivalente a primeiro-ministro), estava o político mais notoriamente corrupto nas fileiras do PT, Antonio Palocci, que era quem fazia o brinde aos grandes empresários enquanto foi ministro da Fazenda de Lula, antes que fosse forçado a renunciar depois de um escândalo particularmente feio em 2006. Seu reaparecimento em 2010 foi saudado com deleite pela The Economist, mas logo se deu a notícia de que nesse meio tempo ele havia adquirido uma enorme e inexplicável fortuna em consultorias e operações imobiliárias, e Dilma precisou livrar-se dele. Previsivelmente, essa figura abjeta seria o único líder do PT a transformar-se em delator na Lava Jato.
Depois que ele se foi, João Santana permaneceu ao seu lado: seu conselheiro mais íntimo e, por vários relatos, uma influência crucial em suas decisões. Músico de uma banda que dava suporte a Caetano Veloso e mais tarde um repórter investigativo, antes de se tornar o marqueteiro — uma espécie de gestor de todo tipo de campanhas comerciais e de promoção de marcas — mais bem pago do país, Santana foi colocado no círculo publicitário por Palocci em sua cidade natal e prestou seus serviços em escala internacional; entre seus clientes estava o bilionário saqueador presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Ele durou seis anos com Dilma, antes que a Lava Jato o pegasse por um suborno de US $ 10 milhões que ele havia embolsado nas Ilhas do Caribe. Naturalmente, como todo mercenário, ele também adquiriu a clemência com uma delação. Em ambos os casos, o entendimento de Dilma foi tudo menos republicano. Não sendo ela uma cria do PT, partido do qual ela nunca tinha sido membro antes de se juntar à equipe de Lula, ela não poderia escapar tão facilmente das suas práticas.
Por outro lado, as críticas de que ela prejudicou o partido ao não passar o bastão para Lula em 2014, e de colocar o país em risco ao recusar o pacto com Cunha em 2016, implicam em duas alternativas contrafactuais contra as quais fala a lógica da situação histórica. Se Lula, ao invés de Dilma, tivesse concorrido em 2014, certamente teria vencido por uma margem mais ampla e dificilmente teria feito uma mudança tão abrupta e desastrada em direção à austeridade, alienando os mais pobres. Mas a conjuntura econômica não permitiria a repetição do estímulo que lhe permitiu superar a crise financeira global de 2008 como uma mera “marolinha” no Brasil. O super ciclo das commodities havia acabado, todos os sinais econômicos apontavam para baixo: as medidas defensivas [poison pills] deixadas pelo seu próprio regime estavam se esgotando. Além disso, a tempestade da Lava Jato teria atingido sua presidência com uma força ainda maior do que a de Dilma. Pessoalmente, ele estava muito mais exposto a esse ataque. Não haveria necessidade de recorrer a questões técnicas orçamentárias para um impeachment: teria sido muito mais amplo, com um clamor ainda mais ensurdecedor nas ruas e nas telas do país. Suas tradicionais habilidades políticas em lidar com o Congresso poderiam até ter evitado o destino do qual que ele já havia escapado uma vez antes, durante a crise do mensalão, e no melhor cenário, talvez permitisse que ele capengasse até o final de seu mandato. Mas o preço seriam três anos simplesmente algemado a Cunha em tal ódio moral-político que, com toda a probabilidade, a retribuição às urnas em 2018 teria sido ainda mais devastadora. Havia boas razões para que, não apenas Dilma, mas o próprio PT rejeitasse o conchavo com Cunha. O custo em credibilidade, que já estava tão desgastada, era alto demais, e o saldo bastante minguado.
Já os juízes foram um pouco mais coniventes em tolerar Cunha, enquanto ele segurava as chaves do impeachment, do que o político que eles tinham em vista. O relato de Singer sobre a perspectiva e o impacto dos magistrados de Lava Jato é um modelo de análise fria e calculista. Ainda assim, deixa duas questões em aberto. Republicana ainda que tendenciosa, sim: mas qual seria o equilíbrio final entre elas — apenas de igual efeito? Foram essas, além disso, as únicas duas fundamentações na composição do judiciário brasileiro? O foco de Singer se deu no grupo em Curitiba. Mas ele operava dentro de um sistema legal que o antecedia e o transcendia. Lá, de importância decisiva, foi a relação entre a polícia, os promotores e os juízes. Formalmente falando, um independia do outro. A polícia reúne provas, os promotores apresentam acusações e os juízes pronunciam veredictos (no Brasil, os júris existem apenas para casos de homicídio). Na prática, no entanto, a Lava Jato fundiu essas três funções em uma, promotores e policiais trabalhando sob a supervisão do juiz, que controlava investigações, determinava acusações e proferia sentenças. A negação dos princípios ordinários da justiça em tal sistema, mesmo sem contar a dispensa da presunção de inocência por Moro, é clara: os poderes de acusação e condenação não são mais distinguidos.
Para além desses poderes, foram adicionados outros três. A delação premiada introduziu a prática, estendida dos juízes aos promotores, de ameaçar as pessoas detidas com sentenças pesadas, a menos que elas implicassem outras: na prática, chantagem judicial. A escala de abuso à qual esse poder propicia pode ser vista a partir do tratamento concedido ao magnata mais rico capturado pela Lava Jato. Marcelo Odebrecht foi condenado a 19 anos de prisão por corrupção da ordem de US $ 35 milhões. Uma vez que ele virou informante, estes foram reduzidos para dois e meio e ele foi libertado da prisão sem mais delongas. O incentivo em fornecer quaisquer outras alegações que podem ser úteis para outros casos que o magistrado esteja buscando indiciar é óbvio. Os juízes podem até oferecer perdões. Uma outra facilidade que lhes foi concedida foi a abolição da regra segundo a qual os procedimentos de recursos deveriam ser esgotados antes que um acusado pudesse ser preso.
Por último, mas não menos importante, foi a adoção, essencialmente a partir do julgamento do mensalão, do conceito de domínio de fato — condenação na ausência de qualquer evidência direta de participação em um crime, sob a alegação de que o acusado seria responsável por ele. Essa foi a base sobre a qual o chefe de gabinete de Lula foi condenado por sua posição hierárquica como principal encarregado da administração política em Brasília. Essa noção foi tomada emprestada do princípio de Tatherrschaft, desenvolvido pelo jurista alemão Claus Roxin para crimes de guerra nazistas. Roxin, no entanto, protestou contra o abuso brasileiro: a posição organizacional não era suficiente para o crime como ele definia — tinha que haver alguma prova de um comando. Moro, no entanto, dispensou até mesmo a hierarquia organizacional, ao dispor do domínio de fato para condenar Lula pela pretensão de receber um apartamento da Odebrecht. O valor da propriedade era de US$ 600.000, pelo qual ele foi preso por 12 anos: mais de dois terços da punição da Odebrecht, por menos de 2% da soma pela qual fora acusado. As proporções falam por si só.
*
Em tais casos, esses processados em Curitiba, a combinação de zelo republicano e viés tendencioso identificado por Singer se aplica. Subindo a ladeira judicial para Brasília, onde manda a Suprema Corte, o mesmo já não pode ser dito. Lá, nem o rigor ético nem o fervor ideológico são vistos em qualquer um dos cantos: as motivações são de uma ordem completamente diferente, mais esquálida. Ao contrário de seus equivalentes em qualquer outro lugar do mundo, o Supremo Tribunal Federal combina três funções: interpreta a constituição, atua como o último tribunal de apelação em casos civis e criminais e, crucialmente, é o único autorizado a julgar altos funcionários públicos — membros do Congresso e ministros — que de outra forma gozam de imunidade de ações penais, popularmente conhecida como foro privilegiado, em todos os outros tribunais do país. Seus 11 membros são indicados pelo executivo; sua confirmação pelo legislativo, bem diferente dos EUA, não é nada mais do que uma formalidade. Experiência anterior como magistrado não é necessária: apenas três dos juízes atuais têm alguma. Apenas a prática como advogado ou promotor, acrescida de um punhado de credenciais acadêmicas, é o requisito habitual.
O processo de seleção para a Suprema Corte tradicionalmente se baseia não muito em afinidades ideológicas, mas em conexões pessoais: da safra atual, um é ex-advogado de Lula, outro é compadrio de Cardoso, um terceiro é primo de seu desonrado antecessor, Fernando Collor de Mello. O volume de casos da corte é grotesco: mais de quinhentos por cada ano, alocados para consideração preliminar por sorteio a juízes individuais, cada um investido — e nenhum outro tribunal supremo no mundo apresenta isso — com poder arbitrário para parar ou acelerar um caso como quiserem, atrasando alguns por anos, acelerando os outros apressadamente. Na prática, não há prazos. Quando um caso é liberado para decisão pelo plenário, as audiências não são apenas públicas, mas — outra característica única — são transmitidas ao vivo pela televisão, se o atual presidente do tribunal, que faz a rotação, achar adequado. Em tais sessões, o decoro é, no mínimo, um primor de exibicionismo.
Na época em que a pressão pelo impeachment começava a se acumular, oito dos onze membros da corte tinham sido escolhidos por Lula ou Dilma. Mas como as nomeações raramente eram altamente políticas em sentido partidário, apenas um membro da corte, Gilmar Mendes, o mais chegado de Cardoso, tinha um perfil ideológico bem definido, como um falcão do PSDB. O resto não tinha nem uma cor em particular, ali o egoísmo e o oportunismo contavam em geral mais do que qualquer outro ismo. Mas uma vez que a terceira função do tribunal, o julgamento de políticos, do escândalo do mensalão em diante, adquiria uma importância nunca antes conhecida, aqueles que deviam sua nomeação a Lula e Dilma já estavam empenhados em mostrar sua independência do PT. Foi o primeiro negro da corte, Joaquim Barbosa, colocado lá por Lula, que proferiu sentenças de dureza sem precedentes sobre os quadros do PT no julgamento do mensalão. Mas como os eventos mostrariam, não foi tanto o caso de independência no sentido de uma justiça imparcial, mas a substituição de uma dependência bastante nominal aos patronos por uma submissão mais reveladora à mídia.
Desde o início, o grupo de Curitiba usou vazamentos e plantou matérias na imprensa para, como em curto circuito, impedir processo de correr o devido tempo, condenando alvos antes do julgamento pela opinião pública, de acordo com a sabedoria brasileira — válida em todo o mundo — de que “a opinião pública é opinião publicada”. Tais vazamentos são juridicamente proibidos. Moro os empregou de maneira impune e sistematicamente. Ele pôde fazê-lo, porque a mídia que ele usava como megafone intimidava os juízes da Suprema Corte, que temiam denúncias se reclamassem. Quando Moro foi ordenado por um juiz que, por habeas corpus, ele deveria libertar um diretor da Petrobras que ele mantinha preso, ele foi à mídia, explicando que, se assim o fizesse, deveria também libertar os traficantes de drogas. Seu superior imediatamente recuou. Quando ele quebrou nada menos do que três regulamentos ao gravar e publicar o telefonema entre Lula e Dilma, e recebeu uma fraca reprimenda do mesmo juiz, Moro respondeu que ele havia agido por interesse público, e — já que ele agora estava sendo festejado pela imprensa como um herói nacional — não sofreu nem mesmo um puxão de orelha.
Receosa em se meter nas ilegalidades do andar de baixo, a Suprema Corte não era melhor — por servilismo e competição de interesses próprios — no desempenho de suas tarefas no andar de cima. Se o procurador-geral apresentar acusações contra um membro do Congresso ou o do governo, o tribunal determina se deve ou não realizar um julgamento, e a sua decisão exige a ratificação pelo Congresso. Acusações foram feitas contra Cunha assim que suas contas bancárias na Suíça foram reveladas. O tribunal não se mexeu por seis meses, até que ele detonou o impeachment de Dilma. A partir daí, não apenas aceitou a acusação da noite para o dia, mas — ansioso para ofuscar sua inação — ordenou peremptoriamente seu afastamento como deputado, que não tinha autoridade constitucional para fazer. Como Cunha observou com precisão cínica: “Se era urgente, por que demoraram seis meses?” Quando Delcídio do Amaral, um senador petista, ex-PSDB, foi grampeado discutindo maneiras de libertar um diretor da Petrobras da prisão, o tribunal agiu na velocidade da luz, prendendo-o em 24 horas. Ele deixou escapar que ele tinha bons tramites com os juízes e estava sondando o caso. Assim que ele ofereceu a devida delação, as acusações foram silenciosamente abandonadas e seu mandato foi devolvido ao Senado. Na falta de uma bússola onde os princípios deviam estar norteados, o crítico Conrado Hübner Mendes observou que um tribunal que deveria ser um poder moderador das tensões na constituição, tornou-se — na falta de uma definição melhor — um abscesso que os gera [3].
*
Ao que tudo indica, o veredicto das urnas em outubro passado foi inequívoco: depois de governar o país por 14 anos, o Partido dos Trabalhadores (PT) foi amplamente repudiado e sua sobrevivência pode agora estar em dúvida. Lula, o governante mais popular da história do Brasil, foi encarcerado por Moro e aguarda novas sentenças de prisão. Sua sucessora, despejada do cargo no meio do segundo mandato, é uma pária virtual, reduzida a um humilhante quarto lugar em uma corrida local no Senado. Como esse revés ocorreu? Até que ponto foi ao acaso ou, em algum momento, uma tragédia anunciada? O que explica o radicalismo desse resultado? Em comparação com a escala da agitação pela qual o Brasil viveu nos seus últimos cinco anos e a gravidade de seu possível resultado, a histeria sobre o Brexit neste país e os ataques intempestivos de Trump na América parecem ser muito barulho por nada.
A política brasileira tem um caráter meio italiano: sinuosa e traiçoeira. Porém, fica difícil compreender o que aconteceu ao país sem se debruçar a compreender suas formas. Quando Lula deixou o cargo em 2010 — os presidentes do Brasil estão limitados a dois mandatos sucessivos, mas não impedidos de reeleição subsequente - a economia registrava crescimento de 7,5%, a pobreza diminuiu pela metade, novas universidades se multiplicavam, a inflação estava baixa, o orçamento e as contas estavam em superávit e seu índice de aprovação estava acima de 80%. Para sucedê-lo, Lula escolheu sua chefa de gabinete, Dilma Rousseff, que na década de 1960 havia lutado clandestinamente contra a ditadura militar e que nunca havia ocupado ou concorrido a cargos eleitorais antes. Com Lula ao seu lado, ela chegou à vitória com uma maioria de 56%, a primeira mulher a ganhar a presidência. Inicialmente melhor recebida por uma classe média que detestava Lula, por dois anos ela desfrutou de uma estima generalizada por demonstrações de calma e competência. Mas sua herança não era o mar de rosas que parecia. Os altos preços das commodities haviam sustentado o boom de Lula, mas sem alterar significativamente as taxas de investimento e o crescimento da produtividade que eram historicamente baixos no Brasil. Praticamente, logo que Dilma assumiu o cargo, em 2011, o crescimento começou a cair, abruptamente, para 1,9% em 2012. Em 2013, o Federal Reserve dos EUA anunciou que deixaria de comprar títulos, dando início a política monetária de mercados de capitais chamada na época de taper tantrum, que desviou o financiamento estrangeiro para fora do Brasil. O balanço de pagamentos se deteriorou. A inflação chegou. Os anos de prosperidade frondosa estavam terminados.
Politicamente, o governo do PT deu um cheque caução desde o início. Após a redemocratização do país no final da década de 1980, três partidos se destacaram: no centro-direita, o “social democrata” PSDB, lar de grandes empresários e da classe média; no centro, o PMDB teoricamente “democrático”, uma vasta rede de clientelismo nos ambientes rurais e cidades pequenas, que se abrigavam em ninhos locais devido a generosidade federal ou estadual; mais à esquerda, o PT, o único partido que era mais do que uma coleção de notáveis regionais e seus subordinados. Ao lado desse trio, no entanto, o sistema eleitoral brasileiro, de representação proporcional com lista aberta em distritos muito grandes, fez proliferar uma infinidade de partidos menores, sem orientação ideológica: proliferaram mecanismos para extrair fundos públicos e favores para seus líderes. Nessas condições, nenhum presidente jamais liderou seu partido com mais de um quarto das cadeiras do Congresso por meio do qual toda a legislação significativa devia passar, o que tornava as coalizões uma condição de governo e a distribuição de verbas lucrativas uma condição para essas coalizões.
Durante vinte anos, a presidência foi ocupada por apenas dois partidos, o PSDB e o PT. O primeiro, comprometido em entregar o que chamou de “choque de capitalismo” salutar para o país, teve pouca dificuldade em encontrar aliados entre as oligarquias tradicionais do nordeste e os eternos predadores do PMDB. Eles eram aliados naturais de um regime liberal-conservador. Quando Lula chegou ao poder, o PT não quis depender deles. Em vez disso, partiu para construir uma maioria no Congresso a partir do pântano de partidos menores, cada uma mais corruptível do que no outro. Para evitar dar a eles muitos ministérios, o que seria a recompensa financeira habitual pelo apoio, passou a distribuir pagamentos mensais em dinheiro por debaixo do pano. Quando este sistema, o chamado mensalão, foi exposto em 2005, ele pareceu por um tempo que poderia derrubar o governo. Mas Lula permaneceu popular entre os pobres e, ao dispensar assessores-chave e mudar suas alianças para uma dependência mais convencional ao PMDB, no intuito de garantir maioria no Congresso, ele sobreviveu ao alvoroço e, no tempo devido, foi triunfalmente reeleito. Em seu segundo mandato, o PMDB era braço estável de sua administração, desfrutando, em troca, de uma série de indicações satisfatórias, centrais e locais, na máquina do governo. Quando o mandato chegou ao fim, o presidente do PMDB na câmara baixa, Michel Temer, foi escolhido por Lula para ser vice-presidente de Dilma, unindo um veterano de pilhagens de bastidores e intrigas de corredor a uma neófita na política.
Os legados econômicos foram sendo minados primeiro. Em 2013, as classes médias já tinham se azedado com o governo e o aumento de preços já causava tensão popular nas grandes cidades. Lula havia injetado dinheiro - salário mínimo mais alto, crédito facilitado, sistemas de transferências de renda — para os pobres no consumo privado, mas não nos serviços públicos, a maioria dos quais permaneciam muito ruins. No inverno, o aumento das tarifas de ônibus provocaram protestos liderados por jovens militantes de esquerda em São Paulo. A repressão policial amplificou-os em gigantescas manifestações de rua em todo o Brasil. Com o aumento da participação de direita e o apoio da poderosa mídia do país, eles se tornaram rapidamente um "contra todos os políticos" em geral e atingindo o PT em particular. Em quinze dias, os índices de aprovação de Dilma caíram de 57 para 30%. Combinando cortes de gastos e medidas subsequentes e mais baratas de bem-estar social, ela se recuperou nos meses seguintes. Mas no verão de 2014, minas políticas enterradas começaram a explodir. Operações da polícia federal investigando a lavagem de dinheiro em um lava-jato de Brasília revelou uma corrupção generalizada na gigante estatal petrolífera Petrobras, que na época ostentava um das maiores valores de ações do mundo. Uma enxurrada de vazamentos da investigação, aumentada pela mídia, indicava conexões com o PT que retrocediam ao tempo de Lula. Fatos esses que ressonavam em uma atmosfera já altamente carregada, consequência do julgamento público no final de 2012 — sete anos após o fato — dos principais atores do partido no caso do mensalão.
Então, quando Dilma se candidatou à reeleição em 2014, ela enfrentou uma oposição muito mais agressiva do que em 2010. Como antes, foi o candidato do PSDB que chegou à segunda rodada da disputa presidencial contra ela. Em uma campanha combativa, mas desajeitada, na qual ela teve um fraco desempenho nos debates, Dilma conseguiu uma maioria estreita com o compromisso de nunca aceitar a austeridade que ela acusou seu oponente de planejar infligir à população. Mas antes mesmo de assumir o cargo, ela já estava em dificuldades. Talvez pensando em repetir a manobra inicial de Lula ao assumir a presidência, quando começou com rígida ortodoxia econômica para tranquilizar os mercados, expandindo os gastos sociais apenas depois de consolidar as finanças públicas, ela escolheu um executivo bancário da escola de Chicago para o Ministério da Economia para sinalizar uma nova etapa mais regrada. E assim, traiu suas promessas de campanha com contenções mais convencionais que atingiram a renda popular. Tendo alienado sua base à esquerda, ela antagonizou a direita ao tentar impedir que o PMDB continuasse a manter a poderosa posição, desocupada por Temer em 2010, de Presidente da Câmara, posição essa a qual dependia toda a cooperação para a passagem de novas legislações, e isso apenas para ser significativamente derrotada pelo candidato vitorioso daquele partido, Eduardo Cunha. O PT, que havia conquistado apenas 13% dos votos para o Congresso, estava agora extremamente vulnerável no Legislativo.
O PSDB, entretanto, não deixou barato a sua derrota na presidência. Furiosos por terem sido impedidos de triunfar no que entendiam estar garantido, seu líder Aécio Neves apresentou, junto ao Supremo Tribunal Eleitoral, acusações de gastos ilegais contra a campanha vencedora, na esperança de cancelar o resultado e instituir uma nova eleição, na qual - dada a desilusão popular com o curso econômico de Dilma - ele poderia, dessa vez, ter a certeza do sucesso. Mas o PSDB, um conglomerado de figurões bem sucedidos, onde cada um tinha suas próprias ambições, não estavam todos de acordo com ele. O candidato mal sucedido do partido à presidência em 2002, José Serra, agora senador por São Paulo, vislumbrou um caminho diferente para o despejo de Dilma, um que poderia ampliar o apoio à sua expulsão, mas mantendo o controle em suas próprias mãos. A desvantagem da estratégia de Aécio era que ela também ameaçava Temer como o companheiro de chapa de Dilma. Por isso, teve pouco apelo para o PMDB. Serra era mais próximo de Temer; há muito tempo eram companheiros de política em São Paulo. Melhor então lançar o processo de impeachment contra Dilma no Congresso, onde se poderia esperar que Cunha lhes desse uma audiência favorável. O sucesso automaticamente tornaria o presidente Temer e daria a Serra o ponto de partida ideal para sucedê-lo, superando a Aécio na corrida para a presidência.
Temer compreensivelmente começou a esquentar esse plano, e sorrateiramente, os dois articularam movimentos para invocá-lo. Atrás deles estava, ainda mais discretamente, o veterano estadista do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, amigo íntimo e conselheiro de Serra, e que nunca gostou de Aécio. Só restava elaborar melhor o pretexto para o impeachment. Chegou-se a um consenso sobre uma questão técnica: Dilma violou a lei ao adiar pagamentos em contas públicas para torná-los melhores para fins eleitorais. Isso era uma prática de longa data, comum a governos anteriores, e que pouco importava. Mas lá pelos idos do verão de 2015, a paisagem política já havia sido transformada por um escândalo envolvendo as negociatas em Brasília.
*
As investigações da Lava Jato estavam sob a jurisdição do estado do qual o primeiro culpado de nível médio, o doleiro Alberto Youssef, foi capturado: a atípica sociedade provincial de classe média do estado do Paraná, no sul do Brasil. Sérgio Moro, um de seus filhos nativos que havia sido formado e lapidado como assistente no julgamento do mensalão, era o juiz presidente de sua capital, Curitiba. Seu modelo operacional, como havia deixado claro em um artigo publicado uma década antes do início da investigação Lava Jato, era o processo de corrupção “Mãos Limpas”, que destruiu os partidos do governo italiano no início dos anos 90, encerrando a Primeira República [1]. Moro destacou duas características daquela campanha a merecer elogios: o uso de prisão preventiva para garantir delações e vazamentos bem calculados para a imprensa sobre as investigações em andamento para despertar a opinião pública e pressionar os alvos e os tribunais. A dramatização na mídia importava mais do que a presunção de inocência, que — explicou Moro — estava sujeita a considerações de ordem pragmática. Estando a cargo da Lava Jato, ele provou ser um empreendedor excepcional. Sucessivas operações — batidas, ocorrências, figuras algemadas, confissões — receberam publicidade máxima, com denúncias para a imprensa e para a televisão, cada uma cuidadosamente atribuída a um número de operações (até o momento foram 57, resultando em mais de mil anos de prisão) e um nome tipicamente escolhido do imaginário cinematográfico, clássico ou bíblico para efeitos teatrais: Bidone, Dolce Vita, Casablanca, Nessun Dorma, Erga Omnes, Aletheia, Juízo Final, Déjà Vu, Omertà, Abismo etc. Os italianos se orgulham de ter um talento nacional para o espetáculo: mas a administração de Moro deixou seus mentores italianos no chinelo.
Durante um ano, as operações da Lava Jato se concentraram em ex-diretores da Petrobras, encarregados de receber e distribuir enormes subornos. Então, em abril de 2015, eles derrubaram o primeiro quadro proeminente do PT, João Vaccari Neto, seu tesoureiro. Poucas semanas depois, os chefes das duas maiores empresas de construção do país, Odebrecht e Andrade Gutierrez, ambas conglomerados continentais que operam em toda a América Latina, foram levados para interrogatório. Por hora, manifestações em apoio a Moro — clamando por punição do PT e a remoção de Dilma — estavam se construindo, e colocando o Congresso sob cerco. Cunha, ainda formalmente parte da coalizão governista, avançou no sentido de abrir a pauta para o impeachment. Isolada e enfraquecida, Dilma aceitou o conselho de seus ministros petistas para que Lula fosse chamado para tentar salvar a situação. Ele rapidamente começou a aparar as arestas com o PMDB. Ao fazê-lo, de repente e espetacularmente apareceu a novidade de que Cunha tinha milhões de dólares em contas bancárias secretas na Suíça. Ao que ele oferece um pacto de proteção mútua: ele bloquearia o processo contra Dilma se o governo bloqueasse o processo contra ele. Lula exortou a aceitação do acordo e, no nível da cúpula em Brasília, chegou-se a um entendimento. Mas Dilma recusou, e a liderança nacional do PT, sediada em São Paulo, temendo que a notícia do acordo pudesse apenas reforçar a percepção pública de que o partido era amplamente corrupto, instruiu seus deputados a votarem por ações contra Cunha. Em retaliação, ele imediatamente liberou as acusações contra Dilma para a deliberação do Congresso.
Moro, enquanto isso, preparava seu “golpe de misericórdia”. Na primeira semana de março de 2016, a Operação Aletheia apreendeu Lula nas primeiras horas da manhã, levando-o para interrogatório; fotógrafos de imprensa e televisão, avisados com antecedência, desbravavam espaços atrás dele. Ele agora estava sob investigação formal de Lava Jato. Mais sensacionalismo seguiu-se. Um telefonema de Dilma para Lula para discutir as modalidades para nomeá-lo como seu chefe de gabinete em Brasília foi grampeado por Moro e instantaneamente liberado para a imprensa. Uma vez que os políticos de nível ministerial, bem como os membros do Congresso, gozam de imunidade contra essas medidas, a menos que autorizado pela Suprema Corte, houve tumulto. Isso seria simplesmente uma maneira de proteger Lula da prisão. A nomeação de Lula foi cancelada por dois juízes em Brasília, o primeiro, um sujeito verborrágico e abertamente contra o PT no Facebook, o segundo sendo um quadro ligado ao PSDB na Suprema Corte.
A pressão nas ruas para o impeachment já era enorme: em todo o Brasil, 3,6 milhões de manifestantes clamavam pelo despejo de Dilma. No entanto, ainda estava longe de claro que a maioria necessária de dois terços para o impeachment poderia ser alcançada no Congresso. Em pouco tempo, mais uma operação da Lava Jato revelou os cadernos de notas que a Odebrecht mantinha, registrando pagamentos cifrados para o que os rumores diziam ser de cerca de duzentos políticos brasileiros, praticamente de todos os partidos. Com isso, as sirenes de alarme dispararam na classe política. Em questão de dias, um alto agente de poder do PMDB foi gravado dizendo a um colega que era necessário “estancar a sangria”. Como “os caras do Supremo” disseram que isso era impossível enquanto Dilma estivesse no lugar e a mídia em prantos pelo despejo dela, ela deveria ser substituída por Temer imediatamente e um governo de acordo nacional formado, apoiado pela Suprema Corte e pelo exército — ele assim estava conversando com generais. Só dessa forma a Lava Jato poderia ser parada antes de chegar ao PMDB. Em duas semanas, a Câmara votou, Cunha presidindo, pelo impeachment de Dilma. Moro poderia então pegar Cunha, o qual já havia servido ao seu propósito. A Suprema Corte ordenou que o Congresso o dispensasse como orador. No devido tempo, ele foi expulso da Câmara e acabou na prisão. Após o intervalo cabível, o Senado considerou Dilma culpada da acusação aprovada pela Câmara, e Temer assumiu a presidência. No início de 2017, Lula foi preso sob a acusação de corrupção na futura aquisição de um apartamento à beira-mar, do qual ele nunca havia se tornado proprietário. Julgado em Curitiba naquele verão, foi condenado a nove anos de prisão; quando ele apelou, sua sentença fora aumentada para 12. Com o primeiro presidente do partido atrás das grades, a segunda removida desonrosamente do cargo, sua imagem popular na maior baixa de todos os tempos, o naufrágio do PT parecia quase concluído.
A reação ao encarceramento de Lula começou a mostrar que isso não era bem assim. Inimigos no PSDB contaram que ele tentasse o exílio em vez da prisão, com sua fuga para um refúgio selando sua desgraça. Surpresos com a sua estoica aceitação da cadeia, eles não conseguiram imaginar a simpatia que seu aprisionamento poderia despertar. Dentro de alguns meses, as pesquisas mostraram que ele era novamente o líder mais popular do país, estando à frente, mesmo desqualificado como criminoso, da disputa pela presidência em 2018. O apelo pessoal de Lula, no entanto, era uma coisa, o futuro do PT, outro. O partido sofreu um colapso sem precedentes na história do Brasil. Que tipo de cálculo seria necessário para corrigir isso? Em seus anos de poder, o PT pouco fizera para fomentar uma cultura de análise autocrítica; ou reflexão sobre para onde o partido, ou o país, estavam seguindo. Muitos intelectuais foram úteis como uma ponte para a visibilidade pública nos primeiros momentos. Uma vez no exercício do poder, embora muitos — talvez a maioria — continuassem a apoiá-lo, o partido essencialmente os ignorou, num filistinismo míope pelo qual tudo o que importava eram os cálculos eleitorais.
*
Desmerecido e pouco apreciado, o partido possuía um pensador político de primeira linha. Filho de um imigrante judeu austríaco que se tornou um importante economista de esquerda no Brasil, André Singer foi membro fundador do PT em São Paulo em 1980. Começou como jornalista, assumindo uma posição sênior no menos conservador dos dois jornais da cidade, a Folha, antes de se tornar secretário de imprensa e porta-voz presidencial de Lula durante seu primeiro mandato em Brasília, ao final do qual ele pediu demissão para ingressar na carreira acadêmica como cientista político. Em 2012, quando o PT ainda reinava intacto, produziu o primeiro estudo sério da trajetória de seu governo e do apoio social durante o governo Lula. Embora escrito com respeitosa admiração pelo que havia sido alcançado, também tinha calma e clareza sobre a natureza e as causas do “reformismo fraco” que o partido favoreceu e que tinha pouco eco dentro dele. No verão passado, ele publicou uma sequência: “O lulismo em crise: Um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016)”, que — mesmo que haja pouco sinal disso ainda — espera-se que seja recebido com menos silêncio [2]. De vez em quando, em diferentes países, livros são comparados ao 18 de Brumário de Marx, mas, como síntese deslumbrante de análise classista, narrativa política e imaginação histórica, nenhum jamais chegou a se aproximar dele, até surgir essa triunfal performance do Brasil. O tom de Singer, frio e sóbrio, sua paixão contida em vez de expressa, é bem diferente do brilho da ironia cáustica e da intensidade metafórica de Marx, e os eventos em questão têm sido, pelo menos até agora, menos acentuados ou mesmo ensanguentados. Mas o tipo de inteligência aplicada e o seu escopo são similares.
O enigma que Singer pretende resolver é o porquê de, do ápice de seu sucesso durante a presidência, a fórmula do poder que Lula construíra se desintegrou em um desastre de tal magnitude. Seu argumento inicial é que não se tratava de um dos casos já conhecidos de entropia no cargo. Dilma não foi apenas uma imitação desajeitada de seu antecessor, que se atrapalhou na busca das mesmas políticas. Ela teria seus objetivos próprios que diferiam dos dele. Esses foram caracterizados por Singer como uma combinação de “desenvolvimentismo” e “republicanismo”. O primeiro, ele argumenta, foi uma tentativa de acelerar o crescimento por meio do uso mais ambicioso das ferramentas disponíveis para o Estado nacional: controle das taxas de juros, empréstimos públicos, incentivos fiscais, direitos sobre importação, gastos sociais — em suma, um conjunto intervencionista de políticas econômicas maiores do que o PT já havia tentado até então. No segundo, ele quer dizer republicanismo no sentido clássico, conforme reconstruído por J.G.A. Pocock: isto é, a crença dos séculos XVII e XVIII de que a corrupção era um perigo perpétuo para a integridade do Estado e a segurança dos cidadãos, contra a qual a vigilância era uma condição de liberdade. O projeto de Lula foi um reformismo fraco: Dilma almejava uma versão mais forte.
Seu efeito, no entanto, foi — o segundo argumento de Singer — a derrubada de dois pilares básicos do sistema de Lula, sua aliança com capital financeiro e seu pacto com o clientelismo. Com o objetivo de estimular o investimento, a “nova matriz econômica” de Dilma buscou favorecer a indústria doméstica — que há muito se queixava das altas taxas de juros brasileiras, da supervalorização da moeda, da fraca proteção aos fabricantes locais e dos custos dos insumos energéticos — na crença de que os interesses desses divergiriam dos interesses de bancos, corretores e especuladores, fundos de pensão que se beneficiavam daquelas práticas. Mas no Brasil, os diferentes setores do capital estavam entrelaçados, íntimos demais para que essa estratégia de separação funcionasse. Aquilo foi denunciado na mídia como intromissão, estatismo anti-liberal, e os empresários logo marcaram posições contra ela. Iniciativas de mais investimentos não se concretizaram, o crescimento diminuiu, os lucros caíram, as greves multiplicaram-se. As federações de empregadores tornaram-se extremamente hostis.
Enquanto isso, recusando-se a se engajar na tradicional política brasileira do “toma lá dá cá” e expurgando do seu governo os ministros mais descaradamente comprometidos, Dilma estava antagonizando forças no Congresso do qual dependia sua maioria na legislatura, para quem a corrupção era uma condição de existência. Após uma análise minuciosa das frações de capital, Singer situa essas tensões em um panorama marcante e de longa duração da estrutura partidária no Brasil, desde o período pós-guerra até o presente. Nesse período, três componentes persistiram. De 1945 a 1964, quando os militares tomaram o poder, havia um partido na direita liberal do espectro, representando banqueiros, as classes médias urbanas e uma seção da oligarquia rural, a UDN; um partido popular à esquerda do espectro, o PTB, com um apelo à classe trabalhadora e aos pobres urbanos; e um partido intermediário, o PSD, baseado em sua maior parte na classe latifundiária tradicional e seus dependentes no campo e em pequenas cidades do interior. Singer apelida este último de “partido do interior”, uma força ameboide sem identidade ideológica distinta, rastejando para qualquer direção temporária, democrática ou antidemocrática, que o poder e suas benesses impunham. Vinte anos depois, após a retirada dos militares, este trio reapareceu essencialmente na forma do PSDB, do PT e do PMDB. Nenhum dos dois primeiros poderia governar sem a assistência parasitária do terceiro, com sua ampla rede capilar de funcionários locais e controle quase contínuo da poderosa presidência do Senado. Qualquer indício de republicanismo era um anátema, motivo de execração.
*
E o próprio eleitorado do PT? Embora, desde 1945, um polo de capital e um polo de trabalho fossem claramente discerníveis dentro do sistema político, o conflito entre eles era sempre sobredeterminado por um vasto subproletariado, urbano e rural, cuja existência distorcia o sistema para fora da luta de classes, para uma oposição populista entre ricos e pobres, na qual os pobres ficavam disponíveis para capturas demagógicas ou clientelistas por políticos tanto de cunho conservador ou radical. Em 2006, as políticas sociais de Lula, reduzindo drasticamente a pobreza, fizeram pela primeira vez dessa massa, em sua grande parte subsistindo na economia informal, um bastião eleitoral do PT, herdado por Dilma. Milhões foram retirados de dificuldades agudas e sabiam a quem deviam. Mas, instigado por jornalistas interessados e pela ideologia da época, o regime se vangloriava de sua conquista como a criação de uma nova classe média no Brasil, mesmo que a promoção social da maioria dos afetados era não apenas mais modesta — empregos formais e salários mínimos mais altos, elevando-os a uma posição algo como uma nova classe trabalhadora — mas também mais precária. Politicamente, Singer argumenta, a propaganda oficial se comportava em bumerangue: seu efeito era convidar a identificação com o individualismo consumista da classe média atual, e não com a classe trabalhadora existente.
Uma vez que o crescimento foi se negativando, a mobilidade descendente atingiu muitos daqueles que tinham acabado de ascender. A frustração com essa inversão de expectativas foi particularmente acentuada entre os jovens que haviam se beneficiado da expansão popular do ensino superior, mesmo que indiferente em sua qualidade, o que havia sido outro dos benefícios estendidos pelo PT aos pobres, e que agora descobriram que não tinham acesso aos empregos para os quais foram levados a sonhar. Ali estava a massa combustível que se tornou crítica no grande levante de rua de junho de 2013 — cerca de 1,5 milhão nos protestos em seu auge — o que seria o divisor de águas na sorte de Dilma e seu partido. A análise meticulosa de Singer sobre seus participantes — estatísticas para além dos sonhos nos tempos de Marx — mostraram que 80% daqueles que marcharam nas manifestações tinham menos de quarenta anos de idade. Oitenta por cento tinham estado ou estavam inscritos em alguma forma de ensino superior, contra 13% da população como um todo com um diploma universitário; no entanto, metade tinha renda familiar de não mais do que entre dois e cinco salários mínimos, sendo que abaixo de dois salários é a linha de pobreza efetiva. Aqueles abaixo disso, o subproletariado propriamente dito, eram marginais nos eventos, perfazendo menos de um sexto dos participantes. Decisivo na evolução e nos efeitos dos protestos, no entanto, foi a capacidade do outro terço dos manifestantes, a verdadeira classe média, de conseguir o apoio da metade que acreditava que eram ou aspiravam a fazer parte da classe média, em uma indignação generalizada contra o governo e, além disso, contra a classe política como um todo — ativistas dinâmicos de um nova direita juvenil mobilizando as mídias sociais para uni-los em uma força. Estruturalmente, embora não sociologicamente, pode-se dizer que, na narrativa vívida de Singer, a insurreição de 2013 ocupa uma posição não muito diferente da la pègre na narrativa de Marx de 1848.
Os vencedores que capturaram o movimento e o transformaram em um trampolim para o que se tornaria ataques muito maiores e mais mortíferos ao governo dois anos depois, eram os mais novos estratos da classe média urbana nas cidades do sul do país. Os grandes empresários, a classe trabalhadora e os pobres haviam se beneficiado do governo do PT. Os profissionais liberais, quadros de gerência intermediários, prestadores de serviço e pequenos empresários não. Suas rendas aumentaram proporcionalmente menos que as dos pobres e seu status foi corroído por novas formas de consumo popular e mobilidade social. Formalmente compreendendo o setor “moderno” da sociedade brasileira, essa camada era de tamanho suficiente para exercer por muito tempo um veto a mudanças que tornariam o restante do país algo menos atrasado. Mas, se ela era grande o suficiente para frustrar a inclusão social dos pobres no desenvolvimento nacional, também era pequena demais para ter expectativas de dominar as eleições, uma vez que o sufrágio se estendeu depois da guerra. A tentação, portanto, sempre foi dar um curto-circuito nas eleições com um golpe. Em 1964, grande parte da classe média urbana tinha conspirado com oficiais para lançar um golpe militar. Em 2016, montou-se um golpe parlamentar, derrubando a presidente dentro da estrutura da constituição, em vez de suspendê-la.
A política brasileira tem um caráter meio italiano: sinuosa e traiçoeira. Porém, fica difícil compreender o que aconteceu ao país sem se debruçar a compreender suas formas. Quando Lula deixou o cargo em 2010 — os presidentes do Brasil estão limitados a dois mandatos sucessivos, mas não impedidos de reeleição subsequente - a economia registrava crescimento de 7,5%, a pobreza diminuiu pela metade, novas universidades se multiplicavam, a inflação estava baixa, o orçamento e as contas estavam em superávit e seu índice de aprovação estava acima de 80%. Para sucedê-lo, Lula escolheu sua chefa de gabinete, Dilma Rousseff, que na década de 1960 havia lutado clandestinamente contra a ditadura militar e que nunca havia ocupado ou concorrido a cargos eleitorais antes. Com Lula ao seu lado, ela chegou à vitória com uma maioria de 56%, a primeira mulher a ganhar a presidência. Inicialmente melhor recebida por uma classe média que detestava Lula, por dois anos ela desfrutou de uma estima generalizada por demonstrações de calma e competência. Mas sua herança não era o mar de rosas que parecia. Os altos preços das commodities haviam sustentado o boom de Lula, mas sem alterar significativamente as taxas de investimento e o crescimento da produtividade que eram historicamente baixos no Brasil. Praticamente, logo que Dilma assumiu o cargo, em 2011, o crescimento começou a cair, abruptamente, para 1,9% em 2012. Em 2013, o Federal Reserve dos EUA anunciou que deixaria de comprar títulos, dando início a política monetária de mercados de capitais chamada na época de taper tantrum, que desviou o financiamento estrangeiro para fora do Brasil. O balanço de pagamentos se deteriorou. A inflação chegou. Os anos de prosperidade frondosa estavam terminados.
Politicamente, o governo do PT deu um cheque caução desde o início. Após a redemocratização do país no final da década de 1980, três partidos se destacaram: no centro-direita, o “social democrata” PSDB, lar de grandes empresários e da classe média; no centro, o PMDB teoricamente “democrático”, uma vasta rede de clientelismo nos ambientes rurais e cidades pequenas, que se abrigavam em ninhos locais devido a generosidade federal ou estadual; mais à esquerda, o PT, o único partido que era mais do que uma coleção de notáveis regionais e seus subordinados. Ao lado desse trio, no entanto, o sistema eleitoral brasileiro, de representação proporcional com lista aberta em distritos muito grandes, fez proliferar uma infinidade de partidos menores, sem orientação ideológica: proliferaram mecanismos para extrair fundos públicos e favores para seus líderes. Nessas condições, nenhum presidente jamais liderou seu partido com mais de um quarto das cadeiras do Congresso por meio do qual toda a legislação significativa devia passar, o que tornava as coalizões uma condição de governo e a distribuição de verbas lucrativas uma condição para essas coalizões.
Durante vinte anos, a presidência foi ocupada por apenas dois partidos, o PSDB e o PT. O primeiro, comprometido em entregar o que chamou de “choque de capitalismo” salutar para o país, teve pouca dificuldade em encontrar aliados entre as oligarquias tradicionais do nordeste e os eternos predadores do PMDB. Eles eram aliados naturais de um regime liberal-conservador. Quando Lula chegou ao poder, o PT não quis depender deles. Em vez disso, partiu para construir uma maioria no Congresso a partir do pântano de partidos menores, cada uma mais corruptível do que no outro. Para evitar dar a eles muitos ministérios, o que seria a recompensa financeira habitual pelo apoio, passou a distribuir pagamentos mensais em dinheiro por debaixo do pano. Quando este sistema, o chamado mensalão, foi exposto em 2005, ele pareceu por um tempo que poderia derrubar o governo. Mas Lula permaneceu popular entre os pobres e, ao dispensar assessores-chave e mudar suas alianças para uma dependência mais convencional ao PMDB, no intuito de garantir maioria no Congresso, ele sobreviveu ao alvoroço e, no tempo devido, foi triunfalmente reeleito. Em seu segundo mandato, o PMDB era braço estável de sua administração, desfrutando, em troca, de uma série de indicações satisfatórias, centrais e locais, na máquina do governo. Quando o mandato chegou ao fim, o presidente do PMDB na câmara baixa, Michel Temer, foi escolhido por Lula para ser vice-presidente de Dilma, unindo um veterano de pilhagens de bastidores e intrigas de corredor a uma neófita na política.
Os legados econômicos foram sendo minados primeiro. Em 2013, as classes médias já tinham se azedado com o governo e o aumento de preços já causava tensão popular nas grandes cidades. Lula havia injetado dinheiro - salário mínimo mais alto, crédito facilitado, sistemas de transferências de renda — para os pobres no consumo privado, mas não nos serviços públicos, a maioria dos quais permaneciam muito ruins. No inverno, o aumento das tarifas de ônibus provocaram protestos liderados por jovens militantes de esquerda em São Paulo. A repressão policial amplificou-os em gigantescas manifestações de rua em todo o Brasil. Com o aumento da participação de direita e o apoio da poderosa mídia do país, eles se tornaram rapidamente um "contra todos os políticos" em geral e atingindo o PT em particular. Em quinze dias, os índices de aprovação de Dilma caíram de 57 para 30%. Combinando cortes de gastos e medidas subsequentes e mais baratas de bem-estar social, ela se recuperou nos meses seguintes. Mas no verão de 2014, minas políticas enterradas começaram a explodir. Operações da polícia federal investigando a lavagem de dinheiro em um lava-jato de Brasília revelou uma corrupção generalizada na gigante estatal petrolífera Petrobras, que na época ostentava um das maiores valores de ações do mundo. Uma enxurrada de vazamentos da investigação, aumentada pela mídia, indicava conexões com o PT que retrocediam ao tempo de Lula. Fatos esses que ressonavam em uma atmosfera já altamente carregada, consequência do julgamento público no final de 2012 — sete anos após o fato — dos principais atores do partido no caso do mensalão.
Então, quando Dilma se candidatou à reeleição em 2014, ela enfrentou uma oposição muito mais agressiva do que em 2010. Como antes, foi o candidato do PSDB que chegou à segunda rodada da disputa presidencial contra ela. Em uma campanha combativa, mas desajeitada, na qual ela teve um fraco desempenho nos debates, Dilma conseguiu uma maioria estreita com o compromisso de nunca aceitar a austeridade que ela acusou seu oponente de planejar infligir à população. Mas antes mesmo de assumir o cargo, ela já estava em dificuldades. Talvez pensando em repetir a manobra inicial de Lula ao assumir a presidência, quando começou com rígida ortodoxia econômica para tranquilizar os mercados, expandindo os gastos sociais apenas depois de consolidar as finanças públicas, ela escolheu um executivo bancário da escola de Chicago para o Ministério da Economia para sinalizar uma nova etapa mais regrada. E assim, traiu suas promessas de campanha com contenções mais convencionais que atingiram a renda popular. Tendo alienado sua base à esquerda, ela antagonizou a direita ao tentar impedir que o PMDB continuasse a manter a poderosa posição, desocupada por Temer em 2010, de Presidente da Câmara, posição essa a qual dependia toda a cooperação para a passagem de novas legislações, e isso apenas para ser significativamente derrotada pelo candidato vitorioso daquele partido, Eduardo Cunha. O PT, que havia conquistado apenas 13% dos votos para o Congresso, estava agora extremamente vulnerável no Legislativo.
O PSDB, entretanto, não deixou barato a sua derrota na presidência. Furiosos por terem sido impedidos de triunfar no que entendiam estar garantido, seu líder Aécio Neves apresentou, junto ao Supremo Tribunal Eleitoral, acusações de gastos ilegais contra a campanha vencedora, na esperança de cancelar o resultado e instituir uma nova eleição, na qual - dada a desilusão popular com o curso econômico de Dilma - ele poderia, dessa vez, ter a certeza do sucesso. Mas o PSDB, um conglomerado de figurões bem sucedidos, onde cada um tinha suas próprias ambições, não estavam todos de acordo com ele. O candidato mal sucedido do partido à presidência em 2002, José Serra, agora senador por São Paulo, vislumbrou um caminho diferente para o despejo de Dilma, um que poderia ampliar o apoio à sua expulsão, mas mantendo o controle em suas próprias mãos. A desvantagem da estratégia de Aécio era que ela também ameaçava Temer como o companheiro de chapa de Dilma. Por isso, teve pouco apelo para o PMDB. Serra era mais próximo de Temer; há muito tempo eram companheiros de política em São Paulo. Melhor então lançar o processo de impeachment contra Dilma no Congresso, onde se poderia esperar que Cunha lhes desse uma audiência favorável. O sucesso automaticamente tornaria o presidente Temer e daria a Serra o ponto de partida ideal para sucedê-lo, superando a Aécio na corrida para a presidência.
Temer compreensivelmente começou a esquentar esse plano, e sorrateiramente, os dois articularam movimentos para invocá-lo. Atrás deles estava, ainda mais discretamente, o veterano estadista do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, amigo íntimo e conselheiro de Serra, e que nunca gostou de Aécio. Só restava elaborar melhor o pretexto para o impeachment. Chegou-se a um consenso sobre uma questão técnica: Dilma violou a lei ao adiar pagamentos em contas públicas para torná-los melhores para fins eleitorais. Isso era uma prática de longa data, comum a governos anteriores, e que pouco importava. Mas lá pelos idos do verão de 2015, a paisagem política já havia sido transformada por um escândalo envolvendo as negociatas em Brasília.
*
As investigações da Lava Jato estavam sob a jurisdição do estado do qual o primeiro culpado de nível médio, o doleiro Alberto Youssef, foi capturado: a atípica sociedade provincial de classe média do estado do Paraná, no sul do Brasil. Sérgio Moro, um de seus filhos nativos que havia sido formado e lapidado como assistente no julgamento do mensalão, era o juiz presidente de sua capital, Curitiba. Seu modelo operacional, como havia deixado claro em um artigo publicado uma década antes do início da investigação Lava Jato, era o processo de corrupção “Mãos Limpas”, que destruiu os partidos do governo italiano no início dos anos 90, encerrando a Primeira República [1]. Moro destacou duas características daquela campanha a merecer elogios: o uso de prisão preventiva para garantir delações e vazamentos bem calculados para a imprensa sobre as investigações em andamento para despertar a opinião pública e pressionar os alvos e os tribunais. A dramatização na mídia importava mais do que a presunção de inocência, que — explicou Moro — estava sujeita a considerações de ordem pragmática. Estando a cargo da Lava Jato, ele provou ser um empreendedor excepcional. Sucessivas operações — batidas, ocorrências, figuras algemadas, confissões — receberam publicidade máxima, com denúncias para a imprensa e para a televisão, cada uma cuidadosamente atribuída a um número de operações (até o momento foram 57, resultando em mais de mil anos de prisão) e um nome tipicamente escolhido do imaginário cinematográfico, clássico ou bíblico para efeitos teatrais: Bidone, Dolce Vita, Casablanca, Nessun Dorma, Erga Omnes, Aletheia, Juízo Final, Déjà Vu, Omertà, Abismo etc. Os italianos se orgulham de ter um talento nacional para o espetáculo: mas a administração de Moro deixou seus mentores italianos no chinelo.
Durante um ano, as operações da Lava Jato se concentraram em ex-diretores da Petrobras, encarregados de receber e distribuir enormes subornos. Então, em abril de 2015, eles derrubaram o primeiro quadro proeminente do PT, João Vaccari Neto, seu tesoureiro. Poucas semanas depois, os chefes das duas maiores empresas de construção do país, Odebrecht e Andrade Gutierrez, ambas conglomerados continentais que operam em toda a América Latina, foram levados para interrogatório. Por hora, manifestações em apoio a Moro — clamando por punição do PT e a remoção de Dilma — estavam se construindo, e colocando o Congresso sob cerco. Cunha, ainda formalmente parte da coalizão governista, avançou no sentido de abrir a pauta para o impeachment. Isolada e enfraquecida, Dilma aceitou o conselho de seus ministros petistas para que Lula fosse chamado para tentar salvar a situação. Ele rapidamente começou a aparar as arestas com o PMDB. Ao fazê-lo, de repente e espetacularmente apareceu a novidade de que Cunha tinha milhões de dólares em contas bancárias secretas na Suíça. Ao que ele oferece um pacto de proteção mútua: ele bloquearia o processo contra Dilma se o governo bloqueasse o processo contra ele. Lula exortou a aceitação do acordo e, no nível da cúpula em Brasília, chegou-se a um entendimento. Mas Dilma recusou, e a liderança nacional do PT, sediada em São Paulo, temendo que a notícia do acordo pudesse apenas reforçar a percepção pública de que o partido era amplamente corrupto, instruiu seus deputados a votarem por ações contra Cunha. Em retaliação, ele imediatamente liberou as acusações contra Dilma para a deliberação do Congresso.
Moro, enquanto isso, preparava seu “golpe de misericórdia”. Na primeira semana de março de 2016, a Operação Aletheia apreendeu Lula nas primeiras horas da manhã, levando-o para interrogatório; fotógrafos de imprensa e televisão, avisados com antecedência, desbravavam espaços atrás dele. Ele agora estava sob investigação formal de Lava Jato. Mais sensacionalismo seguiu-se. Um telefonema de Dilma para Lula para discutir as modalidades para nomeá-lo como seu chefe de gabinete em Brasília foi grampeado por Moro e instantaneamente liberado para a imprensa. Uma vez que os políticos de nível ministerial, bem como os membros do Congresso, gozam de imunidade contra essas medidas, a menos que autorizado pela Suprema Corte, houve tumulto. Isso seria simplesmente uma maneira de proteger Lula da prisão. A nomeação de Lula foi cancelada por dois juízes em Brasília, o primeiro, um sujeito verborrágico e abertamente contra o PT no Facebook, o segundo sendo um quadro ligado ao PSDB na Suprema Corte.
A pressão nas ruas para o impeachment já era enorme: em todo o Brasil, 3,6 milhões de manifestantes clamavam pelo despejo de Dilma. No entanto, ainda estava longe de claro que a maioria necessária de dois terços para o impeachment poderia ser alcançada no Congresso. Em pouco tempo, mais uma operação da Lava Jato revelou os cadernos de notas que a Odebrecht mantinha, registrando pagamentos cifrados para o que os rumores diziam ser de cerca de duzentos políticos brasileiros, praticamente de todos os partidos. Com isso, as sirenes de alarme dispararam na classe política. Em questão de dias, um alto agente de poder do PMDB foi gravado dizendo a um colega que era necessário “estancar a sangria”. Como “os caras do Supremo” disseram que isso era impossível enquanto Dilma estivesse no lugar e a mídia em prantos pelo despejo dela, ela deveria ser substituída por Temer imediatamente e um governo de acordo nacional formado, apoiado pela Suprema Corte e pelo exército — ele assim estava conversando com generais. Só dessa forma a Lava Jato poderia ser parada antes de chegar ao PMDB. Em duas semanas, a Câmara votou, Cunha presidindo, pelo impeachment de Dilma. Moro poderia então pegar Cunha, o qual já havia servido ao seu propósito. A Suprema Corte ordenou que o Congresso o dispensasse como orador. No devido tempo, ele foi expulso da Câmara e acabou na prisão. Após o intervalo cabível, o Senado considerou Dilma culpada da acusação aprovada pela Câmara, e Temer assumiu a presidência. No início de 2017, Lula foi preso sob a acusação de corrupção na futura aquisição de um apartamento à beira-mar, do qual ele nunca havia se tornado proprietário. Julgado em Curitiba naquele verão, foi condenado a nove anos de prisão; quando ele apelou, sua sentença fora aumentada para 12. Com o primeiro presidente do partido atrás das grades, a segunda removida desonrosamente do cargo, sua imagem popular na maior baixa de todos os tempos, o naufrágio do PT parecia quase concluído.
A reação ao encarceramento de Lula começou a mostrar que isso não era bem assim. Inimigos no PSDB contaram que ele tentasse o exílio em vez da prisão, com sua fuga para um refúgio selando sua desgraça. Surpresos com a sua estoica aceitação da cadeia, eles não conseguiram imaginar a simpatia que seu aprisionamento poderia despertar. Dentro de alguns meses, as pesquisas mostraram que ele era novamente o líder mais popular do país, estando à frente, mesmo desqualificado como criminoso, da disputa pela presidência em 2018. O apelo pessoal de Lula, no entanto, era uma coisa, o futuro do PT, outro. O partido sofreu um colapso sem precedentes na história do Brasil. Que tipo de cálculo seria necessário para corrigir isso? Em seus anos de poder, o PT pouco fizera para fomentar uma cultura de análise autocrítica; ou reflexão sobre para onde o partido, ou o país, estavam seguindo. Muitos intelectuais foram úteis como uma ponte para a visibilidade pública nos primeiros momentos. Uma vez no exercício do poder, embora muitos — talvez a maioria — continuassem a apoiá-lo, o partido essencialmente os ignorou, num filistinismo míope pelo qual tudo o que importava eram os cálculos eleitorais.
*
Desmerecido e pouco apreciado, o partido possuía um pensador político de primeira linha. Filho de um imigrante judeu austríaco que se tornou um importante economista de esquerda no Brasil, André Singer foi membro fundador do PT em São Paulo em 1980. Começou como jornalista, assumindo uma posição sênior no menos conservador dos dois jornais da cidade, a Folha, antes de se tornar secretário de imprensa e porta-voz presidencial de Lula durante seu primeiro mandato em Brasília, ao final do qual ele pediu demissão para ingressar na carreira acadêmica como cientista político. Em 2012, quando o PT ainda reinava intacto, produziu o primeiro estudo sério da trajetória de seu governo e do apoio social durante o governo Lula. Embora escrito com respeitosa admiração pelo que havia sido alcançado, também tinha calma e clareza sobre a natureza e as causas do “reformismo fraco” que o partido favoreceu e que tinha pouco eco dentro dele. No verão passado, ele publicou uma sequência: “O lulismo em crise: Um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016)”, que — mesmo que haja pouco sinal disso ainda — espera-se que seja recebido com menos silêncio [2]. De vez em quando, em diferentes países, livros são comparados ao 18 de Brumário de Marx, mas, como síntese deslumbrante de análise classista, narrativa política e imaginação histórica, nenhum jamais chegou a se aproximar dele, até surgir essa triunfal performance do Brasil. O tom de Singer, frio e sóbrio, sua paixão contida em vez de expressa, é bem diferente do brilho da ironia cáustica e da intensidade metafórica de Marx, e os eventos em questão têm sido, pelo menos até agora, menos acentuados ou mesmo ensanguentados. Mas o tipo de inteligência aplicada e o seu escopo são similares.
O enigma que Singer pretende resolver é o porquê de, do ápice de seu sucesso durante a presidência, a fórmula do poder que Lula construíra se desintegrou em um desastre de tal magnitude. Seu argumento inicial é que não se tratava de um dos casos já conhecidos de entropia no cargo. Dilma não foi apenas uma imitação desajeitada de seu antecessor, que se atrapalhou na busca das mesmas políticas. Ela teria seus objetivos próprios que diferiam dos dele. Esses foram caracterizados por Singer como uma combinação de “desenvolvimentismo” e “republicanismo”. O primeiro, ele argumenta, foi uma tentativa de acelerar o crescimento por meio do uso mais ambicioso das ferramentas disponíveis para o Estado nacional: controle das taxas de juros, empréstimos públicos, incentivos fiscais, direitos sobre importação, gastos sociais — em suma, um conjunto intervencionista de políticas econômicas maiores do que o PT já havia tentado até então. No segundo, ele quer dizer republicanismo no sentido clássico, conforme reconstruído por J.G.A. Pocock: isto é, a crença dos séculos XVII e XVIII de que a corrupção era um perigo perpétuo para a integridade do Estado e a segurança dos cidadãos, contra a qual a vigilância era uma condição de liberdade. O projeto de Lula foi um reformismo fraco: Dilma almejava uma versão mais forte.
Seu efeito, no entanto, foi — o segundo argumento de Singer — a derrubada de dois pilares básicos do sistema de Lula, sua aliança com capital financeiro e seu pacto com o clientelismo. Com o objetivo de estimular o investimento, a “nova matriz econômica” de Dilma buscou favorecer a indústria doméstica — que há muito se queixava das altas taxas de juros brasileiras, da supervalorização da moeda, da fraca proteção aos fabricantes locais e dos custos dos insumos energéticos — na crença de que os interesses desses divergiriam dos interesses de bancos, corretores e especuladores, fundos de pensão que se beneficiavam daquelas práticas. Mas no Brasil, os diferentes setores do capital estavam entrelaçados, íntimos demais para que essa estratégia de separação funcionasse. Aquilo foi denunciado na mídia como intromissão, estatismo anti-liberal, e os empresários logo marcaram posições contra ela. Iniciativas de mais investimentos não se concretizaram, o crescimento diminuiu, os lucros caíram, as greves multiplicaram-se. As federações de empregadores tornaram-se extremamente hostis.
Enquanto isso, recusando-se a se engajar na tradicional política brasileira do “toma lá dá cá” e expurgando do seu governo os ministros mais descaradamente comprometidos, Dilma estava antagonizando forças no Congresso do qual dependia sua maioria na legislatura, para quem a corrupção era uma condição de existência. Após uma análise minuciosa das frações de capital, Singer situa essas tensões em um panorama marcante e de longa duração da estrutura partidária no Brasil, desde o período pós-guerra até o presente. Nesse período, três componentes persistiram. De 1945 a 1964, quando os militares tomaram o poder, havia um partido na direita liberal do espectro, representando banqueiros, as classes médias urbanas e uma seção da oligarquia rural, a UDN; um partido popular à esquerda do espectro, o PTB, com um apelo à classe trabalhadora e aos pobres urbanos; e um partido intermediário, o PSD, baseado em sua maior parte na classe latifundiária tradicional e seus dependentes no campo e em pequenas cidades do interior. Singer apelida este último de “partido do interior”, uma força ameboide sem identidade ideológica distinta, rastejando para qualquer direção temporária, democrática ou antidemocrática, que o poder e suas benesses impunham. Vinte anos depois, após a retirada dos militares, este trio reapareceu essencialmente na forma do PSDB, do PT e do PMDB. Nenhum dos dois primeiros poderia governar sem a assistência parasitária do terceiro, com sua ampla rede capilar de funcionários locais e controle quase contínuo da poderosa presidência do Senado. Qualquer indício de republicanismo era um anátema, motivo de execração.
*
E o próprio eleitorado do PT? Embora, desde 1945, um polo de capital e um polo de trabalho fossem claramente discerníveis dentro do sistema político, o conflito entre eles era sempre sobredeterminado por um vasto subproletariado, urbano e rural, cuja existência distorcia o sistema para fora da luta de classes, para uma oposição populista entre ricos e pobres, na qual os pobres ficavam disponíveis para capturas demagógicas ou clientelistas por políticos tanto de cunho conservador ou radical. Em 2006, as políticas sociais de Lula, reduzindo drasticamente a pobreza, fizeram pela primeira vez dessa massa, em sua grande parte subsistindo na economia informal, um bastião eleitoral do PT, herdado por Dilma. Milhões foram retirados de dificuldades agudas e sabiam a quem deviam. Mas, instigado por jornalistas interessados e pela ideologia da época, o regime se vangloriava de sua conquista como a criação de uma nova classe média no Brasil, mesmo que a promoção social da maioria dos afetados era não apenas mais modesta — empregos formais e salários mínimos mais altos, elevando-os a uma posição algo como uma nova classe trabalhadora — mas também mais precária. Politicamente, Singer argumenta, a propaganda oficial se comportava em bumerangue: seu efeito era convidar a identificação com o individualismo consumista da classe média atual, e não com a classe trabalhadora existente.
Uma vez que o crescimento foi se negativando, a mobilidade descendente atingiu muitos daqueles que tinham acabado de ascender. A frustração com essa inversão de expectativas foi particularmente acentuada entre os jovens que haviam se beneficiado da expansão popular do ensino superior, mesmo que indiferente em sua qualidade, o que havia sido outro dos benefícios estendidos pelo PT aos pobres, e que agora descobriram que não tinham acesso aos empregos para os quais foram levados a sonhar. Ali estava a massa combustível que se tornou crítica no grande levante de rua de junho de 2013 — cerca de 1,5 milhão nos protestos em seu auge — o que seria o divisor de águas na sorte de Dilma e seu partido. A análise meticulosa de Singer sobre seus participantes — estatísticas para além dos sonhos nos tempos de Marx — mostraram que 80% daqueles que marcharam nas manifestações tinham menos de quarenta anos de idade. Oitenta por cento tinham estado ou estavam inscritos em alguma forma de ensino superior, contra 13% da população como um todo com um diploma universitário; no entanto, metade tinha renda familiar de não mais do que entre dois e cinco salários mínimos, sendo que abaixo de dois salários é a linha de pobreza efetiva. Aqueles abaixo disso, o subproletariado propriamente dito, eram marginais nos eventos, perfazendo menos de um sexto dos participantes. Decisivo na evolução e nos efeitos dos protestos, no entanto, foi a capacidade do outro terço dos manifestantes, a verdadeira classe média, de conseguir o apoio da metade que acreditava que eram ou aspiravam a fazer parte da classe média, em uma indignação generalizada contra o governo e, além disso, contra a classe política como um todo — ativistas dinâmicos de um nova direita juvenil mobilizando as mídias sociais para uni-los em uma força. Estruturalmente, embora não sociologicamente, pode-se dizer que, na narrativa vívida de Singer, a insurreição de 2013 ocupa uma posição não muito diferente da la pègre na narrativa de Marx de 1848.
Os vencedores que capturaram o movimento e o transformaram em um trampolim para o que se tornaria ataques muito maiores e mais mortíferos ao governo dois anos depois, eram os mais novos estratos da classe média urbana nas cidades do sul do país. Os grandes empresários, a classe trabalhadora e os pobres haviam se beneficiado do governo do PT. Os profissionais liberais, quadros de gerência intermediários, prestadores de serviço e pequenos empresários não. Suas rendas aumentaram proporcionalmente menos que as dos pobres e seu status foi corroído por novas formas de consumo popular e mobilidade social. Formalmente compreendendo o setor “moderno” da sociedade brasileira, essa camada era de tamanho suficiente para exercer por muito tempo um veto a mudanças que tornariam o restante do país algo menos atrasado. Mas, se ela era grande o suficiente para frustrar a inclusão social dos pobres no desenvolvimento nacional, também era pequena demais para ter expectativas de dominar as eleições, uma vez que o sufrágio se estendeu depois da guerra. A tentação, portanto, sempre foi dar um curto-circuito nas eleições com um golpe. Em 1964, grande parte da classe média urbana tinha conspirado com oficiais para lançar um golpe militar. Em 2016, montou-se um golpe parlamentar, derrubando a presidente dentro da estrutura da constituição, em vez de suspendê-la.
Desta vez não foram os militares, mas o judiciário, que atuou como suporte para alavancar a reviravolta que este estrato, organizado simplesmente em termos eleitorais, como partido ou conjunto de partidos, não conseguia alcançar. Magistrados, mais próximos em sua carreira e cultura da massa civil da classe média do que os oficiais, eram os aliados mais orgânicos numa causa comum. Discordando das duas caracterizações opostas do papel dos juízes na Lava Jato — ora os destemidos flagelos contra a corrupção, imparcialmente mantendo o estado de direito, ora os cruéis manipuladores com fins políticos partidários — Singer vê suas operações ao mesmo tempo como genuinamente republicanas nos efeitos, mas inconfundivelmente tendenciosas na direção. Republicana: de que outra forma poderia ser descrito o encarceramento dos mais ricos e poderosos magnatas da pátria? Não sem razão, uma das operações da Lava Jato foi batizada, após a resposta indignada de um chefe da Petrobras ao ser preso. — “Que país é esse?” Tendenciosa: de que outra forma poderia ser descrito o direcionamento sistemático no PT, e a preservação de outros partidos até que Dilma fosse derrubada? E isso para não falar dos desabafos de simpatias e antipatias políticas no Facebook, as fotos sorridentes de Moro com ornamentação do PSDB e todo o resto. A contradição era um nó inextricável, entrelaçado com o do próprio PT: os juízes “tendenciosos e republicanos”, o partido “criado para mudar instituições e engolido por elas”.
*
Tendo estabelecido o curso em que Dilma embarcou ao assumir o cargo, os obstáculos econômicos e legislativos em que ele corria, o sistema partidário em que ele se inseria, a matriz de forças de classe confrontando-o e o cerco judicial que, eventualmente, o envolveu, Singer termina com uma narrativa gráfica da sequência de movimentos e contra-movimentos pelos atores políticos individuais nos tumultuados e nublados caminhos rumo ao impeachment. Agora é dada às personalidades sua real importância. As intenções de Dilma eram mais do que honrosas. Ela queria avançar, não apenas preservar os ganhos sociais alcançados pelo PT sob Lula e libertá-los das conivências com as quais haviam sido comprados. Mas, de fácil desgaste político, ela se compensava com uma rigidez, e embora no âmbito particular ela pudesse estar relaxada e cativante o suficiente, em seu ofício ela não tolerava nem críticas nem conselhos. Para Singer, ela deve ser responsabilizada por dois erros fatais e evitáveis, e, em ambos os casos, se recusava a prestar atenção ao seu mentor. A primeira foi sua decisão de concorrer à presidência pela segunda vez em 2014, em vez de se retirar para permitir que Lula voltasse como ele esperava e desejava que fosse feito. Seria culpa da vaidade ou de um orgulho natural da autonomia de seu projeto? A certa altura, Lula admitiu publicamente que seria candidato se houvesse o perigo de o PSDB voltar, como logo aconteceu. Mas a franqueza pessoal não era seu estilo: ele nunca debateu essa questão diretamente com ela. A tradição política no Brasil, como é nos EUA, é de que um presidente em exercício concorre a um segundo mandato e ele assim respeitou.
A segunda acusação contra Dilma foi a de rejeição de qualquer acordo com Cunha para se salvar do impeachment, o que Lula acreditava ser necessário. Para Singer, aí residia uma diferença crucial de caráter. Politicamente, ele observa, Lula se curvaria, mas não quebraria; Dilma iria quebrar ao invés de se curvar. Os chantagistas nunca estão satisfeitos, ela disse: ao ceder eles sempre voltarão para mais. Sem enfatizar isso com palavras demais, Singer fica do lado de Lula. A política como vocação, escreveu Max Weber, requer a aceitação de “paradoxos éticos”. Citando-o, Singer sugere que esse foi um “dever” que Dilma recusou. E assim ele entendeu, porque as consequências de não se dobrar foram graves. Resistindo teimosamente a um acordo, ela abriu a porta para um “retrocesso da nação de proporções imprevisíveis”.
Nessa magistral reconstrução da queda de Dilma, esses julgamentos conclusivos parecem ser questionáveis. Singer, pode-se dizer, é ao mesmo tempo um pouco acrítico e crítico demais em relação a Dilma. O que se pode dizer contra a atribuição a Dilma de um republicanismo explícito, pelo menos no início, foram os dois principais assessores que ela escolheu quando concorreu pela primeira vez à presidência, e os instalou ao seu lado quando venceu. Como chefe de sua campanha e, em seguida, chefe da casa civil em Brasília (o equivalente a primeiro-ministro), estava o político mais notoriamente corrupto nas fileiras do PT, Antonio Palocci, que era quem fazia o brinde aos grandes empresários enquanto foi ministro da Fazenda de Lula, antes que fosse forçado a renunciar depois de um escândalo particularmente feio em 2006. Seu reaparecimento em 2010 foi saudado com deleite pela The Economist, mas logo se deu a notícia de que nesse meio tempo ele havia adquirido uma enorme e inexplicável fortuna em consultorias e operações imobiliárias, e Dilma precisou livrar-se dele. Previsivelmente, essa figura abjeta seria o único líder do PT a transformar-se em delator na Lava Jato.
Depois que ele se foi, João Santana permaneceu ao seu lado: seu conselheiro mais íntimo e, por vários relatos, uma influência crucial em suas decisões. Músico de uma banda que dava suporte a Caetano Veloso e mais tarde um repórter investigativo, antes de se tornar o marqueteiro — uma espécie de gestor de todo tipo de campanhas comerciais e de promoção de marcas — mais bem pago do país, Santana foi colocado no círculo publicitário por Palocci em sua cidade natal e prestou seus serviços em escala internacional; entre seus clientes estava o bilionário saqueador presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Ele durou seis anos com Dilma, antes que a Lava Jato o pegasse por um suborno de US $ 10 milhões que ele havia embolsado nas Ilhas do Caribe. Naturalmente, como todo mercenário, ele também adquiriu a clemência com uma delação. Em ambos os casos, o entendimento de Dilma foi tudo menos republicano. Não sendo ela uma cria do PT, partido do qual ela nunca tinha sido membro antes de se juntar à equipe de Lula, ela não poderia escapar tão facilmente das suas práticas.
Por outro lado, as críticas de que ela prejudicou o partido ao não passar o bastão para Lula em 2014, e de colocar o país em risco ao recusar o pacto com Cunha em 2016, implicam em duas alternativas contrafactuais contra as quais fala a lógica da situação histórica. Se Lula, ao invés de Dilma, tivesse concorrido em 2014, certamente teria vencido por uma margem mais ampla e dificilmente teria feito uma mudança tão abrupta e desastrada em direção à austeridade, alienando os mais pobres. Mas a conjuntura econômica não permitiria a repetição do estímulo que lhe permitiu superar a crise financeira global de 2008 como uma mera “marolinha” no Brasil. O super ciclo das commodities havia acabado, todos os sinais econômicos apontavam para baixo: as medidas defensivas [poison pills] deixadas pelo seu próprio regime estavam se esgotando. Além disso, a tempestade da Lava Jato teria atingido sua presidência com uma força ainda maior do que a de Dilma. Pessoalmente, ele estava muito mais exposto a esse ataque. Não haveria necessidade de recorrer a questões técnicas orçamentárias para um impeachment: teria sido muito mais amplo, com um clamor ainda mais ensurdecedor nas ruas e nas telas do país. Suas tradicionais habilidades políticas em lidar com o Congresso poderiam até ter evitado o destino do qual que ele já havia escapado uma vez antes, durante a crise do mensalão, e no melhor cenário, talvez permitisse que ele capengasse até o final de seu mandato. Mas o preço seriam três anos simplesmente algemado a Cunha em tal ódio moral-político que, com toda a probabilidade, a retribuição às urnas em 2018 teria sido ainda mais devastadora. Havia boas razões para que, não apenas Dilma, mas o próprio PT rejeitasse o conchavo com Cunha. O custo em credibilidade, que já estava tão desgastada, era alto demais, e o saldo bastante minguado.
Já os juízes foram um pouco mais coniventes em tolerar Cunha, enquanto ele segurava as chaves do impeachment, do que o político que eles tinham em vista. O relato de Singer sobre a perspectiva e o impacto dos magistrados de Lava Jato é um modelo de análise fria e calculista. Ainda assim, deixa duas questões em aberto. Republicana ainda que tendenciosa, sim: mas qual seria o equilíbrio final entre elas — apenas de igual efeito? Foram essas, além disso, as únicas duas fundamentações na composição do judiciário brasileiro? O foco de Singer se deu no grupo em Curitiba. Mas ele operava dentro de um sistema legal que o antecedia e o transcendia. Lá, de importância decisiva, foi a relação entre a polícia, os promotores e os juízes. Formalmente falando, um independia do outro. A polícia reúne provas, os promotores apresentam acusações e os juízes pronunciam veredictos (no Brasil, os júris existem apenas para casos de homicídio). Na prática, no entanto, a Lava Jato fundiu essas três funções em uma, promotores e policiais trabalhando sob a supervisão do juiz, que controlava investigações, determinava acusações e proferia sentenças. A negação dos princípios ordinários da justiça em tal sistema, mesmo sem contar a dispensa da presunção de inocência por Moro, é clara: os poderes de acusação e condenação não são mais distinguidos.
Para além desses poderes, foram adicionados outros três. A delação premiada introduziu a prática, estendida dos juízes aos promotores, de ameaçar as pessoas detidas com sentenças pesadas, a menos que elas implicassem outras: na prática, chantagem judicial. A escala de abuso à qual esse poder propicia pode ser vista a partir do tratamento concedido ao magnata mais rico capturado pela Lava Jato. Marcelo Odebrecht foi condenado a 19 anos de prisão por corrupção da ordem de US $ 35 milhões. Uma vez que ele virou informante, estes foram reduzidos para dois e meio e ele foi libertado da prisão sem mais delongas. O incentivo em fornecer quaisquer outras alegações que podem ser úteis para outros casos que o magistrado esteja buscando indiciar é óbvio. Os juízes podem até oferecer perdões. Uma outra facilidade que lhes foi concedida foi a abolição da regra segundo a qual os procedimentos de recursos deveriam ser esgotados antes que um acusado pudesse ser preso.
Por último, mas não menos importante, foi a adoção, essencialmente a partir do julgamento do mensalão, do conceito de domínio de fato — condenação na ausência de qualquer evidência direta de participação em um crime, sob a alegação de que o acusado seria responsável por ele. Essa foi a base sobre a qual o chefe de gabinete de Lula foi condenado por sua posição hierárquica como principal encarregado da administração política em Brasília. Essa noção foi tomada emprestada do princípio de Tatherrschaft, desenvolvido pelo jurista alemão Claus Roxin para crimes de guerra nazistas. Roxin, no entanto, protestou contra o abuso brasileiro: a posição organizacional não era suficiente para o crime como ele definia — tinha que haver alguma prova de um comando. Moro, no entanto, dispensou até mesmo a hierarquia organizacional, ao dispor do domínio de fato para condenar Lula pela pretensão de receber um apartamento da Odebrecht. O valor da propriedade era de US$ 600.000, pelo qual ele foi preso por 12 anos: mais de dois terços da punição da Odebrecht, por menos de 2% da soma pela qual fora acusado. As proporções falam por si só.
*
Em tais casos, esses processados em Curitiba, a combinação de zelo republicano e viés tendencioso identificado por Singer se aplica. Subindo a ladeira judicial para Brasília, onde manda a Suprema Corte, o mesmo já não pode ser dito. Lá, nem o rigor ético nem o fervor ideológico são vistos em qualquer um dos cantos: as motivações são de uma ordem completamente diferente, mais esquálida. Ao contrário de seus equivalentes em qualquer outro lugar do mundo, o Supremo Tribunal Federal combina três funções: interpreta a constituição, atua como o último tribunal de apelação em casos civis e criminais e, crucialmente, é o único autorizado a julgar altos funcionários públicos — membros do Congresso e ministros — que de outra forma gozam de imunidade de ações penais, popularmente conhecida como foro privilegiado, em todos os outros tribunais do país. Seus 11 membros são indicados pelo executivo; sua confirmação pelo legislativo, bem diferente dos EUA, não é nada mais do que uma formalidade. Experiência anterior como magistrado não é necessária: apenas três dos juízes atuais têm alguma. Apenas a prática como advogado ou promotor, acrescida de um punhado de credenciais acadêmicas, é o requisito habitual.
O processo de seleção para a Suprema Corte tradicionalmente se baseia não muito em afinidades ideológicas, mas em conexões pessoais: da safra atual, um é ex-advogado de Lula, outro é compadrio de Cardoso, um terceiro é primo de seu desonrado antecessor, Fernando Collor de Mello. O volume de casos da corte é grotesco: mais de quinhentos por cada ano, alocados para consideração preliminar por sorteio a juízes individuais, cada um investido — e nenhum outro tribunal supremo no mundo apresenta isso — com poder arbitrário para parar ou acelerar um caso como quiserem, atrasando alguns por anos, acelerando os outros apressadamente. Na prática, não há prazos. Quando um caso é liberado para decisão pelo plenário, as audiências não são apenas públicas, mas — outra característica única — são transmitidas ao vivo pela televisão, se o atual presidente do tribunal, que faz a rotação, achar adequado. Em tais sessões, o decoro é, no mínimo, um primor de exibicionismo.
Na época em que a pressão pelo impeachment começava a se acumular, oito dos onze membros da corte tinham sido escolhidos por Lula ou Dilma. Mas como as nomeações raramente eram altamente políticas em sentido partidário, apenas um membro da corte, Gilmar Mendes, o mais chegado de Cardoso, tinha um perfil ideológico bem definido, como um falcão do PSDB. O resto não tinha nem uma cor em particular, ali o egoísmo e o oportunismo contavam em geral mais do que qualquer outro ismo. Mas uma vez que a terceira função do tribunal, o julgamento de políticos, do escândalo do mensalão em diante, adquiria uma importância nunca antes conhecida, aqueles que deviam sua nomeação a Lula e Dilma já estavam empenhados em mostrar sua independência do PT. Foi o primeiro negro da corte, Joaquim Barbosa, colocado lá por Lula, que proferiu sentenças de dureza sem precedentes sobre os quadros do PT no julgamento do mensalão. Mas como os eventos mostrariam, não foi tanto o caso de independência no sentido de uma justiça imparcial, mas a substituição de uma dependência bastante nominal aos patronos por uma submissão mais reveladora à mídia.
Desde o início, o grupo de Curitiba usou vazamentos e plantou matérias na imprensa para, como em curto circuito, impedir processo de correr o devido tempo, condenando alvos antes do julgamento pela opinião pública, de acordo com a sabedoria brasileira — válida em todo o mundo — de que “a opinião pública é opinião publicada”. Tais vazamentos são juridicamente proibidos. Moro os empregou de maneira impune e sistematicamente. Ele pôde fazê-lo, porque a mídia que ele usava como megafone intimidava os juízes da Suprema Corte, que temiam denúncias se reclamassem. Quando Moro foi ordenado por um juiz que, por habeas corpus, ele deveria libertar um diretor da Petrobras que ele mantinha preso, ele foi à mídia, explicando que, se assim o fizesse, deveria também libertar os traficantes de drogas. Seu superior imediatamente recuou. Quando ele quebrou nada menos do que três regulamentos ao gravar e publicar o telefonema entre Lula e Dilma, e recebeu uma fraca reprimenda do mesmo juiz, Moro respondeu que ele havia agido por interesse público, e — já que ele agora estava sendo festejado pela imprensa como um herói nacional — não sofreu nem mesmo um puxão de orelha.
Receosa em se meter nas ilegalidades do andar de baixo, a Suprema Corte não era melhor — por servilismo e competição de interesses próprios — no desempenho de suas tarefas no andar de cima. Se o procurador-geral apresentar acusações contra um membro do Congresso ou o do governo, o tribunal determina se deve ou não realizar um julgamento, e a sua decisão exige a ratificação pelo Congresso. Acusações foram feitas contra Cunha assim que suas contas bancárias na Suíça foram reveladas. O tribunal não se mexeu por seis meses, até que ele detonou o impeachment de Dilma. A partir daí, não apenas aceitou a acusação da noite para o dia, mas — ansioso para ofuscar sua inação — ordenou peremptoriamente seu afastamento como deputado, que não tinha autoridade constitucional para fazer. Como Cunha observou com precisão cínica: “Se era urgente, por que demoraram seis meses?” Quando Delcídio do Amaral, um senador petista, ex-PSDB, foi grampeado discutindo maneiras de libertar um diretor da Petrobras da prisão, o tribunal agiu na velocidade da luz, prendendo-o em 24 horas. Ele deixou escapar que ele tinha bons tramites com os juízes e estava sondando o caso. Assim que ele ofereceu a devida delação, as acusações foram silenciosamente abandonadas e seu mandato foi devolvido ao Senado. Na falta de uma bússola onde os princípios deviam estar norteados, o crítico Conrado Hübner Mendes observou que um tribunal que deveria ser um poder moderador das tensões na constituição, tornou-se — na falta de uma definição melhor — um abscesso que os gera [3].
*
Mantendo-se por menos de 18 meses antes de ser expulsa do Palácio Presidencial, o segundo mandato de Dilma foi um deserto de realizações. A assimilação dele por Temer, entretanto, durando o dobro do tempo, foi muito mais significativa. Agindo com a rapidez e a determinação que deixariam clara a profundidade das elaborações por trás do impeachment, o novo regime aprovou três peças clássicas de política neoliberal em pouco tempo, alterando a constituição econômica do país de uma só vez. Em um mês, a legislação que congelava gastos sociais por vinte anos — sem aumento além da taxa de inflação — já estava diante do Congresso. Tão logo foi aprovada, com uma maioria de dois terços, o código trabalhista foi amplamente descartado: o limite legal de um dia de trabalho foi estendido de 8 para 12 horas; as pausas permitidas para almoço foram cortadas de uma hora para trinta minutos; proteção aos empregados, de tempo integral ou parcial, foi reduzida; obrigações sindicais foram abolidas; além de diversas outras desregulações do mercado de trabalho. Uma terceira lei deu um sinal verde generalizado à terceirização de contratos de emprego e trabalho intermitente. Em seguida, começa a radical reforma previdenciária, aumentando as contribuições e aumentando a idade de aposentadoria, para reduzir os custos da previdência social constitucionalmente exigida em nome da redução da dívida nacional. Como os beneficiários dos pagamentos mais generosos do sistema existente vêm dos altos escalões da burocracia e da classe política, essa proposta é um pouco mais complicada.
Mas antes que isso pudesse chegar a uma votação, Temer esteve por um triz de seguir os passos de Dilma para fora do mandato. Na primavera de 2017, ele foi gravado em uma reunião secreta com Joesley Batista, chefe da empresa de processamento de carne JBS, na garagem do Palácio Presidencial, discutindo uma linha de dinheiro para Cunha — que acabara de ser sentenciado e poderia envolvê-lo em vários esquemas de corrupção — sem saber que seu interlocutor estava colaborando com a polícia. A gravação foi imediatamente transmitida em televisão nacional, gerando um alvoroço sem precedentes. Duas semanas depois, um dos assessores de Temer foi filmado recebendo uma mala contendo 500 mil reais de um emissário de Batista. Para que o Supremo Tribunal agisse de acordo com as acusações que lhe eram impostas pelo procurador-geral, a Câmara deveria autorizar o processo por uma votação de mais de dois terços. Ao custo de muita vergonha, a maioria rejeitou qualquer investigação.
Dois meses depois, o procurador-geral emitiu acusações muito mais amplas a Temer, junto com outros seis líderes do PMDB, três deles já presos — um deles capturado com a maior quantia em dinheiro da história, 55 milhões em notas, em sua casa. Mais uma vez, a Câmara bloqueou qualquer ação. Um ano depois, em outubro de 2018, um terceiro grande escândalo explodiu, com a polícia federal acusando Temer por corrupção de longa data no porto de Santos. Até então, politicamente paralisado por mais de um ano, embora tivesse sobrevivido a todas essas revelações, ele não tinha mais nenhuma agenda. O plano de estabilização convencional que acompanhou suas medidas neoliberais iniciais chegou a encerrar a recessão de Dilma, mas a recuperação foi fraca — crescimento asmático, padrões de vida em queda, 13 milhões de desempregados. Com a credibilidade do próprio Temer abaixo de zero, seu partido indicava o ministro da Fazenda que havia presidido a recuperação, Henrique Meirelles, para presidente em 2018. Ele obteve 1% dos votos. No entanto, esse intervalo silencioso tinha, ao mesmo tempo, aberto o caminho para uma próxima cantilena bem mais estridente.
Mas antes que isso pudesse chegar a uma votação, Temer esteve por um triz de seguir os passos de Dilma para fora do mandato. Na primavera de 2017, ele foi gravado em uma reunião secreta com Joesley Batista, chefe da empresa de processamento de carne JBS, na garagem do Palácio Presidencial, discutindo uma linha de dinheiro para Cunha — que acabara de ser sentenciado e poderia envolvê-lo em vários esquemas de corrupção — sem saber que seu interlocutor estava colaborando com a polícia. A gravação foi imediatamente transmitida em televisão nacional, gerando um alvoroço sem precedentes. Duas semanas depois, um dos assessores de Temer foi filmado recebendo uma mala contendo 500 mil reais de um emissário de Batista. Para que o Supremo Tribunal agisse de acordo com as acusações que lhe eram impostas pelo procurador-geral, a Câmara deveria autorizar o processo por uma votação de mais de dois terços. Ao custo de muita vergonha, a maioria rejeitou qualquer investigação.
Dois meses depois, o procurador-geral emitiu acusações muito mais amplas a Temer, junto com outros seis líderes do PMDB, três deles já presos — um deles capturado com a maior quantia em dinheiro da história, 55 milhões em notas, em sua casa. Mais uma vez, a Câmara bloqueou qualquer ação. Um ano depois, em outubro de 2018, um terceiro grande escândalo explodiu, com a polícia federal acusando Temer por corrupção de longa data no porto de Santos. Até então, politicamente paralisado por mais de um ano, embora tivesse sobrevivido a todas essas revelações, ele não tinha mais nenhuma agenda. O plano de estabilização convencional que acompanhou suas medidas neoliberais iniciais chegou a encerrar a recessão de Dilma, mas a recuperação foi fraca — crescimento asmático, padrões de vida em queda, 13 milhões de desempregados. Com a credibilidade do próprio Temer abaixo de zero, seu partido indicava o ministro da Fazenda que havia presidido a recuperação, Henrique Meirelles, para presidente em 2018. Ele obteve 1% dos votos. No entanto, esse intervalo silencioso tinha, ao mesmo tempo, aberto o caminho para uma próxima cantilena bem mais estridente.
II: Bolsonaro
Em meados de 2016, a deterioração econômica e a corrupção política haviam afundado o regime Petista. Mas no final de 2017, o seu sucessor, o PMDB, havia caído ainda mais nas pesquisas, pelos mesmos dois motivos. Como o PSDB fazia parte do sistema de apoio de Temer, com proeminentes membros do partido no governo, também não conseguiu escapar do mau cheiro — Aécio, seu presidente, também havia sido grampeado exigindo um enorme suborno da JBS e, como Temer, só evitou um julgamento graças à proteção de um congresso lotado de aliados. Nesta paisagem arrasada, Lula — ainda apelando da sentença — permanecia, de longe, o político mais popular do país, e se nada fosse feito quanto a isso, seria o mais provável vencedor na eleição presidencial que se aproximava. Com velocidade sem precedentes — o tempo médio para julgar uma apelação foi reduzido em três quartos para eliminar o perigo — o veredicto não apenas confirmou, mas aumentou sua sentença em janeiro de 2018. Por dois meses, os advogados de Lula conseguiram adiar sua prisão, e nesse suspiro, ele deu um conjunto de três longas entrevistas publicadas imediatamente como um livro: “A verdade vencerá” [4]. O título é enganoso, sugerindo uma refutação das acusações contra ele que são pouco mencionadas em um autorretrato memorável, muitas vezes comovente, de um político de excepcional intuição e inteligência realista — o que explica por que seu retorno ao poder teve tanta resistência nas elites brasileiras.
1. "Considerações sobre a operação Mani Pulite" (Revista CEJ 26, July-September 2004).
Em meados de 2016, a deterioração econômica e a corrupção política haviam afundado o regime Petista. Mas no final de 2017, o seu sucessor, o PMDB, havia caído ainda mais nas pesquisas, pelos mesmos dois motivos. Como o PSDB fazia parte do sistema de apoio de Temer, com proeminentes membros do partido no governo, também não conseguiu escapar do mau cheiro — Aécio, seu presidente, também havia sido grampeado exigindo um enorme suborno da JBS e, como Temer, só evitou um julgamento graças à proteção de um congresso lotado de aliados. Nesta paisagem arrasada, Lula — ainda apelando da sentença — permanecia, de longe, o político mais popular do país, e se nada fosse feito quanto a isso, seria o mais provável vencedor na eleição presidencial que se aproximava. Com velocidade sem precedentes — o tempo médio para julgar uma apelação foi reduzido em três quartos para eliminar o perigo — o veredicto não apenas confirmou, mas aumentou sua sentença em janeiro de 2018. Por dois meses, os advogados de Lula conseguiram adiar sua prisão, e nesse suspiro, ele deu um conjunto de três longas entrevistas publicadas imediatamente como um livro: “A verdade vencerá” [4]. O título é enganoso, sugerindo uma refutação das acusações contra ele que são pouco mencionadas em um autorretrato memorável, muitas vezes comovente, de um político de excepcional intuição e inteligência realista — o que explica por que seu retorno ao poder teve tanta resistência nas elites brasileiras.
 |
| Jair Bolsonaro |
Como governante, o estilo operacional e os credos políticos de Lula eram um só. Ele foi um sindicalista que, no início dos anos 80, aprendeu, como ele disse, a “não fazer exigências do tipo 80% ou nada”. Dessa forma, você acaba sem nada. Ao se tornar presidente de uma enorme e complexa sociedade em 2003, ele sempre esteve ciente de que “eu nunca poderia tratar o país desejando que ele fosse como sou.” O que se seguiu foi “governar é negociar”. Na oposição, você pode ter princípios. Mas uma vez que você vence as eleições, e se você não tem a maioria no parlamento, o que nenhum presidente brasileiro desfrutou por todos esses anos, “você tem que botar seus princípios na mesa para torná-los viáveis.” Isso significava lidar com os adversários e também com os aliados, que queriam — quid pro quo — cargos políticos, acima de tudo. Todo predecessor teve que fazer o mesmo. “Você faz um acordo com quem está lá, no Congresso. Se eles são ladrões, mas têm votos, então ou você tem a coragem de pedir pra eles ou vai perder.” Por esse raciocínio, Dilma deveria ter feito um acordo com Cunha. Não havia alternativa viável.
Mas negociação era uma coisa, e conciliação era outra. “Um governo de conciliação é aquele em que você até pode fazer mais, porém não quer fazer isso. Quando você só pode fazer pouco e acaba fazendo muito, isso é quase o começo de uma revolução — e foi o que fizemos neste país.” Lula fez essas concessões apenas quando a situação exigia. O PT tinha menos de um quinto do Congresso. Se tivessem controle dos governos de 23 estados e a maioria na Assembleia Constituinte, como o PMDB teve em 1988, ele teria concedido menos e realizado muito mais. Mesmo assim, “nós demos ao povo um padrão de vida que muitas revoluções armadas nunca alcançaram — e em apenas oito anos”. Ele terminou com os seus índices de pesquisas de opinião nos céus. Mas isso em si não foi motivo de orgulho. “O que mais me orgulha é de ter mudado a relação do estado com a sociedade e do governo com a sociedade. O que eu queria alcançar como presidente era que os mais pobres do país pudessem se imaginar no meu lugar. Foi o que eu fiz.”
É uma afirmação que impressiona. A grandeza de mente e o sentimento de Lula, assim como sua agilidade, aparecem de maneira vívida em todos os registros. Já as autocríticas não. Teria ele escolhido um sucessor errado? Escolheu Dilma porque era uma chefa firme e eficiente, que lhe deu paz e tranquilidade no palácio presidencial. Ele sabia que ela era politicamente inexperiente, mas — sabendo que era mais instruída do que ele — acreditava que ela ainda aprenderia; só mais tarde ele percebeu que ela não gostava de política. Mas ele não estava errado por tê-la selecionado. O que passa batido nos depoimentos é a provável suposição de que, precisamente por ser novata, Lula poderia controlá-la melhor do que qualquer outro quadro experiente do PT. Nem, mais significativamente ainda, há qualquer senso de que os métodos de aquisição de apoio mercenário no Congresso impuseram não apenas limites sobre o que ele poderia fazer (o que ele admite), mas também custos para seu partido, que por sua vez foi infectado por eles (o que ele não admite). Projetado no plano da política nacional, o modelo de negociação econômica que ele trouxe de sua origem sindical perdeu sua inocência e criou ilusões. Acordos salariais não envolvem subornos aos patrões. E muito menos, quando o poder está em jogo, se tem garantias de que os adversários não irão partir para o tudo ou nada.
Em uma nota final pungente, quando Lula declarou que, se ele voltasse ao poder, faria mais — iria além — do que havia feito antes, e seus oponentes sabiam disso, ele foi perguntado se ele achava que um retorno era possível. Isso ocorreu cerca de um mês antes de começar sua sentença. Esta foi sua resposta melancólica:
Até o fim, Lula acreditou que seria possível um acordo que permitisse que ele voltasse a concorrer: foi assim que as negociações terminaram. Ele havia fatalmente subestimado seus inimigos. Eles estavam determinados a eliminá-lo. Em abril de 2018, um pedido final de habeas corpus, que o teria permitido concorrer à presidência, chegou à Suprema Corte. A constituição brasileira declara que nenhuma condenação criminal pode ser executada até que seja definitiva — isto é, até que todas as instâncias de apelação tenham sido esgotadas. O comandante do exército alertou que conceder-lhe habeas corpus ameaçaria a estabilidade do país, e que era o dever institucional das forças armadas defendê-la. Os juízes cumpriram seu dever com entusiasmo, derrubando o princípio constitucional por uma votação de seis a cinco para barrar a candidatura de Lula.
Com a arena desimpedida, o provável candidato da presidência se tornou o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, governador de longa data de São Paulo. Uma dessas figuras de madeira sem carisma, que já havia perdido contra Lula em 2006, mas estava menos comprometido com o apoio a Temer do que com seus rivais no partido e ainda gozava de sólido apoio dos empresários. O PT ficou paralisado, incapaz de entrar no ringue, pois ainda insistia, apesar da evidente impossibilidade, que Lula ainda era seu candidato. Na largada, um forasteiro liderava com um modesto apoio de 15%: Jair Bolsonaro, um lobo solitário tão isolado que recebeu apenas quatro votos dos 513, quando concorreu à vaga de Cunha depois que ele caiu. Essa marginalidade no Congresso não era, no entanto, necessariamente uma desvantagem na disputa pela presidência. Nunca tendo pertencido a nenhum dos principais partidos — vagando entre sete outros menores — e nem ocupando nenhum cargo de governo, Bolsonaro não foi manchado ou culpado pela dificuldade econômica ou exposições à corrupção, e ficou livre para atribuir a culpa da primeira à segunda, atacando assim a toda a classe política por ambas. Mas seus elogios à ditadura de 1964-85 e seus torturadores e demais vitupérios em geral apareciam como desvantagens notáveis, de modo que geralmente se supunha que, uma vez iniciada a campanha, ele seria relegado a apenas mais um dos demais.
Alckmin, em contrapartida, tinha não apenas o PSDB, mas rapidamente todo o chamado centrão, o pântano partidário de tamanho médio do qual Lula reclamava, e que lhe deu metade de todo o tempo de TV atribuído a propaganda partidária — que, no passado, foi um bem inestimável. Com isso, era amplamente esperado que ele superasse Bolsonaro e outros rivais em potencial. Sete debates na televisão, com todos os candidatos, foram agendados assim que a campanha começou. A partir de agosto, eles expuseram a desvantagem de Bolsonaro nessa mídia: mal preparado e pouco à vontade, ele era ineficaz. Quanto mais ele era exposto a ela, mais desidratado ele pareceria. Na primeira semana de setembro, no entanto, esse perigo foi repentinamente suspenso. Esfaqueado por um homem mentalmente doente em um comício regional e levado ao hospital para uma operação de emergência, ele passou o resto da eleição na segurança da sua cama de recuperação, protegido não apenas dos debates ou entrevistas, mas da demolição que os diretores de Alckmin estavam preparando nos seus comerciais de televisão — a simpatia por uma vítima que quase perdera a vida agora impedia qualquer coisa assim tão insípida.
O PT, por sua vez, já vinha perdendo meses em manifestações fúteis de que Lula ainda seria seu candidato, sem uma presença sequer simbólica nos primeiros debates. Foi apenas cinco dias após o esfaqueamento de Bolsonaro que o partido acordou para a realidade e declarou um candidato capaz de concorrer. Sua escolha foi ditada por Lula. Fernando Haddad foi durante seis anos ministro da educação e foi amplamente considerado um sucesso, responsável por uma das maiores conquistas do período do PT, a expansão do sistema universitário e seu acesso pelos pobres. Jovem e gentil, ele poderia ter sido um sucessor muito melhor e mais lógico em 2010 do que Dilma. Mas havia três pontos contra ele: ele era de São Paulo, onde pesos pesados mais velhos e poderosos do PT, protetores de suas precedências, dominavam; ele veio da esquerda do partido; e, em sua origem, ele era um acadêmico — formado em filosofia e economia, ensinando ciência política — entre sindicalistas que desconfiavam de professores.
Em 2012, Haddad foi eleito prefeito de São Paulo. Ele logo caiu em desgraça com Dilma, que se recusou a ouvir seu apelo para elevar os preços da gasolina, em vez de infligir tarifas de ônibus mais altas na cidade, o que desencadeou os protestos de 2013 que começaram a ruína dela e encerraram as perspectivas dele de reeleição. Continuou sem nenhuma base significativa dentro do PT, cujos dirigentes desconfiavam dele. Já em 2003, em um artigo profético escrito à medida que o PT assumia o poder, ele advertiu sobre o perigo de que, em vez de arrancar o patrimonialismo profundamente enraizado do Estado brasileiro, o partido pudesse ser engolido por ele. O Brasil não era, contrariamente às concepções de Cardoso e outros, um cenário em que o capitalismo moderno fez uso dos arcaísmos da antiga sociedade escravista, mas o contrário: um sistema oligárquico arcaico que se apropria do capitalismo moderno para preservar o padrão tradicional de poder pela saturação da autoridade pública com seus interesses privados. Em 2018, em meio ao naufrágio patrimonial que havia tomado o PT, a perspicácia e a honestidade de Haddad se destacaram e, sabendo que ele era limpo e imaginativo, Lula o impôs ao partido.
A campanha que se seguiu foi estranhamente assimétrica. Começando tarde, Haddad estava preocupado com as circunstâncias de sua nomeação. Faltando menos de um mês para o primeiro turno da eleição, ele teve que estabelecer um projeto de nação próprio contra as acusações de que ele era um mero fantoche de Lula, ao mesmo tempo em que desenhava da maneira mais eficaz possível a continuação da popularidade e prestígio de Lula. Rapidamente ficou claro que ele e Bolsonaro se enfrentariam no segundo turno, mas não houve confronto entre os dois. Haddad percorreu o país, e dirigia-se a multidões, enquanto Bolsonaro estava em casa, twittando. Com duas semanas restando para o primeiro turno, eles estavam nivelados nas previsões para o segundo. Então, nos últimos dias, Bolsonaro subiu repentinamente, com uma vantagem que fechou em 46% a 29%. Com uma diferença tão grande assim, a segunda rodada já ficava previsível. O establishment brasileiro já fechava com o futuro vencedor. Haddad lutou bravamente, diminuindo a distância. Mas o resultado final não deixou dúvidas da escala do triunfo de Bolsonaro. Ganhando por 55% a 45%, ele tomou todos os estados fora do reduto do PT no nordeste; levou em todas as grandes cidades do país; todas as classes sociais, com exceção daquela pior, vivendo com renda inferior a dois salários mínimos; todas as faixas etárias; e ambos os sexos — apenas na faixa entre 18 e 24 ele não conseguiu a maioria dos votos femininos. Em todo o país, a direita jubilava nas ruas. Mas não houve grande corrida as urnas. O voto é obrigatório no Brasil, mas perto de um terço do eleitorado — 42 milhões de votantes — optaram por ficar de fora, a maior proporção em vinte anos. O número de votos inválidos foi 60% maior do que em 2014. Alguns dias antes, uma pesquisa de opinião perguntou aos eleitores seu estado de espírito: 72% responderam “desanimados”, 74% “tristes”, 81% “inseguros”.
Naquela última resposta estava, combinando todas as probabilidades, a chave para a limpa de Bolsonaro. A recessão certamente foi decisiva no derretimento do apoio ao PT desde 2014, e a corrupção, que não importava para os pobres quando seus padrões de vida estavam subindo, importou quando eles estavam em queda. Os dois estavam diretamente conectados nas representações televisivas noturnas de enormes esgotos de cédulas — no discurso da Lava Jato, dinheiro roubado de hospitais, escolas e praças públicas. Mas as reações populares subjacentes eram insegurança física e existencial. Notoriamente, a violência cotidiana — tradicional no nordeste feudal, moderna desde a chegada do tráfico de drogas no Sudeste — levando sessenta mil vidas por ano, uma taxa de homicídio superior à do México. A polícia é responsável por 20% a 25% dessas mortes. Menos de 10% dos assassinatos são investigados. No entanto, as prisões estão abarrotadas: 720.000 pessoas aprisionadas. Dois quintos dos presos, sob prisão provisória, aguardando julgamentos que podem levar dois, três ou mais anos. Quase metade da população do país é branca; 70% dos assassinados e 70% dos presos não são. Com o tráfico vieram gangues, entre as mais poderosas do mundo. Em 2006, a maior delas, Primeiro Comando da Capital (PCC), fechou parte de São Paulo em uma revolta, dirigida a partir das celas de prisões por seus líderes, contra a polícia. Mas com a disseminação do tráfico de drogas, o crime de rua que é artesanal e não organizado também proliferou. Bem poucas famílias de classe média ainda não tiveram prolemas com isso. Mas eles ainda estão melhor protegidos: onde os assaltos com armas e facas são mais comuns, são pobres roubando pobres.
*
Nesta selva, a polícia é o mais implacável dos predadores: não há crime grande sem que ela cumpra sua parte. Divididos em ramos “militar” e “civil” distintos, numa proporção de cerca de três para um, elas são forças estaduais, não federais. Juntamente com elas, as “milícias” informais são compostas por ex-policiais que agem como guardas de segurança ou se empenham no tráfico de drogas. O pequeno corpo de polícia federal — um décimo do tamanho da polícia militar à disposição dos governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro — é reservado em grande parte para o controle de fronteiras e o crime do colarinho branco. Promoções dependem das taxas de encarceramento, assistidas por leis que não mais distinguem a venda e o consumo de drogas, nem exigem testemunhas para apreensões em flagrante no local, oferecendo um caminho rápido para a criminalização da pobreza, como jovens e negros — pardo ("mestiço") e preto ("negro") com pouca distinção — são apanhados e destinados às prisões, onde há o dobro de prisioneiros do que vagas. Como a miscigenação era historicamente tão difundida, impossibilitando a linha divisória ao estilo “uma única gota”, o padrão do racismo do Brasil difere do americano, mas que não é menos brutal. Combinado com uma urbanização muito rápida, impulsionada tanto pela expulsão dos camponeses da terra como pela atração das luzes da cidade, criando ambientes de enorme desigualdade com pouca ou nenhuma estrutura de recepção, seu efeito foi deslocar o conflito social para a violência desorganizada. Para os jovens negros, o crime pode ser uma tentativa desesperada de reconhecimento, uma arma, um passaporte para a dignidade: armas de fogo, alugadas por algumas horas e apontadas para a cabeça de um motorista ou transeunte torna-se um meio de forçar as pessoas a olhar, ao invés de evitar, aqueles em geral tratados como invisíveis. Sucessivos presidentes, dispensados da responsabilidade de segurança pública, uma vez que esta continua a ser atribuição dos governadores, tiveram pouco incentivo para mudar o que constitui um bom pretexto para inação. No máximo, podiam declarar um estado de emergência e enviar tropas para ocupar as favelas, como um temporário exercício de relações públicas, deixando muito pouco rastro.
E na direção das classes populares, sendo esta a intersecção e a combinação de um ambiente de violência cotidiana, tem sido ventilada uma desintegração das normas de vida costumeira, familiar e sexual, não apenas pelo tráfico de drogas, mas pela mídia — a televisão, seguindo os modelos norte-americanos, jogando as antigas restrições ao sabor dos ventos. As mulheres são as principais vítimas. O estupro é tão comum quanto o assassinato no Brasil: mais de sessenta mil por ano, cerca de 175 ao dia — e o número registrado duplicou nos últimos cinco anos. Em meio a tudo isso, as ansiedades econômicas são as mais intensas e permanentes — inseguranças nos níveis mais fundamentais, como por comida e abrigo. Em tais condições, um desejo desesperado por ordem tem sido cada vez mais atendido pela religião pentecostal, suas Igrejas oferecendo uma estrutura ontológica para dar sentido às vidas no limite da existência. Sua marca registrada é uma teologia não de libertação, mas de “prosperidade” como meio de salvação terrena. Com muito trabalho, autodisciplina, comportamento adequado e apoio comunitário, os crentes podem melhorar a si mesmos — e pagar dízimos para a organização pastoral que os ajuda. Normalmente, as Igrejas neoprotestantes também são corporações financeiras obscuras, que fazem milionários os seus principais ministros. Em 2014, os rebanhos evangélicos no Brasil somavam cerca de oitenta milhões. As empreitadas pentecostais já eram um poder nessa terra; um quinto dos deputados no Congresso achou vantajoso declarar uma afiliação a elas. Quatro anos mais tarde, no entanto, as condições em que seguiam curso foram alteradas. O sucesso da teologia da prosperidade coincidira com os anos do boom da presidência de Lula, dando credibilidade ao seu otimismo de elevação material. Em 2018, a promessa de melhoria constante desapareceu. Para muitos, tudo agora parecia estar desmoronando.
Em nenhum outro lugar essas tensões foram mais intensas do que na segunda cidade do Brasil. O Rio, com metade da população de São Paulo, tem mais que o dobro da taxa de homicídios. Em grande parte, isso se deve ao grau incomparável de controle em toda a cidade de São Paulo — uma cidade construída em um planalto — exercida pela gangue paulista dominante, o PCC. Lá, tem-se a posição de desencorajar pequenos ataques — que complicam o manejo ordenado do tráfico de drogas de alto valor — com mais armas pesadas à sua disposição. A topografia do Rio — uma faixa estreita e sinuosa de terras costeiras segmentadas por montanhas cobertas de florestas que se projetam para praias, favelas brotando em seus interstícios, muitas vezes coladas com bairros ricos — dificulta esse poder centralizado. Ali, gangues rivais empreendem guerras territoriais ferrenhas, sem se importar com as baixas de meros espectadores, e em meio a níveis mais altos de pobreza, um comércio de armas mais denso multiplica o caos aleatório dos assaltos individuais. No início de 2018, para impedir a violência, Temer enviou o exército — e lá ele permaneceu, como no passado, sem nenhum efeito duradouro. Nesse ambiente, o PT nunca conseguiu criar raiz, ainda menos o PSDB ou qualquer outra configuração partidária estável. Todos os três últimos governadores do estado estão presos ou sob custódia por corrupção. O que passou a ter influência política, com um controle mais extenso do que em qualquer outra cidade grande, foram as Igrejas evangélicas. Cunha, por muito tempo o político dominante do Rio, era um autodenominado pastor ligado à Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal. Seu atual prefeito é um bispo da rival Igreja Universal do Reino de Deus e sobrinho de seu chefão, Edir Macedo, a paródia brasileira (muito mais poderosa) do Reverendo Moon.
Bolsonaro é um produto desta placa de petri. Ele nasceu em 1955 no interior de São Paulo, mas sua carreira se desenrolou inteiramente no Rio, onde aos 18 anos, na época da ditadura, ele entrou em uma academia militar próxima à cidade, treinando como paraquedista. Alcançando, dentro de dez anos, o posto de capitão, em 1986 publicou um artigo queixando-se de baixos salários no exército e foi preso por indisciplina. Uma vez solto, ele planejou uma série de pequenas explosões em vários quartéis para instigar descontentamento material nas fileiras. Provavelmente, porque ele gozou de alguma proteção de oficiais superiores em solidariedade com seus objetivos, se não a seus métodos, uma investigação entendeu que as evidências contra ele — que incluíam mapas desenhados com sua letra — eram inconclusivas. Mas ele foi forçado a se aposentar com apenas 33 anos. Cinco meses depois ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Dentro de outros dois anos, ele saltou para o Congresso com os votos da Vila Militar, uma área no oeste da cidade construída para soldados e suas famílias, contendo a maior concentração de tropas na América Latina, e da zona ao redor da academia militar ao sul da cidade onde ele tinha sido cadete.
Em Brasília, Bolsonaro estaria logo pedindo um regime de exceção e o fechamento temporário do Congresso, e no ano seguinte — isso foi em 1994 — declarou que preferiria “viver em um regime militar do que morrer nessa democracia”. Nas duas décadas seguintes, sua carreira parlamentar consistiu em grande parte em discursos exaltando a ditadura militar e as forças armadas; pedindo a pena de morte, uma redução da maioridade penal, acesso mais fácil a armas de fogo; e a atacar esquerdistas, homossexuais e outros “inimigos da sociedade”. Ele retornou seis vezes, sua base eleitoral nos quarteis e seus distritos mantinha-se praticamente no mesmo nível — cerca de 100.000 votos — até 2014, quando ela subitamente quadruplicou. O salto, pouco notado na época, foi mais do que um efeito geral da crise econômica, embora claramente levantado por ela. A antipatia pelo PT — antipetismo — era uma forte influência na cultura política brasileira como um contraponto da classe média à ascensão do PT, intensificada quando a mídia (sobretudo a Veja, a principal revista de notícias do país) instigava indignação pela corrupção para impulsionar a campanha do PSDB para a conquista da presidência. Mas ninguém poderia competir com Bolsonaro pela virulência nessa frente. Além disso, aprendeu algo com a revolta urbana de 2013 que o PSDB não entendeu. Ali, jovens ativistas de uma nova direita em São Paulo — muito mais à frente que seus pares mais velhos ou mesmo da classe política em geral — haviam sido pioneiros no uso das mídias sociais para que as mobilizações se convertessem em vastas manifestações contra o governo. Eles eram neoliberais radicais, o que Bolsonaro não era, e havia pouco contato entre eles. Mas ele pôde ver o que haviam conseguido e também estabelecer sua própria base de operações pessoal no Rio antes de qualquer concorrente. No final de 2017, ele já estava muito à frente do resto, com sete milhões de seguidores no Facebook, número que era o dobro do principal jornal do país.
O sucesso da imagem que ele projetou nesse meio foi um reflexo não só da violência de seus pronunciamentos. A impressão de Bolsonaro dada pela cobertura da imprensa no exterior, de um fanatismo feroz ininterrupto, é enganosa. Sua personalidade em público é mais ambígua que isso: grosseira e violenta, certamente, mas com um lado jocoso e brincalhão, capaz de um bom humor popular, às vezes até autodepreciativo, distante daquele olhar carrancudo de Trump, com quem agora é muitas vezes comparado. Seu passado era menos penoso do que o de Lula — seu pai, um dentista sem a devida licença, exercia seu ofício de uma pequena cidade a outra — mas era bastante plebeia pelos padrões da elite brasileira. Embora ele esteja agora bem de vida (é dono de cinco propriedades), um toque de homem comum vem naturalmente. Seu carisma flui especialmente entre os jovens, tanto entre os populares quanto nos mais instruídos.
Casado três vezes, Bolsonaro tem quatro filhos com suas duas primeiras esposas e uma filha (“uma fraquejada”, na piada dele) com sua terceira, Michelle, voluntária de uma dissidência da Assembleia de Deus, cujo líder televangelista, o terceiro pastor mais rico do Brasil (fortuna estimada em US$ 150 milhões), celebrou o matrimônio do casal. Depois que ele foi investigado pela polícia federal, ela entrou para uma outra, “Igreja Batista Atitude”, perto de sua casa. Apesar da origem católica, Bolsonaro garantiu as melhores credenciais evangélicas, viajando com um pastor para ser batizado em Israel. A família é sua fortaleza política. Ao contrário da família Trump, os três filhos mais velhos de Bolsonaro fizeram carreiras eleitorais bem-sucedidas: um é agora deputado na Assembleia do Rio; outro, em São Paulo, o deputado mais votado da história brasileira; o terceiro é vereador no Rio. Eles estão frequentemente ao redor dele, como uma mistura de assessores e guarda-costas, enquanto Michelle é sua guardiã do mundo exterior.
Embora fosse um solitário de poucos amigos no Congresso, Bolsonaro compreendeu a necessidade de ter aliados para alcançar a presidência e mostrou que tinha as habilidades para adquiri-los. Para ser seu companheiro de chapa, ele escolheu um general de cinco estrelas, Hamilton Mourão, que acabara de se aposentar depois de ter se exposto demais: atacara abertamente o governo de Dilma; declarou que, se o Judiciário não conseguisse restaurar a ordem no Brasil, os militares deveriam intervir para fazê-lo; e fez aflorar a ideia de um “autogolpe” por um presidente em exercício, se isso for necessário. (Em outro comentário ele observou que o país precisava melhorar seu caldo, já que os índios eram indolentes, os negros eram malandros e os portugueses eram apegados a privilégios.) Considerando que a base política primária de Bolsonaro sempre foi a militar, a escolha de Mourão foi lógica e bem recebida no exército. Mas ele também precisava tranquilizar os empresários, desconfiados dele não apenas como um curinga, mas como um congressista com um registro consistente de votação “estatista”, um oponente das privatizações e relutante de investimentos estrangeiros. Assim, com um sorriso de franqueza envolvente, ele se confessou ignorante da economia, embora capaz de aprender com aqueles que conheciam melhor, e encontrou em um economista seu futuro mentor.
Paulo Guedes foi treinado em Chicago, ensinou no Chile na época de Pinochet e retornou ao Rio como um financista de sucesso. Ele não era bem visto por seus colegas economistas e nunca teve muito trabalho acadêmico no Brasil, mas havia fundado o maior banco privado de investimentos do país, o BTG Pactual, e fez fortuna com isso, partindo para outros empreendimentos bem antes que fosse pego em investigações da Lava Jato. Um neoliberal puro-sangue, seus principais remédios para os males econômicos do Brasil são a privatização de todas as empresas estatais e bens para pagar a dívida nacional e a desregulamentação de todas as transações à vista. Com promessas como essas — mesmo que alguns estivessem céticos de que elas poderiam ser facilmente implementadas — o Capital tinha pouco a reclamar. Com os mercados financeiros enquadrados; a segurança e a economia atendidas: só faltava uma resposta à corrupção. A caminho da vitória após o primeiro turno da eleição, Bolsonaro despachou Guedes para trazer Moro a bordo. Ele precisou de pouca persuasão: dentro de alguns dias do segundo turno, Bolsonaro anunciou que Moro aceitara seu convite para se tornar ministro da Justiça do novo governo. Os magistrados da Mani Pulite, com a intenção de limpar o sistema político italiano, acabaram com os partidos dominantes da Primeira República e ficaram chocados ao descobrir que haviam instaurado Berlusconi. No Brasil, o juiz estrela da Lava Jato, depois de ter conseguido o mesmo, ficou feliz em se juntar a uma infâmia, em várias medidas, análoga.
*
Iniciado em janeiro, o novo governo marca uma ruptura mais radical com a era do PT, além do que jamais imaginaram os responsáveis pela queda de Dilma, com seus próprios partidos severamente impopulares nas pesquisas. Um elemento central dessa composição é o retorno das forças armadas à frente da arena política, trinta anos após o fim da ditadura militar. Nenhum ajuste institucional foi necessário. Na década de 1980, a democracia brasileira não foi arrancada das mãos dos generais pela revolta popular, tendo a soberania parlamentar sido devolvida pelos próprios generais, quando estes consideraram cumprida sua missão: erradicar qualquer ameaça à ordem social. Não houve acerto de contas com os conspiradores e torturadores de 1964-85. Não somente sua imunidade de qualquer acusação ou absolvição por lei de qualquer coisa que fizeram foi assegurada, como também a derrubada da Segunda República foi sancionada constitucionalmente com a legalização de seus governantes como presidentes regulares do Brasil e a aceitação da legislação introduzida por eles como continuidade jurídica normal com o passado. Em todo os casos, as tiranias sul-americanas das décadas de 1960 e 1970 anistiaram os crimes dos militares com a condição de se retirarem para os quartéis. Em todos os outros países, essas anistias foram parciais ou completamente anuladas quando consolidada a democracia. Somente no Brasil não foi assim. Em todos os outros países, entre um a cinco anos após a redemocratização, uma Comissão foi criada para examinar o passado. No Brasil, levou 23 anos para uma ser aprovada na Câmara de Deputados e nenhuma ação foi executada contra os criminosos nela identificados. De fato, em 2010, a Suprema Corte declarou que a lei de anistia nada mais é do que um “fundamento da democracia brasileira”. Oito anos depois, em um discurso comemorativo do trigésimo aniversário da Constituição promulgada após a saída dos generais, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli — ex-office boy jurídico do PT e provavelmente a figura mais desprezível de todo o atual cenário político — abençoou formalmente sua tomada do poder, dizendo para seu público: “Hoje não me refiro nem mais a golpe nem a revolução. Me refiro a movimento de 1964”.
O exército se intrometeu eleitoralmente já no início de 2018. Em abril, o general Eduardo Villas Boas advertiu contra qualquer concessão de habeas corpus a Lula, em nome, como explicou depois, do valor mais estimado pelas forças armadas, a estabilidade do país. Com Bolsonaro seguramente eleito, Villas Boas saudou a vitória do novo presidente como uma bem-vinda liberação de energia nacional e, em janeiro, o agradeceu pela “libertação das algemas ideológicas que sequestram o livre pensamento” no Brasil. Discutir 1964 hoje seria ridículo, segundo ele, e a Comissão da Verdade, um desserviço ao país. Questões de segurança pública também eram questões de segurança nacional. Villas Boas participou de uma das intervenções militares periódicas para restaurar a ordem nas favelas do Rio e viu quão inútil que era a incompetência dos civis. Nisso se assemelhavam à intervenção militar brasileira no Haiti, que havia sido muito curta, segundo Villas Boas, o caos retornou assim que as tropas partiram. Bolsonaro não perdeu essa lição. Sua primeira designação-chave foi a do General Augusto Heleno, comandante das forças armadas que havia sido enviado ao Haiti — para sua vergonha, durante o governo de Lula, para agradar a Washington — para assegurar a expulsão de Aristide do poder. Heleno foi nomeado chefe de “segurança institucional” — uma espécie de superchefe de gabinete — no Palácio Presidencial, no qual outro general, Santa Cruz, também veterano do Haiti, tornou-se responsável pelas relações com o Congresso, ladeado por mais dois militares como Ministro da Defesa e Ministro da Ciência e Tecnologia. Heleno, o mais poderoso entre eles, não ocultou suas convicções, expressas na frase “direitos humanos são para humanos direitos” — para ninguém mais. Seu primeiro pronunciamento no governo foi comparar armas com carros, como algo que todo cidadão tem o direito de ter.
A ala econômica do governo, que se preocupa muito mais com os mercados financeiros, é mais frágil. Guedes reuniu ao seu redor uma equipe formada majoritariamente por neoliberais radicais de ideias afins, recebidos com entusiasmo pelo empresariado e capazes de construir em cima da desregulamentação já deixada por Temer. O ponto principal de sua agenda é o desmantelamento do sistema de previdência atual. Indefensável em qualquer medida de justiça social, absorvendo um terço das receitas fiscais, mais da metade dos pagamentos totais da previdência — que começam com uma idade média de 55 anos para homens — é para a quinta parte mais rica da população (juízes, militares e burocratas proeminentes em suas fileiras), e menos de 3% é reservada para aqueles que se encontram na pior situação econômica. Naturalmente, no entanto, desigualdade não é o motivador dos tradicionais esquemas de reformas previdenciárias, cuja prioridade no Brasil, como em qualquer outro lugar, não é repará-la, mas reduzir o custo das aposentadorias no orçamento, enquanto outros cortes ficam na espera. As privatizações se anunciam como a forma de pagar a dívida. Uma centena de empresas estatais de diferentes tipos — principalmente as de infraestrutura: rodovias, portos, aeroportos — estão programadas para serem descartadas ou fechadas, naturalmente, também em nome da eficiência e de um melhor serviço, sob a direção de um engenheiro militar, outro veterano do Haiti. Como no governo de FHC, muitas das mais ricas receitas irão, sem dúvida, para os investidores estrangeiros. A reação eufórica do Financial Times frente ao pacote econômico que se avizinha é compreensível. Por que se preocupar com alguns poucos erros políticos? “López Obrador é uma ameaça maior à democracia liberal do que Bolsonaro”, escreveu seu editor latino-americano.
Essa revisão da economia altamente austera exige, é claro, sua passagem pelo Congresso. Ali, muitos comentaristas brasileiros esperam resistência, devido à dependência de tantos membros do Congresso da provisão de fundo federais para seus estados, que a austeridade cortaria. A privatização também é vista com frequência como em contradição com o nacionalismo estatista dos militares brasileiros — tendo o próprio Bolsonaro, como deputado, se oposto veementemente a ela — o que na prática a atenuaria. Em ambos os casos, este ceticismo é justificável. Sob as presidências do PT, o legislativo foi uma barreira fundamental para os desejos do executivo, limitando o que podia ser feito e comprometendo aquilo que era feito, com notórios resultados. Porém, esse foi o produto previsível entre um partido radical que controla um ramo do sistema de governo e um grupo de partidos conservadores que controlam outro. Quando não havia tamanha tensão entre o presidente e o Congresso, como na administração de centro-direita de FHC, o executivo raramente tinha frustrações — passando, sem problemas, as privatizações, por exemplo. O tipo de neoliberalismo de Bolsonaro se anuncia significativamente mais drástico, mas a demanda popular por mudança é muito maior e a oposição a ele no Congresso é notadamente mais fraca.
Lá, seu Partido Social Liberal (PSL) de fachada, “remendado” semanas antes das eleições, será a maior força na Câmara dos Deputados, tão logo seja recheado, e logo será, com deserções da imensa maioria no pântano dos grupos venais menores. O outrora poderoso PSDB e PMDB foram reduzidos à sombra do que já foram, sua representação no Congresso caiu pela metade. O debacle do PSDB e seu patriarca foi especialmente notável. Depois de falhar em persuadir um apresentador de TV vazio a concorrer à presidência, ver o candidato de seu partido receber menos de 5% dos votos nacionais e se recusar a apoiar Haddad contra Bolsonaro na segunda rodada, FHC terminou com o PSDB em São Paulo — e, sem dúvida, em breve, nacionalmente — nas mãos de João Doria, outro apresentador de TV empresário, astro de um programa baseado em O aprendiz, de Trump. Essa figura reptiliana assumiu o rótulo “Bolsodoria”, geminando-se descaradamente com o vencedor da presidência. Justiça poética. No Congresso, o caminhão da política deve correr depressa, com os deputados subindo a bordo por medo ou ganância para dar ao Executivo, pelo menos para começar, as maiorias de que precisa. Quanto à resistência militar à privatização ou aquisições estrangeiras, o primeiro dos generais do Brasil a governar o país depois que eles tomaram o poder em 1964, Castelo Branco, não era inimigo de nenhuma delas. Seu ministro do Planejamento, mais tarde embaixador em Londres, foi o célebre campeão do livre mercado e do capital estrangeiro, Roberto Campos. Bolsonaro acaba de nomear o neto de Campos como chefe do Banco Central. Acreditar que a venda de bens públicos vai separar Bolsonaro e seus pretorianos poderia ser uma ilusão.
Um risco mais sério para o novo regime está no negócio inacabado da Lava Jato. Como o antigo, o novo Congresso está repleto de corrompidos e corruptores, geradores de fortunas malogradas, aqueles que passaram vidas inteiras em corrupção assídua — na verdade, tornou-se um santuário para aqueles que já estão na mira dos policiais, que se elegeram deputados apenas para ganhar imunidade de processo. O mais proeminente entre eles é Aécio, com várias acusações se acumulando contra ele. Tampouco Bolsonaro e sua família estão limpos, os investigadores que, após a eleição, não só descobriram transações suspeitas nas contas de seu filho Flávio, mas, ainda mais explosivamente, ligam-se a um ex-capitão da polícia militar no Rio de Janeiro, duas vezes relacionado a acusações de assassinatos no estilo das milícias, que podem estar implicados no assassinato de Marielle Franco, a vereadora e ativista negra cuja morte no ano passado causou protestos internacionais. E poderia Moro, como ministro da justiça, passar uma borracha sobre os delitos aos quais, como magistrado, devia sua reputação de impiedoso? Ele já explicou que as 10 Medidas contra a Corrupção, que por anos ele insistiu que tinham que ser aprovadas para que o país ficasse limpo, precisavam ser “repensadas”: nem todas elas são mais tão importantes. Ainda assim, desanuviar de uma vez toda a dinâmica da Lava Jato destruiria sua posição. Se o Congresso tentasse aprovar uma anistia geral para casos de corrupção, um movimento discutido sob Temer, o palco seria preparado para um conflito de poderes total — como também seria se, ao contrário, Moro pressionasse a Suprema Corte para dar imunidade a muitos deputados. É nessa frente que o potencial de combustão é mais real.
*
Mantendo estes diversos segmentos do regime juntos está o círculo composto pelo próprio Bolsonaro, seus filhos e sua entourage imediata. Sua chegada ao ápice do estado marca uma alteração significativa na geografia do poder no Brasil. Depois que o presidente Getúlio Vargas se suicidou no Palácio do Catete em 1954, a capital do país por cerca de duzentos anos perdeu sua posição de centro da política nacional. A construção de Brasília começou em 1956 e foi concluída em 1960. A partir de então, os presidentes vieram de São Paulo (Jânio, Cardoso, Lula), Rio Grande do Sul (Jango), Minas (Itamar, Dilma) ou do Nordeste (Sarney, Collor). Demovido politicamente, o Rio declinou — em alguns pontos, diria, apodreceu — economicamente, socialmente e fisicamente. Nem o PT nem o PSDB conseguiram uma boa presença na cidade, por muito tempo uma terra ideológica de ninguém, com pouca participação na política nacional. Isso começou a mudar com a ascensão de Cunha ao leme do Congresso, uma figura carioca arquetípica com um bando de deputados monetarizados à sua disposição. O novo regime consuma a mudança. Depois de seis décadas em que o Rio foi marginal, o poder retornou. Todos os três cargos mais importantes na administração são ocupados por seus produtos — Bolsonaro na presidência, Guedes no Ministério da Fazenda e o trambiqueiro de marca maior Rodrigo Maia na antiga cadeira de Cunha como presidente da Câmara. No gabinete, que pela primeira vez na história da república não contém um único ministro do norte ou do nordeste, todos provenientes de apenas seis dos 26 estados brasileiros, o maior contingente — um quarto — são nativos do Rio. É uma mudança de sinal.
Como, então, Bolsonaro pode ser classificado? Frequentemente ouvida à esquerda no Brasil e na imprensa liberal na Europa, é a opinião de que sua ascensão representa uma versão contemporânea do fascismo. O mesmo, é claro, é uma representação padrão de Trump nos círculos liberais e esquerdistas da América e do Atlântico Norte em geral, embora seja geralmente acompanhado de esclarecimentos — "muito parecido" "reminiscente de", "próximo a" — deixando claro que isso é pouco mais do que preguiçosa invectiva [5]. O rótulo não é mais plausível no Brasil. O Fascismo foi uma reação ao perigo de revolução social em tempos de ruptura e depressão econômica. Ele se baseava em quadros dedicados, movimentos de massa organizados e possuídos de uma ideologia articulada. O Brasil teve sua versão na década de 1930, os Integralistas, que em seu auge somavam mais de um milhão de membros, com um líder articulado, Plínio Salgado, uma extensa imprensa, programa de publicações e um conjunto de organizações culturais, e que chegou perto de tomar o poder em 1938, após o fracasso de uma insurreição comunista em 1935. Nada que seja remotamente comparável em termos de perigo para a ordem estabelecida da esquerda, ou de uma força de massa disciplinada à direita, que existe hoje no Brasil. Em 1964, ainda havia um grande partido comunista, com influência dentro das forças armadas, um movimento sindical militante e crescente agitação no campo, sob um presidente fraco que defendia reformas radicais. Isso foi o suficiente para provocar não o fascismo, mas uma ditadura militar convencional. Em 2018, o antigo partido comunista já havia desaparecido há muito tempo, sindicatos combativos eram um número reduzido, os pobres passivos e dispersos, o PT um partido levemente reformista, há anos em bons termos com grandes empresas. Cuspindo fogo, Bolsonaro pôde vencer uma eleição. Mas é ínfima alguma infraestrutura organizada em torno a ele e não se faz necessária nenhuma repressão de massas, já que não há oposição de massas a ele.
Bolsonaro pode ser melhor categorizado como populista? O termo agora sofre de tal inflação, como o espantalho para todos os fins da mídia bem pensante, que sua utilidade declinou. Sem dúvida, sua postura como valente inimigo do establishment e seu estilo como um homem rude do povo, pertence ao repertório do que geralmente é visto como populismo. Tomando como modelo o presidente dos EUA, ele supera Trump ao se enrolar na bandeira nacional e cuspir uma corrente no Twitter — 70% a mais de tweets do que o segundo em sua primeira semana no cargo. Mas na galeria dos populistas de direita de hoje, Bolsonaro não se encaixa no esquema padrão em pelo menos dois aspectos. A imigração não é um problema no Brasil, onde apenas 600.000 de uma população de 204 milhões são nascidos no exterior — 0,3%, comparado com 14% nos EUA e no Reino Unido, ou 15% na Alemanha. O racismo, é claro, é uma questão à qual tanto Bolsonaro como Trump fez apelos encobertos, e cuja violência nas práticas da polícia ele encorajará. Mas, ao contrário de Trump, ele obteve um grande apoio eleitoral na comunidade negra e parda, e isto não tem nenhum risco de parecer um equivalente à retórica anti-imigrantista do Norte do Atlântico. Um terço de seu partido no parlamento, na verdade, não é branco — uma porcentagem mais alta do que no muito alardeado contingente progressista democrata no 116º Congresso dos EUA.
Uma segunda diferença significativa está no caráter do nacionalismo de Bolsonaro. O Brasil não é um país afligido ou ameaçado pela perda de soberania como a UE ou pelo declínio imperial como os EUA ou o Reino Unido, os dois impulsionadores do populismo de direita no Norte. Sua patriótica forma de bater no peito é mais superficial. Hoje ele não é inimigo do capital estrangeiro. Seu nacionalismo, em expressão hiperbólica, toma essencialmente a forma virulenta de anti-socialismo, anti-feminismo e homofobia, excrescências estranhas para a alma brasileira. Mas não tem nada contra o livre mercado. Na linguagem local, oferece o paradoxo de um populismo entreguista, um populismo “indiferente” — pelo menos em princípio, perfeitamente disposto a entregar ativos nacionais a bancos e corporações globais.
A comparação com Trump, a analogia mais próxima de Bolsonaro como político, indica um conjunto diferente de pontos fortes e fracos. Embora ele tenha um background muito mais humilde, Bolsonaro é menos analfabeto. A educação em uma academia militar se ocupou disso: os livros não são um completo mistério para ele. Consciente de algumas de suas limitações, ele não possui o grau de egomania de Trump. A confiança arrogante de Trump em si mesmo não vem apenas de um histórico familiar milionário, mas de uma longa carreira de sucesso na especulação imobiliária e no show business. Bolsonaro, que nunca dirigiu nada em sua vida, não tem essa formação existencial. Ele é muito menos seguro. Dado, como Trump, a todo tipo de explosão intempestiva, ao contrário de Trump, ele recuará rapidamente se as reações se tornarem muito negativas. As primeiras semanas de sua administração foram uma cacofonia de declarações conflitantes e retratações ou negações delas.
Não é apenas pelo caráter, mas também pelas circunstâncias, que Bolsonaro é uma figura mais frágil. Tanto ele quanto Trump foram catapultados para o poder praticamente da noite para o dia, contra todas as expectativas. Trump assumiu a presidência com uma porcentagem muito menor dos votos — 46% — do que a maioria de 55% de Bolsonaro. Mas seus defensores são fervorosos e solidamente ideológicos, ao passo que o apoio de Bolsonaro pode ser até mais amplo, mas é mais superficial, como mostram as pesquisas pós-eleitorais que indicam a rejeição de muitas de suas políticas propostas. Trump, além disso, chegou ao poder ao apoderar-se de um dos dois grandes partidos do país, enquanto Bolsonaro conquistou o poder efetivamente pelo que é, sem nenhum apoio institucional para a eleição. Uma vez eleito, por outro lado, ele não irá, porque não pode, governar sem levar em conta as instituições em sua volta, como Trump tentou fazer. Isso não significa que ele será menos brutal, já que no Brasil muitas dessas instituições são mais autoritárias do que nos EUA. Os povos indígenas da Amazônia são vítimas certas: ao contrário dos negros, são quantidade insignificante nas urnas, e à medida que os pecuaristas varrem seu habitat (com consequências de longo prazo que não serão apaziguadas pelos lúgubres gestos do norte global em direção à mudança climática), eles serão os primeiros a sofrer. Da mesma forma, é fácil imaginar — especialmente se a economia não se recuperar e ele precisar desviar o foco disso — Bolsonaro reprimindo violentamente os protestos estudantis; acurralando ativistas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) ou seu equivalente urbano, o MTST, e banindo suas organizações; reprimindo greves, quando necessário. Mas, tirando a floresta, essa repressão provavelmente será no varejo, não no atacado. Fazer mais, no momento, seria um excesso comparado ao que é necessário.
*
E o que será do PT? Longe de florescer, mas até agora sobrevivendo. Com 10% dos votos e 11% das cadeiras na Câmara dos Deputados, evitou a derrocada do PSDB e do PMDB. Com Lula na cadeia, o que será mais provável de ocorrer? Aqui as opiniões qualificadas se dividem. Para Singer, a realidade central dos anos do PT era, como os títulos de seus dois livros deixam claro, o lulismo — a pessoa ofuscando o partido. Para o maior estudioso americano do Brasil contemporâneo, David Samuels, é o inverso: o fenômeno mais profundo e duradouro foi o petismo — o partido e não a pessoa. Lula, em sua opinião, não era um líder carismático como Vargas, nem como seus herdeiros do Rio Grande do Sul, João Goulart ou Leonel Brizola, políticos sem raízes reais em um partido. Mas nem por isso, diferentemente dessas figuras, ele foi um populista. Financeiramente ortodoxo, respeitoso com as instituições democráticas, ele não criou um sistema político em torno de si, e nem mesmo deu lugar à retórica maniqueísta inflamatória de “eles” e “nós”. Na leitura de Samuels, o lulismo em si nunca foi mais do que um “leve apego psicológico”, em comparação com a força organizacional do PT e a sólida implantação na sociedade civil. Singer errou tanto em exagerar a importância de Lula quanto em atribuir uma perspectiva geralmente conservadora aos pobres, compensada por um investimento especial nele. Em 2014, Samuels e seu colega brasileiro Cesar Zucco escreveram: “Olhando para a nossa bola de cristal, vemos o PT como pilar do sistema partidário do Brasil. Sem ele, a governabilidade será difícil.” [6]
As previsões de Singer envelheceram melhor. Os eventos mostraram que seu senso do pensamento dos despossuídos, seu medo da desordem e ansioso desejo por estabilidade, eram mais acurados. Como por clarividência, muitas páginas do seu Os Sentidos do lulismo (2012), observando os precedentes históricos de Collor e Jânio Quadros, se pareceram com um cenário do triunfo de Bolsonaro nas zonas populares do Brasil seis anos depois. O que isso significou para as relações entre o PT e seu líder desde então? Na véspera de sua prisão, um entrevistador comentou com Lula: “Há quem diga que o problema no Brasil é que ele nunca conheceu uma guerra, uma ruptura”. Sua resposta foi: “Eu concordo. É engraçado o jeito que toda vez que o Brasil esteve à beira de uma ruptura, houve um acordo. Um acordo feito no andar de cima. Quem está por cima nunca quer sair.” A resposta é reveladora: o que ela exclui é a possibilidade de que aqueles que estão acima possam querer uma ruptura — uma ruptura pela direita, não pela esquerda. No entanto, foi efetivamente isso que atingiu o PT em 2016-18, algo com o qual eles ainda precisam digerir melhor. No poder, enquanto as coisas estavam boas, o PT beneficiou os pobres; mas não os educou nem os mobilizou. Seus inimigos, enquanto isso, não apenas os mobilizaram, mas os educaram até os mais recentes padrões pós-modernos. O resultado foi uma guerra de classes unilateral. As grandes manifestações que terminaram por derrubar Dilma foram o resultado de uma galvanização da classe média como o Brasil nunca havia testemunhado; possibilitada por um domínio das mídias sociais, transmitida de sua juventude para Bolsonaro, refletindo uma transformação do país que por pouco não foi uma revolução social. Entre 2014 e 2018, apesar da recessão, o número de smartphones superou o número de habitantes, e seu uso deixaria qualquer outra implantação política deles, fosse na Europa ou na América, para trás.
Essa, evidentemente, não foi a única realidade letal que o PT falhou em reconhecer. No governo, ele rejeitou a mobilização em favor da cooptação; e cooptação — da classe política e econômica brasileira — significa corrupção. E isso esteve em sintonia com sua escolha estratégica para o Executivo. “Entre o consentimento e a força está a corrupção”, escreveu Gramsci, “o que é característico de situações em que é difícil o exercício da hegemonia e o uso da força é arriscado demais.” Renunciando à hegemonia, que exigiria um esforço sustentado de educação popular e organização coletiva, e recusando a coerção, direção para a qual nunca houve qualquer tentação, o partido ficou com a corrupção. Para seus líderes, qualquer outra coisa parecia muito difícil ou muito arriscada. A corrupção era o preço de seu “reformismo fraco”, nas palavras de Singer, e dos benefícios reais que ela possibilitava. Mas uma vez exposto, o partido não encontrou palavras para rotular ou criticar o que fizera. E em vez disso, em um eufemismo extremamente revelador — e também desastrosamente correto — o PT explicou que precisava “superar sua adaptação ao modus vivendi da política tradicional brasileira”. Modus vivendi: uma maneira de conviver — apenas isso.
Recorrer a eufemismos não oferece escapatória para um passado para o qual o PT ainda permanece acorrentado, da maneira mais dolorosa e paralisante possível. A Lava Jato está longe de terminar com seu astro e vítima maior. A sentença de 12 anos de Lula por suas vistorias em um condomínio à beira-mar foi apenas o começo. Um segundo julgamento com acusação similar — envolvendo uma empreiteira que recebeu contratos governamentais enquanto ele estava no exercício para as melhorias no sítio de um amigo — está quase pronto, com um veredicto similar à vista. Essas acusações podem até ser, no frigir dos ovos, relativamente triviais, embora as sentenças não sejam. Já vem chegando, no entanto, acusações muito mais sérias, e não de desvios privados, mas de mal uso de grandes somas de dinheiro público — centenas de milhões de dólares à disposição da Petrobras quando Lula foi presidente — com base no recompensado testemunho do maior Judas do partido, seu braço direito na época, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, atualmente se vendendo como testemunha em mais casos para ação penal. O governo vai garantir máxima publicidade para os mega-julgamentos que estão por vir. Ele precisa acabar com Lula de vez.
O PT, e seus simpatizantes, profunda e compreensivelmente irritados com a falta de uma justiça não seletiva na qual os assuntos pessoais de Lula pudessem ser tratados, provavelmente terão que se confrontar com evidências, mesmo que manchadas, potencialmente muito mais danosas, naquilo que ameaça se tornar um processo indefinidamente estendido para desacreditar e confinar, por toda a vida, o ex-presidente. Como o partido vai reagir? Lula, que não foi diminuído na prisão, continua sendo, de forma esmagadora, o seu ativo político mais importante; no entanto, agora existe o perigo de ele se tornar, para muitos, quase igualmente um risco. Assegurar-lhe justiça histórica parece além de seus poderes. O partido depende dele para uma liderança firme, mas arrisca perder credibilidade se não se tornar independente dele. Âncora ou albatroz? Se Lula foi totalmente abduzido da cena, muitos acham que o PT rapidamente se fragmentaria. Em tal impasse, os militantes podem muito bem ser levados a ter expectativas de que, sob o regime de Bolsonaro, as condições do Brasil piorem tanto que poucos vão se importar mais com os escândalos perdoáveis do passado, e seus traços seriam obliterados em alguma convulsão política ainda maior por vir.
Por doze anos, o Brasil foi o único grande país do mundo a desafiar a época, a recusar o aprofundamento do regime neoliberal do capital e relaxar alguns de seus rigores em favor dos menos favorecidos. Se a experiência precisava terminar assim é algo imponderável. As massas não foram chamadas para defender o que haviam ganho. Será que os séculos de escravidão que separaram o país do resto da América Latina forjaram uma passividade popular insuperável, e o modus vivendi do PT era o melhor que se pode fazer? Em certas ocasiões, Singer sugeriu algo assim. Em outras, ele é mais rigoroso. O Brasil, escreveu recentemente, fracassou em conseguir a inclusão social de todos os seus cidadãos, tarefa que cabia à geração que veio após a ditadura. Mas na sua ausência, nenhum outro projeto é viável. De forma um pouco mais otimista, outro observador aguçado, um pouco à direita, Celso Rocha de Barros, observou que o lulismo não vai ser extinto no Brasil até que algo melhor o substitua. Pode-se até ter a expectativa de que esses julgamentos sejam válidos. Mas as memórias podem desaparecer e, em outros lugares, a exclusão social demonstrou ser demasiado cruelmente viável. A esquerda sempre esteve inclinada a transformar em previsões as suas próprias preferências. Seria um erro contar com uma derrota que se autocorrija com o tempo.
Mas negociação era uma coisa, e conciliação era outra. “Um governo de conciliação é aquele em que você até pode fazer mais, porém não quer fazer isso. Quando você só pode fazer pouco e acaba fazendo muito, isso é quase o começo de uma revolução — e foi o que fizemos neste país.” Lula fez essas concessões apenas quando a situação exigia. O PT tinha menos de um quinto do Congresso. Se tivessem controle dos governos de 23 estados e a maioria na Assembleia Constituinte, como o PMDB teve em 1988, ele teria concedido menos e realizado muito mais. Mesmo assim, “nós demos ao povo um padrão de vida que muitas revoluções armadas nunca alcançaram — e em apenas oito anos”. Ele terminou com os seus índices de pesquisas de opinião nos céus. Mas isso em si não foi motivo de orgulho. “O que mais me orgulha é de ter mudado a relação do estado com a sociedade e do governo com a sociedade. O que eu queria alcançar como presidente era que os mais pobres do país pudessem se imaginar no meu lugar. Foi o que eu fiz.”
É uma afirmação que impressiona. A grandeza de mente e o sentimento de Lula, assim como sua agilidade, aparecem de maneira vívida em todos os registros. Já as autocríticas não. Teria ele escolhido um sucessor errado? Escolheu Dilma porque era uma chefa firme e eficiente, que lhe deu paz e tranquilidade no palácio presidencial. Ele sabia que ela era politicamente inexperiente, mas — sabendo que era mais instruída do que ele — acreditava que ela ainda aprenderia; só mais tarde ele percebeu que ela não gostava de política. Mas ele não estava errado por tê-la selecionado. O que passa batido nos depoimentos é a provável suposição de que, precisamente por ser novata, Lula poderia controlá-la melhor do que qualquer outro quadro experiente do PT. Nem, mais significativamente ainda, há qualquer senso de que os métodos de aquisição de apoio mercenário no Congresso impuseram não apenas limites sobre o que ele poderia fazer (o que ele admite), mas também custos para seu partido, que por sua vez foi infectado por eles (o que ele não admite). Projetado no plano da política nacional, o modelo de negociação econômica que ele trouxe de sua origem sindical perdeu sua inocência e criou ilusões. Acordos salariais não envolvem subornos aos patrões. E muito menos, quando o poder está em jogo, se tem garantias de que os adversários não irão partir para o tudo ou nada.
Em uma nota final pungente, quando Lula declarou que, se ele voltasse ao poder, faria mais — iria além — do que havia feito antes, e seus oponentes sabiam disso, ele foi perguntado se ele achava que um retorno era possível. Isso ocorreu cerca de um mês antes de começar sua sentença. Esta foi sua resposta melancólica:
“Eu quero voltar. Isso depende se Deus me vai me dar saúde, me manter vivo; e depende do entendimento dos membros do judiciário que vão votar, se eles vão ter cuidado para ler os registros do caso e ver os truques sujos jogados por lá.”
Até o fim, Lula acreditou que seria possível um acordo que permitisse que ele voltasse a concorrer: foi assim que as negociações terminaram. Ele havia fatalmente subestimado seus inimigos. Eles estavam determinados a eliminá-lo. Em abril de 2018, um pedido final de habeas corpus, que o teria permitido concorrer à presidência, chegou à Suprema Corte. A constituição brasileira declara que nenhuma condenação criminal pode ser executada até que seja definitiva — isto é, até que todas as instâncias de apelação tenham sido esgotadas. O comandante do exército alertou que conceder-lhe habeas corpus ameaçaria a estabilidade do país, e que era o dever institucional das forças armadas defendê-la. Os juízes cumpriram seu dever com entusiasmo, derrubando o princípio constitucional por uma votação de seis a cinco para barrar a candidatura de Lula.
Com a arena desimpedida, o provável candidato da presidência se tornou o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, governador de longa data de São Paulo. Uma dessas figuras de madeira sem carisma, que já havia perdido contra Lula em 2006, mas estava menos comprometido com o apoio a Temer do que com seus rivais no partido e ainda gozava de sólido apoio dos empresários. O PT ficou paralisado, incapaz de entrar no ringue, pois ainda insistia, apesar da evidente impossibilidade, que Lula ainda era seu candidato. Na largada, um forasteiro liderava com um modesto apoio de 15%: Jair Bolsonaro, um lobo solitário tão isolado que recebeu apenas quatro votos dos 513, quando concorreu à vaga de Cunha depois que ele caiu. Essa marginalidade no Congresso não era, no entanto, necessariamente uma desvantagem na disputa pela presidência. Nunca tendo pertencido a nenhum dos principais partidos — vagando entre sete outros menores — e nem ocupando nenhum cargo de governo, Bolsonaro não foi manchado ou culpado pela dificuldade econômica ou exposições à corrupção, e ficou livre para atribuir a culpa da primeira à segunda, atacando assim a toda a classe política por ambas. Mas seus elogios à ditadura de 1964-85 e seus torturadores e demais vitupérios em geral apareciam como desvantagens notáveis, de modo que geralmente se supunha que, uma vez iniciada a campanha, ele seria relegado a apenas mais um dos demais.
Alckmin, em contrapartida, tinha não apenas o PSDB, mas rapidamente todo o chamado centrão, o pântano partidário de tamanho médio do qual Lula reclamava, e que lhe deu metade de todo o tempo de TV atribuído a propaganda partidária — que, no passado, foi um bem inestimável. Com isso, era amplamente esperado que ele superasse Bolsonaro e outros rivais em potencial. Sete debates na televisão, com todos os candidatos, foram agendados assim que a campanha começou. A partir de agosto, eles expuseram a desvantagem de Bolsonaro nessa mídia: mal preparado e pouco à vontade, ele era ineficaz. Quanto mais ele era exposto a ela, mais desidratado ele pareceria. Na primeira semana de setembro, no entanto, esse perigo foi repentinamente suspenso. Esfaqueado por um homem mentalmente doente em um comício regional e levado ao hospital para uma operação de emergência, ele passou o resto da eleição na segurança da sua cama de recuperação, protegido não apenas dos debates ou entrevistas, mas da demolição que os diretores de Alckmin estavam preparando nos seus comerciais de televisão — a simpatia por uma vítima que quase perdera a vida agora impedia qualquer coisa assim tão insípida.
O PT, por sua vez, já vinha perdendo meses em manifestações fúteis de que Lula ainda seria seu candidato, sem uma presença sequer simbólica nos primeiros debates. Foi apenas cinco dias após o esfaqueamento de Bolsonaro que o partido acordou para a realidade e declarou um candidato capaz de concorrer. Sua escolha foi ditada por Lula. Fernando Haddad foi durante seis anos ministro da educação e foi amplamente considerado um sucesso, responsável por uma das maiores conquistas do período do PT, a expansão do sistema universitário e seu acesso pelos pobres. Jovem e gentil, ele poderia ter sido um sucessor muito melhor e mais lógico em 2010 do que Dilma. Mas havia três pontos contra ele: ele era de São Paulo, onde pesos pesados mais velhos e poderosos do PT, protetores de suas precedências, dominavam; ele veio da esquerda do partido; e, em sua origem, ele era um acadêmico — formado em filosofia e economia, ensinando ciência política — entre sindicalistas que desconfiavam de professores.
Em 2012, Haddad foi eleito prefeito de São Paulo. Ele logo caiu em desgraça com Dilma, que se recusou a ouvir seu apelo para elevar os preços da gasolina, em vez de infligir tarifas de ônibus mais altas na cidade, o que desencadeou os protestos de 2013 que começaram a ruína dela e encerraram as perspectivas dele de reeleição. Continuou sem nenhuma base significativa dentro do PT, cujos dirigentes desconfiavam dele. Já em 2003, em um artigo profético escrito à medida que o PT assumia o poder, ele advertiu sobre o perigo de que, em vez de arrancar o patrimonialismo profundamente enraizado do Estado brasileiro, o partido pudesse ser engolido por ele. O Brasil não era, contrariamente às concepções de Cardoso e outros, um cenário em que o capitalismo moderno fez uso dos arcaísmos da antiga sociedade escravista, mas o contrário: um sistema oligárquico arcaico que se apropria do capitalismo moderno para preservar o padrão tradicional de poder pela saturação da autoridade pública com seus interesses privados. Em 2018, em meio ao naufrágio patrimonial que havia tomado o PT, a perspicácia e a honestidade de Haddad se destacaram e, sabendo que ele era limpo e imaginativo, Lula o impôs ao partido.
A campanha que se seguiu foi estranhamente assimétrica. Começando tarde, Haddad estava preocupado com as circunstâncias de sua nomeação. Faltando menos de um mês para o primeiro turno da eleição, ele teve que estabelecer um projeto de nação próprio contra as acusações de que ele era um mero fantoche de Lula, ao mesmo tempo em que desenhava da maneira mais eficaz possível a continuação da popularidade e prestígio de Lula. Rapidamente ficou claro que ele e Bolsonaro se enfrentariam no segundo turno, mas não houve confronto entre os dois. Haddad percorreu o país, e dirigia-se a multidões, enquanto Bolsonaro estava em casa, twittando. Com duas semanas restando para o primeiro turno, eles estavam nivelados nas previsões para o segundo. Então, nos últimos dias, Bolsonaro subiu repentinamente, com uma vantagem que fechou em 46% a 29%. Com uma diferença tão grande assim, a segunda rodada já ficava previsível. O establishment brasileiro já fechava com o futuro vencedor. Haddad lutou bravamente, diminuindo a distância. Mas o resultado final não deixou dúvidas da escala do triunfo de Bolsonaro. Ganhando por 55% a 45%, ele tomou todos os estados fora do reduto do PT no nordeste; levou em todas as grandes cidades do país; todas as classes sociais, com exceção daquela pior, vivendo com renda inferior a dois salários mínimos; todas as faixas etárias; e ambos os sexos — apenas na faixa entre 18 e 24 ele não conseguiu a maioria dos votos femininos. Em todo o país, a direita jubilava nas ruas. Mas não houve grande corrida as urnas. O voto é obrigatório no Brasil, mas perto de um terço do eleitorado — 42 milhões de votantes — optaram por ficar de fora, a maior proporção em vinte anos. O número de votos inválidos foi 60% maior do que em 2014. Alguns dias antes, uma pesquisa de opinião perguntou aos eleitores seu estado de espírito: 72% responderam “desanimados”, 74% “tristes”, 81% “inseguros”.
Naquela última resposta estava, combinando todas as probabilidades, a chave para a limpa de Bolsonaro. A recessão certamente foi decisiva no derretimento do apoio ao PT desde 2014, e a corrupção, que não importava para os pobres quando seus padrões de vida estavam subindo, importou quando eles estavam em queda. Os dois estavam diretamente conectados nas representações televisivas noturnas de enormes esgotos de cédulas — no discurso da Lava Jato, dinheiro roubado de hospitais, escolas e praças públicas. Mas as reações populares subjacentes eram insegurança física e existencial. Notoriamente, a violência cotidiana — tradicional no nordeste feudal, moderna desde a chegada do tráfico de drogas no Sudeste — levando sessenta mil vidas por ano, uma taxa de homicídio superior à do México. A polícia é responsável por 20% a 25% dessas mortes. Menos de 10% dos assassinatos são investigados. No entanto, as prisões estão abarrotadas: 720.000 pessoas aprisionadas. Dois quintos dos presos, sob prisão provisória, aguardando julgamentos que podem levar dois, três ou mais anos. Quase metade da população do país é branca; 70% dos assassinados e 70% dos presos não são. Com o tráfico vieram gangues, entre as mais poderosas do mundo. Em 2006, a maior delas, Primeiro Comando da Capital (PCC), fechou parte de São Paulo em uma revolta, dirigida a partir das celas de prisões por seus líderes, contra a polícia. Mas com a disseminação do tráfico de drogas, o crime de rua que é artesanal e não organizado também proliferou. Bem poucas famílias de classe média ainda não tiveram prolemas com isso. Mas eles ainda estão melhor protegidos: onde os assaltos com armas e facas são mais comuns, são pobres roubando pobres.
*
Nesta selva, a polícia é o mais implacável dos predadores: não há crime grande sem que ela cumpra sua parte. Divididos em ramos “militar” e “civil” distintos, numa proporção de cerca de três para um, elas são forças estaduais, não federais. Juntamente com elas, as “milícias” informais são compostas por ex-policiais que agem como guardas de segurança ou se empenham no tráfico de drogas. O pequeno corpo de polícia federal — um décimo do tamanho da polícia militar à disposição dos governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro — é reservado em grande parte para o controle de fronteiras e o crime do colarinho branco. Promoções dependem das taxas de encarceramento, assistidas por leis que não mais distinguem a venda e o consumo de drogas, nem exigem testemunhas para apreensões em flagrante no local, oferecendo um caminho rápido para a criminalização da pobreza, como jovens e negros — pardo ("mestiço") e preto ("negro") com pouca distinção — são apanhados e destinados às prisões, onde há o dobro de prisioneiros do que vagas. Como a miscigenação era historicamente tão difundida, impossibilitando a linha divisória ao estilo “uma única gota”, o padrão do racismo do Brasil difere do americano, mas que não é menos brutal. Combinado com uma urbanização muito rápida, impulsionada tanto pela expulsão dos camponeses da terra como pela atração das luzes da cidade, criando ambientes de enorme desigualdade com pouca ou nenhuma estrutura de recepção, seu efeito foi deslocar o conflito social para a violência desorganizada. Para os jovens negros, o crime pode ser uma tentativa desesperada de reconhecimento, uma arma, um passaporte para a dignidade: armas de fogo, alugadas por algumas horas e apontadas para a cabeça de um motorista ou transeunte torna-se um meio de forçar as pessoas a olhar, ao invés de evitar, aqueles em geral tratados como invisíveis. Sucessivos presidentes, dispensados da responsabilidade de segurança pública, uma vez que esta continua a ser atribuição dos governadores, tiveram pouco incentivo para mudar o que constitui um bom pretexto para inação. No máximo, podiam declarar um estado de emergência e enviar tropas para ocupar as favelas, como um temporário exercício de relações públicas, deixando muito pouco rastro.
E na direção das classes populares, sendo esta a intersecção e a combinação de um ambiente de violência cotidiana, tem sido ventilada uma desintegração das normas de vida costumeira, familiar e sexual, não apenas pelo tráfico de drogas, mas pela mídia — a televisão, seguindo os modelos norte-americanos, jogando as antigas restrições ao sabor dos ventos. As mulheres são as principais vítimas. O estupro é tão comum quanto o assassinato no Brasil: mais de sessenta mil por ano, cerca de 175 ao dia — e o número registrado duplicou nos últimos cinco anos. Em meio a tudo isso, as ansiedades econômicas são as mais intensas e permanentes — inseguranças nos níveis mais fundamentais, como por comida e abrigo. Em tais condições, um desejo desesperado por ordem tem sido cada vez mais atendido pela religião pentecostal, suas Igrejas oferecendo uma estrutura ontológica para dar sentido às vidas no limite da existência. Sua marca registrada é uma teologia não de libertação, mas de “prosperidade” como meio de salvação terrena. Com muito trabalho, autodisciplina, comportamento adequado e apoio comunitário, os crentes podem melhorar a si mesmos — e pagar dízimos para a organização pastoral que os ajuda. Normalmente, as Igrejas neoprotestantes também são corporações financeiras obscuras, que fazem milionários os seus principais ministros. Em 2014, os rebanhos evangélicos no Brasil somavam cerca de oitenta milhões. As empreitadas pentecostais já eram um poder nessa terra; um quinto dos deputados no Congresso achou vantajoso declarar uma afiliação a elas. Quatro anos mais tarde, no entanto, as condições em que seguiam curso foram alteradas. O sucesso da teologia da prosperidade coincidira com os anos do boom da presidência de Lula, dando credibilidade ao seu otimismo de elevação material. Em 2018, a promessa de melhoria constante desapareceu. Para muitos, tudo agora parecia estar desmoronando.
Em nenhum outro lugar essas tensões foram mais intensas do que na segunda cidade do Brasil. O Rio, com metade da população de São Paulo, tem mais que o dobro da taxa de homicídios. Em grande parte, isso se deve ao grau incomparável de controle em toda a cidade de São Paulo — uma cidade construída em um planalto — exercida pela gangue paulista dominante, o PCC. Lá, tem-se a posição de desencorajar pequenos ataques — que complicam o manejo ordenado do tráfico de drogas de alto valor — com mais armas pesadas à sua disposição. A topografia do Rio — uma faixa estreita e sinuosa de terras costeiras segmentadas por montanhas cobertas de florestas que se projetam para praias, favelas brotando em seus interstícios, muitas vezes coladas com bairros ricos — dificulta esse poder centralizado. Ali, gangues rivais empreendem guerras territoriais ferrenhas, sem se importar com as baixas de meros espectadores, e em meio a níveis mais altos de pobreza, um comércio de armas mais denso multiplica o caos aleatório dos assaltos individuais. No início de 2018, para impedir a violência, Temer enviou o exército — e lá ele permaneceu, como no passado, sem nenhum efeito duradouro. Nesse ambiente, o PT nunca conseguiu criar raiz, ainda menos o PSDB ou qualquer outra configuração partidária estável. Todos os três últimos governadores do estado estão presos ou sob custódia por corrupção. O que passou a ter influência política, com um controle mais extenso do que em qualquer outra cidade grande, foram as Igrejas evangélicas. Cunha, por muito tempo o político dominante do Rio, era um autodenominado pastor ligado à Assembleia de Deus, a maior denominação pentecostal. Seu atual prefeito é um bispo da rival Igreja Universal do Reino de Deus e sobrinho de seu chefão, Edir Macedo, a paródia brasileira (muito mais poderosa) do Reverendo Moon.
Bolsonaro é um produto desta placa de petri. Ele nasceu em 1955 no interior de São Paulo, mas sua carreira se desenrolou inteiramente no Rio, onde aos 18 anos, na época da ditadura, ele entrou em uma academia militar próxima à cidade, treinando como paraquedista. Alcançando, dentro de dez anos, o posto de capitão, em 1986 publicou um artigo queixando-se de baixos salários no exército e foi preso por indisciplina. Uma vez solto, ele planejou uma série de pequenas explosões em vários quartéis para instigar descontentamento material nas fileiras. Provavelmente, porque ele gozou de alguma proteção de oficiais superiores em solidariedade com seus objetivos, se não a seus métodos, uma investigação entendeu que as evidências contra ele — que incluíam mapas desenhados com sua letra — eram inconclusivas. Mas ele foi forçado a se aposentar com apenas 33 anos. Cinco meses depois ele foi eleito vereador no Rio de Janeiro. Dentro de outros dois anos, ele saltou para o Congresso com os votos da Vila Militar, uma área no oeste da cidade construída para soldados e suas famílias, contendo a maior concentração de tropas na América Latina, e da zona ao redor da academia militar ao sul da cidade onde ele tinha sido cadete.
Em Brasília, Bolsonaro estaria logo pedindo um regime de exceção e o fechamento temporário do Congresso, e no ano seguinte — isso foi em 1994 — declarou que preferiria “viver em um regime militar do que morrer nessa democracia”. Nas duas décadas seguintes, sua carreira parlamentar consistiu em grande parte em discursos exaltando a ditadura militar e as forças armadas; pedindo a pena de morte, uma redução da maioridade penal, acesso mais fácil a armas de fogo; e a atacar esquerdistas, homossexuais e outros “inimigos da sociedade”. Ele retornou seis vezes, sua base eleitoral nos quarteis e seus distritos mantinha-se praticamente no mesmo nível — cerca de 100.000 votos — até 2014, quando ela subitamente quadruplicou. O salto, pouco notado na época, foi mais do que um efeito geral da crise econômica, embora claramente levantado por ela. A antipatia pelo PT — antipetismo — era uma forte influência na cultura política brasileira como um contraponto da classe média à ascensão do PT, intensificada quando a mídia (sobretudo a Veja, a principal revista de notícias do país) instigava indignação pela corrupção para impulsionar a campanha do PSDB para a conquista da presidência. Mas ninguém poderia competir com Bolsonaro pela virulência nessa frente. Além disso, aprendeu algo com a revolta urbana de 2013 que o PSDB não entendeu. Ali, jovens ativistas de uma nova direita em São Paulo — muito mais à frente que seus pares mais velhos ou mesmo da classe política em geral — haviam sido pioneiros no uso das mídias sociais para que as mobilizações se convertessem em vastas manifestações contra o governo. Eles eram neoliberais radicais, o que Bolsonaro não era, e havia pouco contato entre eles. Mas ele pôde ver o que haviam conseguido e também estabelecer sua própria base de operações pessoal no Rio antes de qualquer concorrente. No final de 2017, ele já estava muito à frente do resto, com sete milhões de seguidores no Facebook, número que era o dobro do principal jornal do país.
O sucesso da imagem que ele projetou nesse meio foi um reflexo não só da violência de seus pronunciamentos. A impressão de Bolsonaro dada pela cobertura da imprensa no exterior, de um fanatismo feroz ininterrupto, é enganosa. Sua personalidade em público é mais ambígua que isso: grosseira e violenta, certamente, mas com um lado jocoso e brincalhão, capaz de um bom humor popular, às vezes até autodepreciativo, distante daquele olhar carrancudo de Trump, com quem agora é muitas vezes comparado. Seu passado era menos penoso do que o de Lula — seu pai, um dentista sem a devida licença, exercia seu ofício de uma pequena cidade a outra — mas era bastante plebeia pelos padrões da elite brasileira. Embora ele esteja agora bem de vida (é dono de cinco propriedades), um toque de homem comum vem naturalmente. Seu carisma flui especialmente entre os jovens, tanto entre os populares quanto nos mais instruídos.
Casado três vezes, Bolsonaro tem quatro filhos com suas duas primeiras esposas e uma filha (“uma fraquejada”, na piada dele) com sua terceira, Michelle, voluntária de uma dissidência da Assembleia de Deus, cujo líder televangelista, o terceiro pastor mais rico do Brasil (fortuna estimada em US$ 150 milhões), celebrou o matrimônio do casal. Depois que ele foi investigado pela polícia federal, ela entrou para uma outra, “Igreja Batista Atitude”, perto de sua casa. Apesar da origem católica, Bolsonaro garantiu as melhores credenciais evangélicas, viajando com um pastor para ser batizado em Israel. A família é sua fortaleza política. Ao contrário da família Trump, os três filhos mais velhos de Bolsonaro fizeram carreiras eleitorais bem-sucedidas: um é agora deputado na Assembleia do Rio; outro, em São Paulo, o deputado mais votado da história brasileira; o terceiro é vereador no Rio. Eles estão frequentemente ao redor dele, como uma mistura de assessores e guarda-costas, enquanto Michelle é sua guardiã do mundo exterior.
Embora fosse um solitário de poucos amigos no Congresso, Bolsonaro compreendeu a necessidade de ter aliados para alcançar a presidência e mostrou que tinha as habilidades para adquiri-los. Para ser seu companheiro de chapa, ele escolheu um general de cinco estrelas, Hamilton Mourão, que acabara de se aposentar depois de ter se exposto demais: atacara abertamente o governo de Dilma; declarou que, se o Judiciário não conseguisse restaurar a ordem no Brasil, os militares deveriam intervir para fazê-lo; e fez aflorar a ideia de um “autogolpe” por um presidente em exercício, se isso for necessário. (Em outro comentário ele observou que o país precisava melhorar seu caldo, já que os índios eram indolentes, os negros eram malandros e os portugueses eram apegados a privilégios.) Considerando que a base política primária de Bolsonaro sempre foi a militar, a escolha de Mourão foi lógica e bem recebida no exército. Mas ele também precisava tranquilizar os empresários, desconfiados dele não apenas como um curinga, mas como um congressista com um registro consistente de votação “estatista”, um oponente das privatizações e relutante de investimentos estrangeiros. Assim, com um sorriso de franqueza envolvente, ele se confessou ignorante da economia, embora capaz de aprender com aqueles que conheciam melhor, e encontrou em um economista seu futuro mentor.
Paulo Guedes foi treinado em Chicago, ensinou no Chile na época de Pinochet e retornou ao Rio como um financista de sucesso. Ele não era bem visto por seus colegas economistas e nunca teve muito trabalho acadêmico no Brasil, mas havia fundado o maior banco privado de investimentos do país, o BTG Pactual, e fez fortuna com isso, partindo para outros empreendimentos bem antes que fosse pego em investigações da Lava Jato. Um neoliberal puro-sangue, seus principais remédios para os males econômicos do Brasil são a privatização de todas as empresas estatais e bens para pagar a dívida nacional e a desregulamentação de todas as transações à vista. Com promessas como essas — mesmo que alguns estivessem céticos de que elas poderiam ser facilmente implementadas — o Capital tinha pouco a reclamar. Com os mercados financeiros enquadrados; a segurança e a economia atendidas: só faltava uma resposta à corrupção. A caminho da vitória após o primeiro turno da eleição, Bolsonaro despachou Guedes para trazer Moro a bordo. Ele precisou de pouca persuasão: dentro de alguns dias do segundo turno, Bolsonaro anunciou que Moro aceitara seu convite para se tornar ministro da Justiça do novo governo. Os magistrados da Mani Pulite, com a intenção de limpar o sistema político italiano, acabaram com os partidos dominantes da Primeira República e ficaram chocados ao descobrir que haviam instaurado Berlusconi. No Brasil, o juiz estrela da Lava Jato, depois de ter conseguido o mesmo, ficou feliz em se juntar a uma infâmia, em várias medidas, análoga.
*
Iniciado em janeiro, o novo governo marca uma ruptura mais radical com a era do PT, além do que jamais imaginaram os responsáveis pela queda de Dilma, com seus próprios partidos severamente impopulares nas pesquisas. Um elemento central dessa composição é o retorno das forças armadas à frente da arena política, trinta anos após o fim da ditadura militar. Nenhum ajuste institucional foi necessário. Na década de 1980, a democracia brasileira não foi arrancada das mãos dos generais pela revolta popular, tendo a soberania parlamentar sido devolvida pelos próprios generais, quando estes consideraram cumprida sua missão: erradicar qualquer ameaça à ordem social. Não houve acerto de contas com os conspiradores e torturadores de 1964-85. Não somente sua imunidade de qualquer acusação ou absolvição por lei de qualquer coisa que fizeram foi assegurada, como também a derrubada da Segunda República foi sancionada constitucionalmente com a legalização de seus governantes como presidentes regulares do Brasil e a aceitação da legislação introduzida por eles como continuidade jurídica normal com o passado. Em todo os casos, as tiranias sul-americanas das décadas de 1960 e 1970 anistiaram os crimes dos militares com a condição de se retirarem para os quartéis. Em todos os outros países, essas anistias foram parciais ou completamente anuladas quando consolidada a democracia. Somente no Brasil não foi assim. Em todos os outros países, entre um a cinco anos após a redemocratização, uma Comissão foi criada para examinar o passado. No Brasil, levou 23 anos para uma ser aprovada na Câmara de Deputados e nenhuma ação foi executada contra os criminosos nela identificados. De fato, em 2010, a Suprema Corte declarou que a lei de anistia nada mais é do que um “fundamento da democracia brasileira”. Oito anos depois, em um discurso comemorativo do trigésimo aniversário da Constituição promulgada após a saída dos generais, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli — ex-office boy jurídico do PT e provavelmente a figura mais desprezível de todo o atual cenário político — abençoou formalmente sua tomada do poder, dizendo para seu público: “Hoje não me refiro nem mais a golpe nem a revolução. Me refiro a movimento de 1964”.
O exército se intrometeu eleitoralmente já no início de 2018. Em abril, o general Eduardo Villas Boas advertiu contra qualquer concessão de habeas corpus a Lula, em nome, como explicou depois, do valor mais estimado pelas forças armadas, a estabilidade do país. Com Bolsonaro seguramente eleito, Villas Boas saudou a vitória do novo presidente como uma bem-vinda liberação de energia nacional e, em janeiro, o agradeceu pela “libertação das algemas ideológicas que sequestram o livre pensamento” no Brasil. Discutir 1964 hoje seria ridículo, segundo ele, e a Comissão da Verdade, um desserviço ao país. Questões de segurança pública também eram questões de segurança nacional. Villas Boas participou de uma das intervenções militares periódicas para restaurar a ordem nas favelas do Rio e viu quão inútil que era a incompetência dos civis. Nisso se assemelhavam à intervenção militar brasileira no Haiti, que havia sido muito curta, segundo Villas Boas, o caos retornou assim que as tropas partiram. Bolsonaro não perdeu essa lição. Sua primeira designação-chave foi a do General Augusto Heleno, comandante das forças armadas que havia sido enviado ao Haiti — para sua vergonha, durante o governo de Lula, para agradar a Washington — para assegurar a expulsão de Aristide do poder. Heleno foi nomeado chefe de “segurança institucional” — uma espécie de superchefe de gabinete — no Palácio Presidencial, no qual outro general, Santa Cruz, também veterano do Haiti, tornou-se responsável pelas relações com o Congresso, ladeado por mais dois militares como Ministro da Defesa e Ministro da Ciência e Tecnologia. Heleno, o mais poderoso entre eles, não ocultou suas convicções, expressas na frase “direitos humanos são para humanos direitos” — para ninguém mais. Seu primeiro pronunciamento no governo foi comparar armas com carros, como algo que todo cidadão tem o direito de ter.
A ala econômica do governo, que se preocupa muito mais com os mercados financeiros, é mais frágil. Guedes reuniu ao seu redor uma equipe formada majoritariamente por neoliberais radicais de ideias afins, recebidos com entusiasmo pelo empresariado e capazes de construir em cima da desregulamentação já deixada por Temer. O ponto principal de sua agenda é o desmantelamento do sistema de previdência atual. Indefensável em qualquer medida de justiça social, absorvendo um terço das receitas fiscais, mais da metade dos pagamentos totais da previdência — que começam com uma idade média de 55 anos para homens — é para a quinta parte mais rica da população (juízes, militares e burocratas proeminentes em suas fileiras), e menos de 3% é reservada para aqueles que se encontram na pior situação econômica. Naturalmente, no entanto, desigualdade não é o motivador dos tradicionais esquemas de reformas previdenciárias, cuja prioridade no Brasil, como em qualquer outro lugar, não é repará-la, mas reduzir o custo das aposentadorias no orçamento, enquanto outros cortes ficam na espera. As privatizações se anunciam como a forma de pagar a dívida. Uma centena de empresas estatais de diferentes tipos — principalmente as de infraestrutura: rodovias, portos, aeroportos — estão programadas para serem descartadas ou fechadas, naturalmente, também em nome da eficiência e de um melhor serviço, sob a direção de um engenheiro militar, outro veterano do Haiti. Como no governo de FHC, muitas das mais ricas receitas irão, sem dúvida, para os investidores estrangeiros. A reação eufórica do Financial Times frente ao pacote econômico que se avizinha é compreensível. Por que se preocupar com alguns poucos erros políticos? “López Obrador é uma ameaça maior à democracia liberal do que Bolsonaro”, escreveu seu editor latino-americano.
Essa revisão da economia altamente austera exige, é claro, sua passagem pelo Congresso. Ali, muitos comentaristas brasileiros esperam resistência, devido à dependência de tantos membros do Congresso da provisão de fundo federais para seus estados, que a austeridade cortaria. A privatização também é vista com frequência como em contradição com o nacionalismo estatista dos militares brasileiros — tendo o próprio Bolsonaro, como deputado, se oposto veementemente a ela — o que na prática a atenuaria. Em ambos os casos, este ceticismo é justificável. Sob as presidências do PT, o legislativo foi uma barreira fundamental para os desejos do executivo, limitando o que podia ser feito e comprometendo aquilo que era feito, com notórios resultados. Porém, esse foi o produto previsível entre um partido radical que controla um ramo do sistema de governo e um grupo de partidos conservadores que controlam outro. Quando não havia tamanha tensão entre o presidente e o Congresso, como na administração de centro-direita de FHC, o executivo raramente tinha frustrações — passando, sem problemas, as privatizações, por exemplo. O tipo de neoliberalismo de Bolsonaro se anuncia significativamente mais drástico, mas a demanda popular por mudança é muito maior e a oposição a ele no Congresso é notadamente mais fraca.
Lá, seu Partido Social Liberal (PSL) de fachada, “remendado” semanas antes das eleições, será a maior força na Câmara dos Deputados, tão logo seja recheado, e logo será, com deserções da imensa maioria no pântano dos grupos venais menores. O outrora poderoso PSDB e PMDB foram reduzidos à sombra do que já foram, sua representação no Congresso caiu pela metade. O debacle do PSDB e seu patriarca foi especialmente notável. Depois de falhar em persuadir um apresentador de TV vazio a concorrer à presidência, ver o candidato de seu partido receber menos de 5% dos votos nacionais e se recusar a apoiar Haddad contra Bolsonaro na segunda rodada, FHC terminou com o PSDB em São Paulo — e, sem dúvida, em breve, nacionalmente — nas mãos de João Doria, outro apresentador de TV empresário, astro de um programa baseado em O aprendiz, de Trump. Essa figura reptiliana assumiu o rótulo “Bolsodoria”, geminando-se descaradamente com o vencedor da presidência. Justiça poética. No Congresso, o caminhão da política deve correr depressa, com os deputados subindo a bordo por medo ou ganância para dar ao Executivo, pelo menos para começar, as maiorias de que precisa. Quanto à resistência militar à privatização ou aquisições estrangeiras, o primeiro dos generais do Brasil a governar o país depois que eles tomaram o poder em 1964, Castelo Branco, não era inimigo de nenhuma delas. Seu ministro do Planejamento, mais tarde embaixador em Londres, foi o célebre campeão do livre mercado e do capital estrangeiro, Roberto Campos. Bolsonaro acaba de nomear o neto de Campos como chefe do Banco Central. Acreditar que a venda de bens públicos vai separar Bolsonaro e seus pretorianos poderia ser uma ilusão.
Um risco mais sério para o novo regime está no negócio inacabado da Lava Jato. Como o antigo, o novo Congresso está repleto de corrompidos e corruptores, geradores de fortunas malogradas, aqueles que passaram vidas inteiras em corrupção assídua — na verdade, tornou-se um santuário para aqueles que já estão na mira dos policiais, que se elegeram deputados apenas para ganhar imunidade de processo. O mais proeminente entre eles é Aécio, com várias acusações se acumulando contra ele. Tampouco Bolsonaro e sua família estão limpos, os investigadores que, após a eleição, não só descobriram transações suspeitas nas contas de seu filho Flávio, mas, ainda mais explosivamente, ligam-se a um ex-capitão da polícia militar no Rio de Janeiro, duas vezes relacionado a acusações de assassinatos no estilo das milícias, que podem estar implicados no assassinato de Marielle Franco, a vereadora e ativista negra cuja morte no ano passado causou protestos internacionais. E poderia Moro, como ministro da justiça, passar uma borracha sobre os delitos aos quais, como magistrado, devia sua reputação de impiedoso? Ele já explicou que as 10 Medidas contra a Corrupção, que por anos ele insistiu que tinham que ser aprovadas para que o país ficasse limpo, precisavam ser “repensadas”: nem todas elas são mais tão importantes. Ainda assim, desanuviar de uma vez toda a dinâmica da Lava Jato destruiria sua posição. Se o Congresso tentasse aprovar uma anistia geral para casos de corrupção, um movimento discutido sob Temer, o palco seria preparado para um conflito de poderes total — como também seria se, ao contrário, Moro pressionasse a Suprema Corte para dar imunidade a muitos deputados. É nessa frente que o potencial de combustão é mais real.
*
Mantendo estes diversos segmentos do regime juntos está o círculo composto pelo próprio Bolsonaro, seus filhos e sua entourage imediata. Sua chegada ao ápice do estado marca uma alteração significativa na geografia do poder no Brasil. Depois que o presidente Getúlio Vargas se suicidou no Palácio do Catete em 1954, a capital do país por cerca de duzentos anos perdeu sua posição de centro da política nacional. A construção de Brasília começou em 1956 e foi concluída em 1960. A partir de então, os presidentes vieram de São Paulo (Jânio, Cardoso, Lula), Rio Grande do Sul (Jango), Minas (Itamar, Dilma) ou do Nordeste (Sarney, Collor). Demovido politicamente, o Rio declinou — em alguns pontos, diria, apodreceu — economicamente, socialmente e fisicamente. Nem o PT nem o PSDB conseguiram uma boa presença na cidade, por muito tempo uma terra ideológica de ninguém, com pouca participação na política nacional. Isso começou a mudar com a ascensão de Cunha ao leme do Congresso, uma figura carioca arquetípica com um bando de deputados monetarizados à sua disposição. O novo regime consuma a mudança. Depois de seis décadas em que o Rio foi marginal, o poder retornou. Todos os três cargos mais importantes na administração são ocupados por seus produtos — Bolsonaro na presidência, Guedes no Ministério da Fazenda e o trambiqueiro de marca maior Rodrigo Maia na antiga cadeira de Cunha como presidente da Câmara. No gabinete, que pela primeira vez na história da república não contém um único ministro do norte ou do nordeste, todos provenientes de apenas seis dos 26 estados brasileiros, o maior contingente — um quarto — são nativos do Rio. É uma mudança de sinal.
Como, então, Bolsonaro pode ser classificado? Frequentemente ouvida à esquerda no Brasil e na imprensa liberal na Europa, é a opinião de que sua ascensão representa uma versão contemporânea do fascismo. O mesmo, é claro, é uma representação padrão de Trump nos círculos liberais e esquerdistas da América e do Atlântico Norte em geral, embora seja geralmente acompanhado de esclarecimentos — "muito parecido" "reminiscente de", "próximo a" — deixando claro que isso é pouco mais do que preguiçosa invectiva [5]. O rótulo não é mais plausível no Brasil. O Fascismo foi uma reação ao perigo de revolução social em tempos de ruptura e depressão econômica. Ele se baseava em quadros dedicados, movimentos de massa organizados e possuídos de uma ideologia articulada. O Brasil teve sua versão na década de 1930, os Integralistas, que em seu auge somavam mais de um milhão de membros, com um líder articulado, Plínio Salgado, uma extensa imprensa, programa de publicações e um conjunto de organizações culturais, e que chegou perto de tomar o poder em 1938, após o fracasso de uma insurreição comunista em 1935. Nada que seja remotamente comparável em termos de perigo para a ordem estabelecida da esquerda, ou de uma força de massa disciplinada à direita, que existe hoje no Brasil. Em 1964, ainda havia um grande partido comunista, com influência dentro das forças armadas, um movimento sindical militante e crescente agitação no campo, sob um presidente fraco que defendia reformas radicais. Isso foi o suficiente para provocar não o fascismo, mas uma ditadura militar convencional. Em 2018, o antigo partido comunista já havia desaparecido há muito tempo, sindicatos combativos eram um número reduzido, os pobres passivos e dispersos, o PT um partido levemente reformista, há anos em bons termos com grandes empresas. Cuspindo fogo, Bolsonaro pôde vencer uma eleição. Mas é ínfima alguma infraestrutura organizada em torno a ele e não se faz necessária nenhuma repressão de massas, já que não há oposição de massas a ele.
Bolsonaro pode ser melhor categorizado como populista? O termo agora sofre de tal inflação, como o espantalho para todos os fins da mídia bem pensante, que sua utilidade declinou. Sem dúvida, sua postura como valente inimigo do establishment e seu estilo como um homem rude do povo, pertence ao repertório do que geralmente é visto como populismo. Tomando como modelo o presidente dos EUA, ele supera Trump ao se enrolar na bandeira nacional e cuspir uma corrente no Twitter — 70% a mais de tweets do que o segundo em sua primeira semana no cargo. Mas na galeria dos populistas de direita de hoje, Bolsonaro não se encaixa no esquema padrão em pelo menos dois aspectos. A imigração não é um problema no Brasil, onde apenas 600.000 de uma população de 204 milhões são nascidos no exterior — 0,3%, comparado com 14% nos EUA e no Reino Unido, ou 15% na Alemanha. O racismo, é claro, é uma questão à qual tanto Bolsonaro como Trump fez apelos encobertos, e cuja violência nas práticas da polícia ele encorajará. Mas, ao contrário de Trump, ele obteve um grande apoio eleitoral na comunidade negra e parda, e isto não tem nenhum risco de parecer um equivalente à retórica anti-imigrantista do Norte do Atlântico. Um terço de seu partido no parlamento, na verdade, não é branco — uma porcentagem mais alta do que no muito alardeado contingente progressista democrata no 116º Congresso dos EUA.
Uma segunda diferença significativa está no caráter do nacionalismo de Bolsonaro. O Brasil não é um país afligido ou ameaçado pela perda de soberania como a UE ou pelo declínio imperial como os EUA ou o Reino Unido, os dois impulsionadores do populismo de direita no Norte. Sua patriótica forma de bater no peito é mais superficial. Hoje ele não é inimigo do capital estrangeiro. Seu nacionalismo, em expressão hiperbólica, toma essencialmente a forma virulenta de anti-socialismo, anti-feminismo e homofobia, excrescências estranhas para a alma brasileira. Mas não tem nada contra o livre mercado. Na linguagem local, oferece o paradoxo de um populismo entreguista, um populismo “indiferente” — pelo menos em princípio, perfeitamente disposto a entregar ativos nacionais a bancos e corporações globais.
A comparação com Trump, a analogia mais próxima de Bolsonaro como político, indica um conjunto diferente de pontos fortes e fracos. Embora ele tenha um background muito mais humilde, Bolsonaro é menos analfabeto. A educação em uma academia militar se ocupou disso: os livros não são um completo mistério para ele. Consciente de algumas de suas limitações, ele não possui o grau de egomania de Trump. A confiança arrogante de Trump em si mesmo não vem apenas de um histórico familiar milionário, mas de uma longa carreira de sucesso na especulação imobiliária e no show business. Bolsonaro, que nunca dirigiu nada em sua vida, não tem essa formação existencial. Ele é muito menos seguro. Dado, como Trump, a todo tipo de explosão intempestiva, ao contrário de Trump, ele recuará rapidamente se as reações se tornarem muito negativas. As primeiras semanas de sua administração foram uma cacofonia de declarações conflitantes e retratações ou negações delas.
Não é apenas pelo caráter, mas também pelas circunstâncias, que Bolsonaro é uma figura mais frágil. Tanto ele quanto Trump foram catapultados para o poder praticamente da noite para o dia, contra todas as expectativas. Trump assumiu a presidência com uma porcentagem muito menor dos votos — 46% — do que a maioria de 55% de Bolsonaro. Mas seus defensores são fervorosos e solidamente ideológicos, ao passo que o apoio de Bolsonaro pode ser até mais amplo, mas é mais superficial, como mostram as pesquisas pós-eleitorais que indicam a rejeição de muitas de suas políticas propostas. Trump, além disso, chegou ao poder ao apoderar-se de um dos dois grandes partidos do país, enquanto Bolsonaro conquistou o poder efetivamente pelo que é, sem nenhum apoio institucional para a eleição. Uma vez eleito, por outro lado, ele não irá, porque não pode, governar sem levar em conta as instituições em sua volta, como Trump tentou fazer. Isso não significa que ele será menos brutal, já que no Brasil muitas dessas instituições são mais autoritárias do que nos EUA. Os povos indígenas da Amazônia são vítimas certas: ao contrário dos negros, são quantidade insignificante nas urnas, e à medida que os pecuaristas varrem seu habitat (com consequências de longo prazo que não serão apaziguadas pelos lúgubres gestos do norte global em direção à mudança climática), eles serão os primeiros a sofrer. Da mesma forma, é fácil imaginar — especialmente se a economia não se recuperar e ele precisar desviar o foco disso — Bolsonaro reprimindo violentamente os protestos estudantis; acurralando ativistas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) ou seu equivalente urbano, o MTST, e banindo suas organizações; reprimindo greves, quando necessário. Mas, tirando a floresta, essa repressão provavelmente será no varejo, não no atacado. Fazer mais, no momento, seria um excesso comparado ao que é necessário.
*
E o que será do PT? Longe de florescer, mas até agora sobrevivendo. Com 10% dos votos e 11% das cadeiras na Câmara dos Deputados, evitou a derrocada do PSDB e do PMDB. Com Lula na cadeia, o que será mais provável de ocorrer? Aqui as opiniões qualificadas se dividem. Para Singer, a realidade central dos anos do PT era, como os títulos de seus dois livros deixam claro, o lulismo — a pessoa ofuscando o partido. Para o maior estudioso americano do Brasil contemporâneo, David Samuels, é o inverso: o fenômeno mais profundo e duradouro foi o petismo — o partido e não a pessoa. Lula, em sua opinião, não era um líder carismático como Vargas, nem como seus herdeiros do Rio Grande do Sul, João Goulart ou Leonel Brizola, políticos sem raízes reais em um partido. Mas nem por isso, diferentemente dessas figuras, ele foi um populista. Financeiramente ortodoxo, respeitoso com as instituições democráticas, ele não criou um sistema político em torno de si, e nem mesmo deu lugar à retórica maniqueísta inflamatória de “eles” e “nós”. Na leitura de Samuels, o lulismo em si nunca foi mais do que um “leve apego psicológico”, em comparação com a força organizacional do PT e a sólida implantação na sociedade civil. Singer errou tanto em exagerar a importância de Lula quanto em atribuir uma perspectiva geralmente conservadora aos pobres, compensada por um investimento especial nele. Em 2014, Samuels e seu colega brasileiro Cesar Zucco escreveram: “Olhando para a nossa bola de cristal, vemos o PT como pilar do sistema partidário do Brasil. Sem ele, a governabilidade será difícil.” [6]
As previsões de Singer envelheceram melhor. Os eventos mostraram que seu senso do pensamento dos despossuídos, seu medo da desordem e ansioso desejo por estabilidade, eram mais acurados. Como por clarividência, muitas páginas do seu Os Sentidos do lulismo (2012), observando os precedentes históricos de Collor e Jânio Quadros, se pareceram com um cenário do triunfo de Bolsonaro nas zonas populares do Brasil seis anos depois. O que isso significou para as relações entre o PT e seu líder desde então? Na véspera de sua prisão, um entrevistador comentou com Lula: “Há quem diga que o problema no Brasil é que ele nunca conheceu uma guerra, uma ruptura”. Sua resposta foi: “Eu concordo. É engraçado o jeito que toda vez que o Brasil esteve à beira de uma ruptura, houve um acordo. Um acordo feito no andar de cima. Quem está por cima nunca quer sair.” A resposta é reveladora: o que ela exclui é a possibilidade de que aqueles que estão acima possam querer uma ruptura — uma ruptura pela direita, não pela esquerda. No entanto, foi efetivamente isso que atingiu o PT em 2016-18, algo com o qual eles ainda precisam digerir melhor. No poder, enquanto as coisas estavam boas, o PT beneficiou os pobres; mas não os educou nem os mobilizou. Seus inimigos, enquanto isso, não apenas os mobilizaram, mas os educaram até os mais recentes padrões pós-modernos. O resultado foi uma guerra de classes unilateral. As grandes manifestações que terminaram por derrubar Dilma foram o resultado de uma galvanização da classe média como o Brasil nunca havia testemunhado; possibilitada por um domínio das mídias sociais, transmitida de sua juventude para Bolsonaro, refletindo uma transformação do país que por pouco não foi uma revolução social. Entre 2014 e 2018, apesar da recessão, o número de smartphones superou o número de habitantes, e seu uso deixaria qualquer outra implantação política deles, fosse na Europa ou na América, para trás.
Essa, evidentemente, não foi a única realidade letal que o PT falhou em reconhecer. No governo, ele rejeitou a mobilização em favor da cooptação; e cooptação — da classe política e econômica brasileira — significa corrupção. E isso esteve em sintonia com sua escolha estratégica para o Executivo. “Entre o consentimento e a força está a corrupção”, escreveu Gramsci, “o que é característico de situações em que é difícil o exercício da hegemonia e o uso da força é arriscado demais.” Renunciando à hegemonia, que exigiria um esforço sustentado de educação popular e organização coletiva, e recusando a coerção, direção para a qual nunca houve qualquer tentação, o partido ficou com a corrupção. Para seus líderes, qualquer outra coisa parecia muito difícil ou muito arriscada. A corrupção era o preço de seu “reformismo fraco”, nas palavras de Singer, e dos benefícios reais que ela possibilitava. Mas uma vez exposto, o partido não encontrou palavras para rotular ou criticar o que fizera. E em vez disso, em um eufemismo extremamente revelador — e também desastrosamente correto — o PT explicou que precisava “superar sua adaptação ao modus vivendi da política tradicional brasileira”. Modus vivendi: uma maneira de conviver — apenas isso.
Recorrer a eufemismos não oferece escapatória para um passado para o qual o PT ainda permanece acorrentado, da maneira mais dolorosa e paralisante possível. A Lava Jato está longe de terminar com seu astro e vítima maior. A sentença de 12 anos de Lula por suas vistorias em um condomínio à beira-mar foi apenas o começo. Um segundo julgamento com acusação similar — envolvendo uma empreiteira que recebeu contratos governamentais enquanto ele estava no exercício para as melhorias no sítio de um amigo — está quase pronto, com um veredicto similar à vista. Essas acusações podem até ser, no frigir dos ovos, relativamente triviais, embora as sentenças não sejam. Já vem chegando, no entanto, acusações muito mais sérias, e não de desvios privados, mas de mal uso de grandes somas de dinheiro público — centenas de milhões de dólares à disposição da Petrobras quando Lula foi presidente — com base no recompensado testemunho do maior Judas do partido, seu braço direito na época, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, atualmente se vendendo como testemunha em mais casos para ação penal. O governo vai garantir máxima publicidade para os mega-julgamentos que estão por vir. Ele precisa acabar com Lula de vez.
O PT, e seus simpatizantes, profunda e compreensivelmente irritados com a falta de uma justiça não seletiva na qual os assuntos pessoais de Lula pudessem ser tratados, provavelmente terão que se confrontar com evidências, mesmo que manchadas, potencialmente muito mais danosas, naquilo que ameaça se tornar um processo indefinidamente estendido para desacreditar e confinar, por toda a vida, o ex-presidente. Como o partido vai reagir? Lula, que não foi diminuído na prisão, continua sendo, de forma esmagadora, o seu ativo político mais importante; no entanto, agora existe o perigo de ele se tornar, para muitos, quase igualmente um risco. Assegurar-lhe justiça histórica parece além de seus poderes. O partido depende dele para uma liderança firme, mas arrisca perder credibilidade se não se tornar independente dele. Âncora ou albatroz? Se Lula foi totalmente abduzido da cena, muitos acham que o PT rapidamente se fragmentaria. Em tal impasse, os militantes podem muito bem ser levados a ter expectativas de que, sob o regime de Bolsonaro, as condições do Brasil piorem tanto que poucos vão se importar mais com os escândalos perdoáveis do passado, e seus traços seriam obliterados em alguma convulsão política ainda maior por vir.
Por doze anos, o Brasil foi o único grande país do mundo a desafiar a época, a recusar o aprofundamento do regime neoliberal do capital e relaxar alguns de seus rigores em favor dos menos favorecidos. Se a experiência precisava terminar assim é algo imponderável. As massas não foram chamadas para defender o que haviam ganho. Será que os séculos de escravidão que separaram o país do resto da América Latina forjaram uma passividade popular insuperável, e o modus vivendi do PT era o melhor que se pode fazer? Em certas ocasiões, Singer sugeriu algo assim. Em outras, ele é mais rigoroso. O Brasil, escreveu recentemente, fracassou em conseguir a inclusão social de todos os seus cidadãos, tarefa que cabia à geração que veio após a ditadura. Mas na sua ausência, nenhum outro projeto é viável. De forma um pouco mais otimista, outro observador aguçado, um pouco à direita, Celso Rocha de Barros, observou que o lulismo não vai ser extinto no Brasil até que algo melhor o substitua. Pode-se até ter a expectativa de que esses julgamentos sejam válidos. Mas as memórias podem desaparecer e, em outros lugares, a exclusão social demonstrou ser demasiado cruelmente viável. A esquerda sempre esteve inclinada a transformar em previsões as suas próprias preferências. Seria um erro contar com uma derrota que se autocorrija com o tempo.
1. "Considerações sobre a operação Mani Pulite" (Revista CEJ 26, July-September 2004).
2. Companhia das Letras, 392 pp., £11.50, May 2018, 978 8 535 93115 0.
3. "Na prática, ministros do STF agridem a democracia, escreve professor da USP" (Ilustríssima, 28 January 2018): o melhor retrato do atual tribunal.
4. Boitempo, 216 pp., £15, March 2018, 978 8 575 59621 0
5. Para uma demolição abrangente do rótulo e a literatura que o envolve, VER Dylan Riley, "What is Trump?", New Left Review 114, pp. 5-31.
.
6 "Lulismo, Petismo, and the Future of Brazilian Politics", Journal of Politics in Latin America 3, onde o lulismo se contrasta com o peronismo. Para dissidência reiterada de Singer, ver o seu Partisans, Antipartisans, Nonpartisans: Voting Behaviour in Brazil (Cambridge, 196 pp., £75, May 2018, 978 1 108 42888 0).




Brasil não fracassou e nunca fracassará em nada.
ResponderExcluir