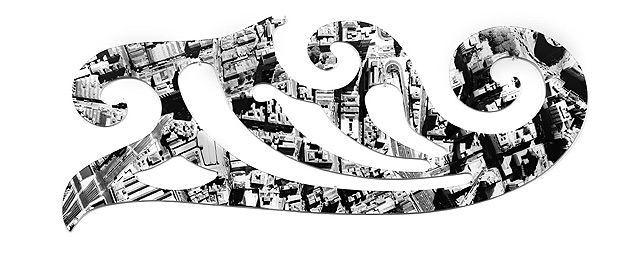Asad Haider
Jacobin
Tradução / O espetáculo de um Partido Democrata em crise em sua Convenção Nacional de 2016 levou Donald Trump a tweetar, em um exemplo habilidoso de apropriação da retórica de esquerda pela direita: “Enquanto Bernie [Sanders] abandonou completamente a luta pelo povo, nós damos boas vindas a todos os eleitores que desejam um futuro melhor para nossos trabalhadores”.
A responsabilidade por este cenário despenca sobre os ombros dos liberais americanos que, escandalizados pelas investidas de Trump, consolidaram a profecia autorrealizável de que um populismo de esquerda nunca seria capaz de derrota-lo. A última areia sob o caixão foi jogada pelo próprio Sanders durante a convenção democrata, quando desafiou seus apoiadores a pavimentar o caminho para um candidato cuja percepção pública é caracterizada pela corrupção, pelo segredo e pelo oportunismo.
Na semana anterior, enquanto aceitava sua nomeação na Convenção Nacional Republicana, Trump declarou a si mesmo como “o candidato da lei e da ordem” e prometeu que “a segurança será restaurada” por sua presidência. No dia seguinte, um angustiado editorial do Washington Post declarou Trump “uma ameaça única à democracia”.
Mas as memórias oficiais são muitas curtas – todo momento na representação da política americana parece como a exceção à regra. Não faz muito tempo que a esquerda liberal dos Estados Unidos declarou George W. Bush como uma inflexão sistêmica no sentido de uma monarquia satânica, inaugurando uma era de vigilância, desigualdade e guerra. Barack Obama, em contraste, ofereceu um momento excepcional de esperança: um líder charmoso, erudito e cosmopolita que tranquilamente nos orienta para esferas ainda mais baixas de vigilância, desigualdade e guerra.
Neste momento a temporada eleitoral confronta a raivosa supervisão militar estratégica de Obama com um bilionário sociopata, desequilibrado e com uma mente perspicaz para o marketing. Nesta eleição às avessas, passou a ser tolice prever qualquer coisa, mas pode ser razoável perguntar algo até aqui ignorado: se oito anos de Bill Clinton nos legou George W. Bush e oito anos de Obama nos deixou Trump, o que oito anos de Hillary Clinton pode oferecer?
Felizmente Trump nos dá uma sugestão. Ao reviver os slogans de Reagan e Nixon, e apresentar sua candidatura como uma reação ao conflito social ao redor da violência policial racista, ele deixou sua linhagem evidente. Enquanto a esquerda americana ainda precisa compreender a sequência que parte de Nixon para Reagan, Bush e Trump, o intelectual britânico nascido na Jamaica, Stuart Hall devotou boa parte de sua carreira lutando para entender a emergência inquietante de Margaret Thatcher no contexto do debate no interior da esquerda britânica, de maneira que antecipa o que agora se passa no contexto dos Estados Unidos.
“O que o país precisa” – falou Thatcher em sua campanha de 1979 – “é menos taxas e mais lei e ordem”. Para Hall, o sucesso deste slogan não era surpreendente. Um ano antes de Thatcher assumir como Primeira Ministra, ele havia se engajado em pesquisar o clima social no qual esta retórica poderia se conectar à mentalidade pública e se concentrara no “pânico moral” ao redor dos crimes de assalto à mão armada.
Primeiro editor da revista New Left Review, Hall foi designado como diretor do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham no final dos anos 1960 por seu fundador, Richard Hoggart. Ao lado de colegas no Centro ele publicou, em 1978, Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order.
O estudo estava, inicialmente, centrado nas representações midiáticas do crime, mas este era na verdade um componente de uma análise mais ampla do declínio da socialdemocracia britânica e a queda da fábula do “consenso do pós-guerra”, que prevalecia desde 1945 quando o Partido Trabalhista formou um governo de maioria.
No período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, o Estado assumiu indústrias falidas, empregou uma grande proporção do trabalho, regulou a demanda e o emprego, assumiu a responsabilidade pelo bem-estar social, expandiu a educação para alcançar os requisitos de um desenvolvimento tecnológico, aumentou seu envolvimento na comunicação midiática e trabalhou para harmonizar o comércio internacional.
Apesar do compromisso declarado do Partido Trabalhista com o socialismo, a estabilização da economia no pós-guerra não alterou fundamentalmente o sistema econômico subjacente. Ela foi, ao contrário, capaz de construir um Estado de bem-estar tendo como base um “período de crescimento produtivo sem precedentes” e, como Policing the Crisis explica, a democracia representativa do pós-guerra se desenvolveu na base do “papel protuberante do Estado nos assuntos econômicos”.
Mas a participação britânica no boom econômico do pós-guerra foi feita de fraquezas importantes, causadas pelos efeitos debilitantes do legado imperial e por uma estrutura industrial ruidosa e resistente à inovação. Ela não conseguia se equiparar à afiada competição internacional, às flutuações na taxa de lucro e ao aumento da inflação. Ainda assim, o Partido Trabalhista pintou uma imagem de si no beco, afirmando a “ausência de estratégia alternativa para administrar a crise econômica”.
As condições econômicas desfavoráveis não eram apenas obstáculo ao desafio da preservação da ordem existente. O Estado precisaria confrontar, ainda, “uma forte, ainda que frequentemente corporativa, classe trabalhadora com expectativas materiais crescentes, tradições fortes de barganha, resistência e luta”. Consequentemente, “cada crise do sistema adquiriu a forma aberta de uma crise de administração estatal”. Seguindo as pistas de Antonio Gramsci e Nicos Poulantzas, Hall e seus colegas chamaram esta situação por “crise de hegemonia”.
O Estado passou a cumprir mais e mais o papel de atacar as “barganhas” da classe trabalhadora, engana-la por meio da mediação do movimento de trabalhadores organizados e cujas instituições haviam “sido progressivamente incorporadas na administração da economia”. Neste contexto, no qual a classe trabalhadora parecia se confrontar com o Estado diretamente, preservar o consenso como meio primordial da regra democrática ao invés da coerção, tornou-se um problema central.
A sociedade de consumo havia apresentado fontes potenciais para uma solução: o uso crescente das mídias de massa pelo Estado dirigido para moldar e transformar um “consenso em valores”. Mas durante a crise de hegemonia, o consenso não pode mais ser garantido; a crise se constitui “um momento de ruptura profunda na vida política e econômica de uma sociedade, um acúmulo de contradições (...) quando toda a base da liderança política e autoridade cultural se expõe e é contestada”.
E esta era a crise que se desdobrava. Ao final dos anos 1960, uma variedade de pânicos morais sobre a cultura jovem e a imigração estouravam na superfície da educada sociedade britânica. Um conjunto amplo de fenômenos, do protesto e contracultura à permissividade e crime, passou a se apresentar como parte de uma única e surpreendente ameaça às fundações da ordem social. Ao mesmo tempo, a economia presenciou “o retorno ao estágio histórico da luta de classes, de maneira visível, aberta e em escalada”:
“Uma sociedade que sai dos trilhos por meio da ‘permissividade’, ‘participação’ e ‘protesto’ no sentido ‘da sociedade alternativa’ e ‘anarquia’ é uma coisa. Outra, completamente diferente, é o momento em que a classe trabalhadora mais uma vez assume a ofensiva em um clima de militância ativa (...). A tentativa de um governo socialdemocrata administrar o Estado por meio de uma versão organizada do consenso finalmente se exauriu e entrou em colapso entre 1964 e 1970, então gradualmente a luta de classes se tornou mais e mais aberta, assumindo uma presença manifesta. Este desenvolvimento é eletrizante”.
As políticas de renda nos anos 1970, que tentaram administrar a inflação ao trocar pequenos aumentos salariais por um constrangimento no aumento dos preços, representaram uma tentativa de “exercer e reforçar as restrições sobre os salários e sobre a classe trabalhadora por meio do consenso”, ao “ganhar os sindicatos para uma colaboração plena com o Estado no processo de disciplina da classe trabalhadora”.
Mas este projeto falhou, em parte pela rebelião contínua das bases e “a mudança massiva do lugar do conflito de classe na indústria das disputas administração-sindicato para aquelas administração-chão de fábrica”. A militância de base e as organizações de chão de fábrica deslocaram a mesa de negociação: “condições locais puderam ser exploradas e vantagens locais aproveitadas em larga escala no ambiente industrial, especialmente na engenharia onde, como consequência das complexas divisões do trabalho, a paralização de dez trabalhadores em uma seção era capaz de travar toda a linha de montagem”.
A ideologia conservadora cumpriu um papel importante na resposta do Estado para esta ameaça. Uma “transição do controle apertado ao final dos anos 1960 para um fechamento plenamente repressivo nos anos 1970” abriu o caminho para “a sociedade da lei-e-ordem”. O pânico moral e a instabilidade econômica legitimaram o esforço do Estado em usar a repressão como forma de administrar a crise, uma “rotina do controle” que fez o policiamento parecer “normal, natural, além de correto e inevitável”.
Esta campanha possuía uma vantagem não evidente: ela ofereceu legitimidade para a iniciativa estatal “em disciplinar, restringir e coagir, para trazer – no enquadramento da lei e ordem – não apenas ativistas, criminosos, viciados em drogas e posseiros, mas mesmo as sólidas fileiras da classe trabalhadora. Esta classe recalcitrante – ou ao menos suas minorias mais desordeiras – também precisava ser conduzida à ordem”.
Em 1971, descompromissados com relação ao trabalho organizado, os conservadores foram capazes de atacar o poder dos sindicatos com o Ato de Relações Industriais. Eles apelaram para a “unidade nacional” e evocaram a “restauração da autoridade do governo”. Mesmo quando o Ato era repelido sob o governo do Partido Trabalhista que se seguiu, com seus “Contratos Sociais” centristas, seu efeito já era evidente no horizonte da classe trabalhadora. A crise representara uma mudança estrutural profunda no caráter do Estado capitalista do pós-guerra.
Todos estes elementos estavam sob consideração no Centro em Birmingham, assim como a ascensão de sentimentos racistas anti-imigrantes anunciados por parlamentares como Enoch Powell e os neofascistas do Fronte Nacional, em resposta às redefinições da identidade britânicas por rastafáris e os “rude boys” jamaicanos. Hall e seus colegas abordaram estas discordâncias culturais por meio do estudo do aumento percebido do crime violento.
A representação midiática do assalto à mão armada nos anos 1970 possuía uma característica particular, que persiste ainda hoje: uma associação deliberada e rígida do crime com a juventude negra. A polícia tem se engajado em “controlar e conter” a população negra desde o início dos anos 1970, mas depois da turbulência política e do colapso econômico da metade desta década, que resultou em cortes nas políticas bem estar, educação e suporte social, o impacto sobre a população negra concentrada nas cidades foi o mais grave.
Além disso, parte do efeito das revoltas dos anos 1960 tem sido introduzir uma nova sensibilidade de resistência no interior das cidades, e o que agora emergia era uma situação explosiva: “um setor da população, já mobilizado em termos de consciência negra, era agora também o setor mais exposto ao processo de aceleração da recessão econômica”.
A consequência foi “nada menos do que a sincronização dos aspectos de raça e classe da crise”, escreveram os acadêmicos de Birmingham. “Policiar os negros ameaçou o problema do policiamento dos pobres e dos desempregados: todos os três estavam concentrados precisamente nas mesmas áreas urbanas”. “Policiar os negros” tornou-se “sinônimo de policiar a crise”.
Aqui Policing the Crisis apresentou um slogan bastante citado: “raça é a modalidade na qual a classe é vivida”. Para membros negros da classe trabalhadora, é primeiramente por meio da experiência da “raça” que eles podem “chegar a uma consciência de sua subordinação estruturada”: “É por meio da modalidade da raça que negros compreendem, lidam e começam a resistir à exploração que é uma característica objetiva de sua situação de classe”. O poeta de dub raggae, Linton Kwesi Johnson cantou esta chegada à consciência, E a classe trabalhadora?:
As forças da reação foram rápidas e decisivas. A eleição de Margaret Thatcher como líder da oposição, em 1975, representou o movimento de uma direita radical saída das margens para o centro, erigida na ideologia da lei e da ordem para avançar uma estratégia de fuga em relação ao consenso do pós-guerra.
Esta estratégia assumiria lugar central à medida em que a administração da crise da socialdemocracia chegou a um inevitável impasse: “a Grã-Bretanha nos anos 1970 é um país para cuja crise não existe uma solução capitalista viável restante e, ainda, não existe uma base política para uma estratégia socialista alternativa. É uma nação presa em um dilema mortal: uma condição de declínio capitalista incontrolável”.
A dominação de classe assumiria novas formas, registradas principalmente “na inclinação da operação do Estado em se afastar do consenso e se aproximar do polo da coerção”. O pânico moral sobre o assalto violento, então, era “uma das formas aparentes de uma crise histórica profundamente enraizada”; ele cumpriu um papel importante na estabilização do Estado.
A percepção do aumento do crime era “uma das principais formas de consciência ideológica por meio da qual uma ‘maioria silenciosa’ é vencida para dar seu apoio às medidas crescentemente coercitivas por parte do Estado, e emprestar legitimidade para um uso do exercício do controle ‘mais do que o usual’”. Em 1977, a banda The Clash gravou em seu álbum de estreia um cover do músico jamaicano Junior Murvin, Police and Thieves, em que a descrição da polícia jamaicana se assemelhava muito à descrição de Londres.
O consenso do pós-guerra de um Estado de bem-estar benevolente abria caminho para um consenso autoritário, um desenvolvimento que o sociólogo britânico Ralph Miliband havia sugerido em 1969. Ele concluíra seu livro O Estado na sociedade capitalista com uma descrição de uma certa dialética entre reforma e repressão.
O Estado enfrenta a pressão social por meio da reforma, mas não pode nunca fazer isso de maneira plena: “na medida em que a reforma se revela incapaz de subjugar pressão e protesto, então se dá a mudança de ênfase no sentido da repressão, coerção, poder policial, lei e ordem”. Mas a repressão também engendra oposição, e “ao longo deste caminho está a transição de uma ‘democracia burguesa’ para um ‘autoritarismo conservador’”. Isto não necessariamente significa fascismo. Na verdade, o exemplo de Miliband vinha da esquerda:
Este fortalecimento do Estado, no entanto, deixara a socialdemocracia em uma situação de “vulnerabilidade crescente aos ataques da direita (...) o caminho se tornou mais suave para os candidatos a salvadores populares cujo conservantismo extremo esta cuidadosamente localizando sob uma retórica demagógica de renovação nacional e redenção social, alimentado de maneira sutil por um apelo a preconceitos raciais e outros tipos de preconceitos vantajosos”. Miliband concluiu que “o movimento socialista alcançou uma posição de comando de tal forma” que “pode ser tarde demais para as forças do conservadorismo assumir uma opção autoritária com alguma chance real de sucesso”.
Apesar disso, para Hall o governo Thatcher foi um exemplo de extraordinário sucesso do autoritarismo. Policing the Crisis mostrava como a administração socialdemocrata da crise capitalista havia criado contradições que abriam espaço para novas estratégias de direita, e como o consenso popular com a autoridade começava a se tornar assegurando por novas formas de luta ideológica.
O que agora emergia era uma estratégia antiestatal de direita – ou melhor, uma que se representava como antiestatal para ganhar o consenso do populacho descontente, ao mesmo tempo em que detinha uma abordagem altamente centralista em relação ao governo.
Esta estratégia funcionou ao se aproveitar o descontentamento popular e neutralizar a oposição, fazendo uso de certos elementos da opinião popular para modular uma nova forma de consenso. Em 1979, Hall elaborou sobre esta nova estratégia em um artigo chamado “O show do grande movimento à direita”. O texto foi publicado na revista Marxism Today, uma revista teórica experimental do Partido Comunista da Grã-Bretanha, meses antes da eleição de Thatcher como primeira ministra.
As raízes de sua ascensão, insistia Hall, estavam “na contradição no interior da socialdemocracia”, que havia “efetivamente desorganizado a esquerda e a resposta da classe trabalhadora para a crise”. Sintetizando a dinâmica que revisara historicamente em Policing the Crisis, Hall explicou que a contradição começava com os esforços da socialdemocracia em ganhar poder eleitoral, o que exigia a “maximização de suas exigências como a representação politica dos interesses da classe trabalhadora e do trabalho organizado” capaz de “administrar a crise” e “defender – dentro dos constrangimentos impostos pela recessão – os interesses da classe trabalhadora”.
Esta não era uma “entidade política homogênea, mas uma formação política complexa”, não uma expressão da classe trabalhadora no governo, mas “os meios principais de representação da classe”. “Representação”, como uma função política na democracia parlamentar, “precisa ser entendida como uma relação ativa e formativa”, que “organiza a classe e a constitui como uma força política” – uma força política socialdemocrata – ao mesmo momento em que se constitui.”
Uma vez que a social democracia entra no governo, no entanto, “se compromete em encontrar soluções para a crise que são capazes de alcançar apoio de setores-chave do capital, desde que estas soluções sejam enquadradas em seus limites”. Isto exige o uso da “conexão indissolúvel” com as lideranças sindicais, “não para avançar, mas para disciplinar a classe e organizações que representa”.
Esta função gira ao redor do Estado, e a socialdemocracia deve se apoiar “em uma interpretação neutra e benevolente do papel do Estado como encarnação do interesse nacional acima da luta de classes”. Ela toma por sinônimos a expansão do Estado e o socialismo, “sem referencia alguma à mobilização de poderes democráticos efetivos em níveis populares” e usa o intervencionismo alargado do aparelho do Estado para “administrar a crise capitalista de maneira favorável ao capital”.
O Estado termina “inscrito em todo aspecto e característica da vida social”: “a socialdemocracia não tem alternativa estratégica viável, especialmente para o grande capital (e o grande capital não possui uma estratégia alternativa viável para si mesmo) que não envolva o apoio massivo do Estado”.
Este é o pano de fundo para a direita radical, que opera no mesmo espaço da socialdemocracia e explora suas contradições. Ela “toma os elementos que já existiam construídos no espaço, os desmantela, reconstitui em nova lógica e articula o espaço de uma nova maneira, polarizando-o à direita”.
É possível apelar para a desconfiança no estatismo, para frustração com a administração socialdemocrata da crise capitalista e avançar uma agenda aparentemente antiestatal neoliberal. O thatcherismo visou valores coletivistas, mas também o estatismo real que havia contaminado o Partido Trabalhista desde o início – ele tirou vantagem da distancia que a liderança reformista havia tomado em relação as suas bases, e demonstrou o caráter irreconciliável entre valores coletivistas e o desafio de administrar a crise capitalista.
A realização mais admirável do thatcherismo foi sua habilidade de ligar as filosofias econômicas abstratas do liberalismo austríaco, desenvolvidas por heróis libertários como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, aos sentimentos populares no que diz respeito a “nação, família, dever, autoridade, padrões, autoconfiança”, motores ideológicos poderosos no contexto de mobilização política por lei e ordem.
Esta “mistura rica” Hall apelidou por “populismo autoritário” e seus operadores ideológicos não poderiam ser reduzidos à mera farsa – em fato, eles haviam operado sobre “contradições genuínas”, com “conteúdo racional e material”: “Seu sucesso e efetividade não está na capacidade de enganar algum popular desavisado, mas em endereçar problemas reais, experiências reais e vividas, contradições reais – e ainda ser capaz de representa-las por meio de um discurso lógico que as impulsiona sistematicamente na direção de políticas e estratégias de classe da direita”.
A revista Marxism Today era, acima de tudo, um projeto inusitado e de longo alcance, com o estilo visual de uma revista comercial e uma carapuça de cultura popular que procurou intervir na consciência da sociedade de consumo – provocando o repúdio do companheiro de Miliband, John Saville, que cuidadosamente e desdenhosamente documentou as páginas do periódico dedicadas ao mundo da moda.
No entanto, talvez a critica mais influente tenha sido realizado pelo próprio Miliband em O grande revisionismo na Grã-Bretanha, publicado na New Left Review em 1985. Este “novo revisionismo”, argumentou Miliband, era uma repetição da primeira onda representada por Hugh Gaitskell – que havia usado o termo na revista Parliamentary Socialism.
No centro estava o debate das questões estratégicas que o Partido Trabalhista enfrentava e que Miliband não achava que poderiam ser adequadamente capturadas pelas teorias do populismo autoritário. Ele relembrava que o declínio do apoio eleitoral da classe trabalhadora ao Partido Trabalhista já existia desde 1951, resultando de suas próprias contradições.
Como documentamos acima, Hall havia cuidadosamente analisado este fenômeno e, na verdade, feito dele a base para sua teoria sobre o thatcherismo. Mas, para Miliband, Hall ainda sobrevoava questão, condenando a suspeita da direção diante da “autoativação da classe trabalhadora”, apontando sua análise constantemente em termos das possibilidades de “renovação” do partido, mesmo que fosse cético quanto às suas possibilidades.
A principal preocupação de Miliband, por sua vez, era a de refutar a nova tendência revisionista que rejeitava a “política de classe”, entendida como “insistência no ‘primado’ do trabalho organizado em desafiar o poder capitalista, e o desafio de criar uma ordem radicalmente diferente”. Miliband defendia este primado: “nenhum outro grupo, movimento ou força na sociedade capitalista é remotamente capaz de se impor como desafiante efetivo e formidável às estruturas atuais de poder e privilégio como o poder do trabalho organizado”.
Existiam dois ângulos nos quais este primado poderia ser defendido, o primeiro relacionado às mudanças no processo de produção e horizonte social nos países de capitalismo avançado; André Gorz e seu Farewell to the Working Class Adeus à classe do trabalho foi nomeado um influente precursor do “revisionismo”.
Miliband aceitava que “a classe trabalhadora experimentou nos anos recentes um processo acelerado de recomposição, com o declínio de setores industriais tradicionais e um crescimento considerável dos trabalhadores de colarinho branco, de distribuição, serviços e setores técnicos”. Mas ele não aceitava que isto significasse que as coordenadas clássicas da política socialista deveriam mudar. Afinal, os assalariados continuavam a compor a maior parte da população dos países capitalistas avançados, e continuavam capazes de desenvolver uma consciência socialista.
O segundo desafio era aquele relativo aos novos movimentos sociais. Miliband começou com uma lembrança razoável de que “a classe trabalhadora incluía um grande número de pessoas que são membros dos ‘novos movimentos sociais’, ou que são parte do público que estes movimentos querem alcançar”. Mas ele também argumentou que seria uma erro para estas pessoas entender suas experiências de opressão pode meio das identidades.
De fato, a categoria de “política de classe” dera o compasso dos novos movimentos sociais na medida em que o trabalho organizando não lutou por seus fins economicistas e corporativos, “mas por toda a classe trabalhadora muito além dela”. Ainda que esta luta “requeira um sistema de alianças populares”, Miliband sustentou que “é apenas a classe trabalhadora organizada que pode formar a base deste sistema”.
A pergunta sobre “como” a classe trabalhadora pode se organizar, porém, ficou sem resposta. Como Robin Blackburn afirmou recentemente, “1985 marcou o começo de praticamente três décadas de desmobilização e desmoralização de classe” e Miliband “subestimou os efeitos da recomposição de alcance global do capital e trabalho no fim do século”. Sua discussão sobre os novos movimentos sociais se manteve especulativa, sem investigação séria das questões levantas sobre o caráter da política da classe trabalhadora.
Em contraste, a análise de Hall da raça como “modalidade” por meio da qual os trabalhadores negros se tornam conscientes de sua posição de classe estava baseada em uma análise da composição da classe trabalhadora negra, a história da cultura migrante, e a organização política das lutas negras – por meio da qual ele foi capaz de construir e identificar formas potenciais de atividade política que possuíam relevância geral para a classe, na medida em que o racismo era parte da maneira como as populações trabalhadoras eram estruturas pelo capital.
Este impasse estratégico afetou diretamente a conjuntura política com a experiência da greve dos mineiros em 1984-1985. A ferocidade desta luta tornou qualquer discussão carregada emocionalmente. Hall havia sido bastante crítico da greve – do sofrimento intenso e do risco implicado em fazer a greve em um período de austeridade e declínio industrial, e da decisão não democrática de fazer a greve sem uma votação.
Ele seguiu criticando o aspecto “familial e masculinista” da mobilização dos mineiros, “como homens que possuem um dever de se levantar e lutar”. O enquadramento como política de classe do momento, fixo em uma identidade de classe específica, havia impedido os mineiros de “generalizar sua luta em uma dimensão social mais ampla”.
Aspectos desta análise estavam provavelmente corretos. Mas ela provocou um afastamento compreensível de Miliband. Chegou um momento em que muitos, especialmente aqueles afiliados ao Marxism Today, passaram a associar a greve com uma prática teimosa e antiquada de uma “esquerda dura”.
O termo não está totalmente deslocado; qualquer um que tenha participado de um movimento social já se encontrou aqueles que se intitulam “guardiões das consciências de esquerda, como garantidas políticas, o teste limite da ortodoxia”. Mas em retrospecto, usado contra os que defendiam os sindicatos no contexto de um ataque capitalista implacável, este apelido era inadequado.
Por outro lado, o argumento de Miliband perdia as questões substanciais que estas críticas de fato levantavam. De acordo com a biografia de Michael Newman, ele foi criticado por sua esposa Marion Kozaks, que considerava que o artigo sobre o novo revisionismo “superestima o primado da classe e falha ao não dar peso suficiente aos movimentos sociais, os quais vê como divisores ao invés de potenciais aliados para os movimentos classistas – como, por exemplo, os grupos de mulheres que apoiam os mineiros”.
Estas linhas de aliança inesperadas foram recentemente dramatizadas no filme Pride, que mostra os esforços de arrecadação de recursos do Apoio de Lésbicas e Gays aos Mineiros, um gesto de solidariedade que foi devolvida pela participação de grupos de mineiros galeses na Marcha do Orgulho Gay de Londres, em 1985 e pelo apoio decisivo da União Nacional dos Mineiros para uma resolução interna do Partido Trabalhista em favor dos direitos LGBTs.
Conforme escreveram Doreen Massey e Hilary Wainwright em comentário sobre os grupos feministas de apoio à greve, “não é uma questão de ação industrial ou novos movimentos sociais, tampouco é uma questão de soma-los (...) Novas instituições podem ser construída para que ‘a política de classe’ possa ser vista como algo mais que simples militância industrial mais representação parlamentar”. Era justamente a urgência por estas novas instituições, e a dificuldade de construí-las, que estava por baixo do pessimismo de Hall:
Se cada lado do debate tinha um ponto, não está claro que todos os participantes entendessem o que a derrota catastrófica dos mineiros representava verdadeiramente. Apesar da clareza de Hall a respeito dos efeitos poderosos do populismo autoritário, sua teoria não parecia antecipar o quão drasticamente esta derrota mudaria o campo e o quão completa ela seria.
Este momento não foi adequadamente apreciado como uma derrota também para os novos movimentos sociais. Ao longo da vida das coalizões “arco-íris”, multiculturalismo, e políticas de identidade, sua sobrevivência indicaria a separação crescente em relação às formas organizacionais de base e aos movimentos militantes com os quais poderiam forma alianças antissistema permanentes. E apesar de sua oposição anterior sobre o novo revisionismo, não está claro que a abordagem de Miliband o teria conduzido a uma alternativa política.
Apesar das desventuras que envolvem o nome Miliband, é Hall que é frequentemente acusado de ter pavimentado o caminho para o Novo Trabalhismo. Isto de alguma forma confunde o funcionamento da dinâmica: foi o thatcherismo que pavimentou o caminho para o Novo Trabalhismo, e Hall foi uma das pessoas que descreveu com grande clareza o thatcherismo como um modo de operação. Não há razão para duvidar que Miliband teria criticado o giro dramático à direita engendrado por Tony Blair se estivesse vivo.
Hall, por sua vez, execrou Blair em uma edição única de “retomada” da Marxism Today em 1997 (não circulava desde 1991), em um artigo chamado “O grande show da movimentação para o nada”. Enquanto documentou as capitulações do Novo Trabalhismo ao neoliberalismo, e os novos sujeitos sociais que delas se manifestavam (“homem econômico ou como ela/ele gosta de ser chamado, O Sujeito Empreendedor e o Consumidor Soberano”), ele não apresentou uma análise política do fenômeno comparável ao que havia feito com o thatcherismo.
Obviamente Blair estava seguindo os passos de Bill Clinton, cujo mandato presidencial não apenas trouxe o Tratado de Livre Comércio das Américas (NAFTA), a lei do crime e a reforma da lei do bem-estar, mas também estava empenhado em um estilo cultural, direcionado por grupos focais e imagens de consultoria, que jogavam com a diversidade dos novos tempos, levando Toni Morrison ao famoso comentário de que Clinton era o “primeiro presidente negro”.
Um termo além do “populismo autoritário” seria necessário para descrever este fenômeno, que mostrou, por um lado, que a estratégia hegemônica da direita era bem sucedida a ponto de absorver a esquerda conhecida e facilitar a consolidação da desigualdade econômica e a reversão seguinte das reformas condensadas no Estado; e, por outro lado, que o pluralismo, a celebração da mídia popular e olhar para a cultura jovem não necessariamente constituem, na ausência de mobilizações revolucionárias viáveis, uma força de oposição, como as campanhas de base para o verdadeiro primeiro presidente americano negro mostraram desde então.
É precisamente no frustrante desenvolvimento de um agente antagonista que a discussão sobre a cultura e a ideologia deve ser situada – não como uma explicação de mecanismos complexos e viradas da política eleitoral. Muito tempo depois de Thatcher e Reagan uma indústria de comentadores pergunta por que a classe trabalhadora americana vota contra “seus interesses”, nos convidando a opor Kansas e Connecticut, estado vermelho e estado azul. Mas na verdade é na decomposição e desorganização da classe trabalhadora que devemos procurar a explicação para a emergência da direita – não na consciência, falsa ou o que seja.
As evidencias empíricas mostram que a classe trabalhadora nos Estados Unidos, medida por renda, possui uma preferencia de voto consistente no Partido Democrata, e isso é verdadeiro mesmo se restringimos os dados para a classe trabalhadora branca. Mas ao contrário da lógica mercadológica “dos interesses”, esta prática de voto nunca aumentou o poder da classe trabalhadora, e portanto o éter indeterminado da opinião pública americana termina subordinado ao poder de vanguardas de direita. Se o populismo autoritário mudou as ideias das pessoas, ou não, é uma questão inútil.
O seu papel na transformação neoliberal foi atacar a possibilidade de alianças estratégicas entre os novos movimentos sociais e a organização no lugar de produção. Ideologias tradicionalistas de família, igreja e nação foram ataques preventivos contra uma potencial barreira política de acumulação que estas linhas de aliança poderiam impor a partir de baixo.
“Nossa convenção ocorre no momento de crise de nossa nação” disse Donald Trump na convenção republicana. Ele está certo; e a crise é também da esquerda. Nosso discurso muitas vezes se reduz a disputas mesquinhas, por uma lado uma absorção a-histórica em posturas espetaculares de rebelião sem direção e narcisismo identitário, por outro a ortodoxia indigesta e pouco atraente. Neste contexto, a arte da política não pode ser encontrada – com exceção talvez do delírio de direita, uma realidade que Hall também descreveu:
Nossa crise nos impediu de levar adiante uma tarefa urgente que Hall colocou com precisão: “como forças diferentes podem, juntas, conjunturalmente, criar um novo terreno no qual uma política diferente possa se formar”. Está colocado para nós inventar uma política diferente – ou Trump será o único a fazê-lo.
 |
| A polícia espera para esvaziar um acampamento anti-guerra em Washington, DC, em 1970. Washington Area Spark. |
Tradução / O espetáculo de um Partido Democrata em crise em sua Convenção Nacional de 2016 levou Donald Trump a tweetar, em um exemplo habilidoso de apropriação da retórica de esquerda pela direita: “Enquanto Bernie [Sanders] abandonou completamente a luta pelo povo, nós damos boas vindas a todos os eleitores que desejam um futuro melhor para nossos trabalhadores”.
A responsabilidade por este cenário despenca sobre os ombros dos liberais americanos que, escandalizados pelas investidas de Trump, consolidaram a profecia autorrealizável de que um populismo de esquerda nunca seria capaz de derrota-lo. A última areia sob o caixão foi jogada pelo próprio Sanders durante a convenção democrata, quando desafiou seus apoiadores a pavimentar o caminho para um candidato cuja percepção pública é caracterizada pela corrupção, pelo segredo e pelo oportunismo.
Na semana anterior, enquanto aceitava sua nomeação na Convenção Nacional Republicana, Trump declarou a si mesmo como “o candidato da lei e da ordem” e prometeu que “a segurança será restaurada” por sua presidência. No dia seguinte, um angustiado editorial do Washington Post declarou Trump “uma ameaça única à democracia”.
Mas as memórias oficiais são muitas curtas – todo momento na representação da política americana parece como a exceção à regra. Não faz muito tempo que a esquerda liberal dos Estados Unidos declarou George W. Bush como uma inflexão sistêmica no sentido de uma monarquia satânica, inaugurando uma era de vigilância, desigualdade e guerra. Barack Obama, em contraste, ofereceu um momento excepcional de esperança: um líder charmoso, erudito e cosmopolita que tranquilamente nos orienta para esferas ainda mais baixas de vigilância, desigualdade e guerra.
Neste momento a temporada eleitoral confronta a raivosa supervisão militar estratégica de Obama com um bilionário sociopata, desequilibrado e com uma mente perspicaz para o marketing. Nesta eleição às avessas, passou a ser tolice prever qualquer coisa, mas pode ser razoável perguntar algo até aqui ignorado: se oito anos de Bill Clinton nos legou George W. Bush e oito anos de Obama nos deixou Trump, o que oito anos de Hillary Clinton pode oferecer?
Felizmente Trump nos dá uma sugestão. Ao reviver os slogans de Reagan e Nixon, e apresentar sua candidatura como uma reação ao conflito social ao redor da violência policial racista, ele deixou sua linhagem evidente. Enquanto a esquerda americana ainda precisa compreender a sequência que parte de Nixon para Reagan, Bush e Trump, o intelectual britânico nascido na Jamaica, Stuart Hall devotou boa parte de sua carreira lutando para entender a emergência inquietante de Margaret Thatcher no contexto do debate no interior da esquerda britânica, de maneira que antecipa o que agora se passa no contexto dos Estados Unidos.
“O que o país precisa” – falou Thatcher em sua campanha de 1979 – “é menos taxas e mais lei e ordem”. Para Hall, o sucesso deste slogan não era surpreendente. Um ano antes de Thatcher assumir como Primeira Ministra, ele havia se engajado em pesquisar o clima social no qual esta retórica poderia se conectar à mentalidade pública e se concentrara no “pânico moral” ao redor dos crimes de assalto à mão armada.
Primeiro editor da revista New Left Review, Hall foi designado como diretor do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos da Universidade de Birmingham no final dos anos 1960 por seu fundador, Richard Hoggart. Ao lado de colegas no Centro ele publicou, em 1978, Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and Order.
O estudo estava, inicialmente, centrado nas representações midiáticas do crime, mas este era na verdade um componente de uma análise mais ampla do declínio da socialdemocracia britânica e a queda da fábula do “consenso do pós-guerra”, que prevalecia desde 1945 quando o Partido Trabalhista formou um governo de maioria.
No período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial, o Estado assumiu indústrias falidas, empregou uma grande proporção do trabalho, regulou a demanda e o emprego, assumiu a responsabilidade pelo bem-estar social, expandiu a educação para alcançar os requisitos de um desenvolvimento tecnológico, aumentou seu envolvimento na comunicação midiática e trabalhou para harmonizar o comércio internacional.
Apesar do compromisso declarado do Partido Trabalhista com o socialismo, a estabilização da economia no pós-guerra não alterou fundamentalmente o sistema econômico subjacente. Ela foi, ao contrário, capaz de construir um Estado de bem-estar tendo como base um “período de crescimento produtivo sem precedentes” e, como Policing the Crisis explica, a democracia representativa do pós-guerra se desenvolveu na base do “papel protuberante do Estado nos assuntos econômicos”.
Mas a participação britânica no boom econômico do pós-guerra foi feita de fraquezas importantes, causadas pelos efeitos debilitantes do legado imperial e por uma estrutura industrial ruidosa e resistente à inovação. Ela não conseguia se equiparar à afiada competição internacional, às flutuações na taxa de lucro e ao aumento da inflação. Ainda assim, o Partido Trabalhista pintou uma imagem de si no beco, afirmando a “ausência de estratégia alternativa para administrar a crise econômica”.
As condições econômicas desfavoráveis não eram apenas obstáculo ao desafio da preservação da ordem existente. O Estado precisaria confrontar, ainda, “uma forte, ainda que frequentemente corporativa, classe trabalhadora com expectativas materiais crescentes, tradições fortes de barganha, resistência e luta”. Consequentemente, “cada crise do sistema adquiriu a forma aberta de uma crise de administração estatal”. Seguindo as pistas de Antonio Gramsci e Nicos Poulantzas, Hall e seus colegas chamaram esta situação por “crise de hegemonia”.
O Estado passou a cumprir mais e mais o papel de atacar as “barganhas” da classe trabalhadora, engana-la por meio da mediação do movimento de trabalhadores organizados e cujas instituições haviam “sido progressivamente incorporadas na administração da economia”. Neste contexto, no qual a classe trabalhadora parecia se confrontar com o Estado diretamente, preservar o consenso como meio primordial da regra democrática ao invés da coerção, tornou-se um problema central.
A sociedade de consumo havia apresentado fontes potenciais para uma solução: o uso crescente das mídias de massa pelo Estado dirigido para moldar e transformar um “consenso em valores”. Mas durante a crise de hegemonia, o consenso não pode mais ser garantido; a crise se constitui “um momento de ruptura profunda na vida política e econômica de uma sociedade, um acúmulo de contradições (...) quando toda a base da liderança política e autoridade cultural se expõe e é contestada”.
E esta era a crise que se desdobrava. Ao final dos anos 1960, uma variedade de pânicos morais sobre a cultura jovem e a imigração estouravam na superfície da educada sociedade britânica. Um conjunto amplo de fenômenos, do protesto e contracultura à permissividade e crime, passou a se apresentar como parte de uma única e surpreendente ameaça às fundações da ordem social. Ao mesmo tempo, a economia presenciou “o retorno ao estágio histórico da luta de classes, de maneira visível, aberta e em escalada”:
“Uma sociedade que sai dos trilhos por meio da ‘permissividade’, ‘participação’ e ‘protesto’ no sentido ‘da sociedade alternativa’ e ‘anarquia’ é uma coisa. Outra, completamente diferente, é o momento em que a classe trabalhadora mais uma vez assume a ofensiva em um clima de militância ativa (...). A tentativa de um governo socialdemocrata administrar o Estado por meio de uma versão organizada do consenso finalmente se exauriu e entrou em colapso entre 1964 e 1970, então gradualmente a luta de classes se tornou mais e mais aberta, assumindo uma presença manifesta. Este desenvolvimento é eletrizante”.
As políticas de renda nos anos 1970, que tentaram administrar a inflação ao trocar pequenos aumentos salariais por um constrangimento no aumento dos preços, representaram uma tentativa de “exercer e reforçar as restrições sobre os salários e sobre a classe trabalhadora por meio do consenso”, ao “ganhar os sindicatos para uma colaboração plena com o Estado no processo de disciplina da classe trabalhadora”.
Mas este projeto falhou, em parte pela rebelião contínua das bases e “a mudança massiva do lugar do conflito de classe na indústria das disputas administração-sindicato para aquelas administração-chão de fábrica”. A militância de base e as organizações de chão de fábrica deslocaram a mesa de negociação: “condições locais puderam ser exploradas e vantagens locais aproveitadas em larga escala no ambiente industrial, especialmente na engenharia onde, como consequência das complexas divisões do trabalho, a paralização de dez trabalhadores em uma seção era capaz de travar toda a linha de montagem”.
A ideologia conservadora cumpriu um papel importante na resposta do Estado para esta ameaça. Uma “transição do controle apertado ao final dos anos 1960 para um fechamento plenamente repressivo nos anos 1970” abriu o caminho para “a sociedade da lei-e-ordem”. O pânico moral e a instabilidade econômica legitimaram o esforço do Estado em usar a repressão como forma de administrar a crise, uma “rotina do controle” que fez o policiamento parecer “normal, natural, além de correto e inevitável”.
Esta campanha possuía uma vantagem não evidente: ela ofereceu legitimidade para a iniciativa estatal “em disciplinar, restringir e coagir, para trazer – no enquadramento da lei e ordem – não apenas ativistas, criminosos, viciados em drogas e posseiros, mas mesmo as sólidas fileiras da classe trabalhadora. Esta classe recalcitrante – ou ao menos suas minorias mais desordeiras – também precisava ser conduzida à ordem”.
Em 1971, descompromissados com relação ao trabalho organizado, os conservadores foram capazes de atacar o poder dos sindicatos com o Ato de Relações Industriais. Eles apelaram para a “unidade nacional” e evocaram a “restauração da autoridade do governo”. Mesmo quando o Ato era repelido sob o governo do Partido Trabalhista que se seguiu, com seus “Contratos Sociais” centristas, seu efeito já era evidente no horizonte da classe trabalhadora. A crise representara uma mudança estrutural profunda no caráter do Estado capitalista do pós-guerra.
Todos estes elementos estavam sob consideração no Centro em Birmingham, assim como a ascensão de sentimentos racistas anti-imigrantes anunciados por parlamentares como Enoch Powell e os neofascistas do Fronte Nacional, em resposta às redefinições da identidade britânicas por rastafáris e os “rude boys” jamaicanos. Hall e seus colegas abordaram estas discordâncias culturais por meio do estudo do aumento percebido do crime violento.
A representação midiática do assalto à mão armada nos anos 1970 possuía uma característica particular, que persiste ainda hoje: uma associação deliberada e rígida do crime com a juventude negra. A polícia tem se engajado em “controlar e conter” a população negra desde o início dos anos 1970, mas depois da turbulência política e do colapso econômico da metade desta década, que resultou em cortes nas políticas bem estar, educação e suporte social, o impacto sobre a população negra concentrada nas cidades foi o mais grave.
Além disso, parte do efeito das revoltas dos anos 1960 tem sido introduzir uma nova sensibilidade de resistência no interior das cidades, e o que agora emergia era uma situação explosiva: “um setor da população, já mobilizado em termos de consciência negra, era agora também o setor mais exposto ao processo de aceleração da recessão econômica”.
A consequência foi “nada menos do que a sincronização dos aspectos de raça e classe da crise”, escreveram os acadêmicos de Birmingham. “Policiar os negros ameaçou o problema do policiamento dos pobres e dos desempregados: todos os três estavam concentrados precisamente nas mesmas áreas urbanas”. “Policiar os negros” tornou-se “sinônimo de policiar a crise”.
Aqui Policing the Crisis apresentou um slogan bastante citado: “raça é a modalidade na qual a classe é vivida”. Para membros negros da classe trabalhadora, é primeiramente por meio da experiência da “raça” que eles podem “chegar a uma consciência de sua subordinação estruturada”: “É por meio da modalidade da raça que negros compreendem, lidam e começam a resistir à exploração que é uma característica objetiva de sua situação de classe”. O poeta de dub raggae, Linton Kwesi Johnson cantou esta chegada à consciência, E a classe trabalhadora?:
“E a classe trabalhadora?
Nada de culpar a classe trabalhadora negra, Sr. Racista
A culpa é da classe dominante
A culpa é do patrão capitalista
A gente paga o custo, a gente perde”
As forças da reação foram rápidas e decisivas. A eleição de Margaret Thatcher como líder da oposição, em 1975, representou o movimento de uma direita radical saída das margens para o centro, erigida na ideologia da lei e da ordem para avançar uma estratégia de fuga em relação ao consenso do pós-guerra.
Esta estratégia assumiria lugar central à medida em que a administração da crise da socialdemocracia chegou a um inevitável impasse: “a Grã-Bretanha nos anos 1970 é um país para cuja crise não existe uma solução capitalista viável restante e, ainda, não existe uma base política para uma estratégia socialista alternativa. É uma nação presa em um dilema mortal: uma condição de declínio capitalista incontrolável”.
A dominação de classe assumiria novas formas, registradas principalmente “na inclinação da operação do Estado em se afastar do consenso e se aproximar do polo da coerção”. O pânico moral sobre o assalto violento, então, era “uma das formas aparentes de uma crise histórica profundamente enraizada”; ele cumpriu um papel importante na estabilização do Estado.
A percepção do aumento do crime era “uma das principais formas de consciência ideológica por meio da qual uma ‘maioria silenciosa’ é vencida para dar seu apoio às medidas crescentemente coercitivas por parte do Estado, e emprestar legitimidade para um uso do exercício do controle ‘mais do que o usual’”. Em 1977, a banda The Clash gravou em seu álbum de estreia um cover do músico jamaicano Junior Murvin, Police and Thieves, em que a descrição da polícia jamaicana se assemelhava muito à descrição de Londres.
O consenso do pós-guerra de um Estado de bem-estar benevolente abria caminho para um consenso autoritário, um desenvolvimento que o sociólogo britânico Ralph Miliband havia sugerido em 1969. Ele concluíra seu livro O Estado na sociedade capitalista com uma descrição de uma certa dialética entre reforma e repressão.
O Estado enfrenta a pressão social por meio da reforma, mas não pode nunca fazer isso de maneira plena: “na medida em que a reforma se revela incapaz de subjugar pressão e protesto, então se dá a mudança de ênfase no sentido da repressão, coerção, poder policial, lei e ordem”. Mas a repressão também engendra oposição, e “ao longo deste caminho está a transição de uma ‘democracia burguesa’ para um ‘autoritarismo conservador’”. Isto não necessariamente significa fascismo. Na verdade, o exemplo de Miliband vinha da esquerda:
“Sempre que lhes foi dado oportunidade, os líderes socialdemocratas rapidamente se projetaram na administração do Estado capitalista: mas esta administração requer sempre e mais o fortalecimento do Estado capitalista, objetivo com o qual – de um ponto de vista conservador – estes líderes deram valorosa contribuição”.
Este fortalecimento do Estado, no entanto, deixara a socialdemocracia em uma situação de “vulnerabilidade crescente aos ataques da direita (...) o caminho se tornou mais suave para os candidatos a salvadores populares cujo conservantismo extremo esta cuidadosamente localizando sob uma retórica demagógica de renovação nacional e redenção social, alimentado de maneira sutil por um apelo a preconceitos raciais e outros tipos de preconceitos vantajosos”. Miliband concluiu que “o movimento socialista alcançou uma posição de comando de tal forma” que “pode ser tarde demais para as forças do conservadorismo assumir uma opção autoritária com alguma chance real de sucesso”.
Apesar disso, para Hall o governo Thatcher foi um exemplo de extraordinário sucesso do autoritarismo. Policing the Crisis mostrava como a administração socialdemocrata da crise capitalista havia criado contradições que abriam espaço para novas estratégias de direita, e como o consenso popular com a autoridade começava a se tornar assegurando por novas formas de luta ideológica.
O que agora emergia era uma estratégia antiestatal de direita – ou melhor, uma que se representava como antiestatal para ganhar o consenso do populacho descontente, ao mesmo tempo em que detinha uma abordagem altamente centralista em relação ao governo.
Esta estratégia funcionou ao se aproveitar o descontentamento popular e neutralizar a oposição, fazendo uso de certos elementos da opinião popular para modular uma nova forma de consenso. Em 1979, Hall elaborou sobre esta nova estratégia em um artigo chamado “O show do grande movimento à direita”. O texto foi publicado na revista Marxism Today, uma revista teórica experimental do Partido Comunista da Grã-Bretanha, meses antes da eleição de Thatcher como primeira ministra.
As raízes de sua ascensão, insistia Hall, estavam “na contradição no interior da socialdemocracia”, que havia “efetivamente desorganizado a esquerda e a resposta da classe trabalhadora para a crise”. Sintetizando a dinâmica que revisara historicamente em Policing the Crisis, Hall explicou que a contradição começava com os esforços da socialdemocracia em ganhar poder eleitoral, o que exigia a “maximização de suas exigências como a representação politica dos interesses da classe trabalhadora e do trabalho organizado” capaz de “administrar a crise” e “defender – dentro dos constrangimentos impostos pela recessão – os interesses da classe trabalhadora”.
Esta não era uma “entidade política homogênea, mas uma formação política complexa”, não uma expressão da classe trabalhadora no governo, mas “os meios principais de representação da classe”. “Representação”, como uma função política na democracia parlamentar, “precisa ser entendida como uma relação ativa e formativa”, que “organiza a classe e a constitui como uma força política” – uma força política socialdemocrata – ao mesmo momento em que se constitui.”
Uma vez que a social democracia entra no governo, no entanto, “se compromete em encontrar soluções para a crise que são capazes de alcançar apoio de setores-chave do capital, desde que estas soluções sejam enquadradas em seus limites”. Isto exige o uso da “conexão indissolúvel” com as lideranças sindicais, “não para avançar, mas para disciplinar a classe e organizações que representa”.
Esta função gira ao redor do Estado, e a socialdemocracia deve se apoiar “em uma interpretação neutra e benevolente do papel do Estado como encarnação do interesse nacional acima da luta de classes”. Ela toma por sinônimos a expansão do Estado e o socialismo, “sem referencia alguma à mobilização de poderes democráticos efetivos em níveis populares” e usa o intervencionismo alargado do aparelho do Estado para “administrar a crise capitalista de maneira favorável ao capital”.
O Estado termina “inscrito em todo aspecto e característica da vida social”: “a socialdemocracia não tem alternativa estratégica viável, especialmente para o grande capital (e o grande capital não possui uma estratégia alternativa viável para si mesmo) que não envolva o apoio massivo do Estado”.
Este é o pano de fundo para a direita radical, que opera no mesmo espaço da socialdemocracia e explora suas contradições. Ela “toma os elementos que já existiam construídos no espaço, os desmantela, reconstitui em nova lógica e articula o espaço de uma nova maneira, polarizando-o à direita”.
É possível apelar para a desconfiança no estatismo, para frustração com a administração socialdemocrata da crise capitalista e avançar uma agenda aparentemente antiestatal neoliberal. O thatcherismo visou valores coletivistas, mas também o estatismo real que havia contaminado o Partido Trabalhista desde o início – ele tirou vantagem da distancia que a liderança reformista havia tomado em relação as suas bases, e demonstrou o caráter irreconciliável entre valores coletivistas e o desafio de administrar a crise capitalista.
A realização mais admirável do thatcherismo foi sua habilidade de ligar as filosofias econômicas abstratas do liberalismo austríaco, desenvolvidas por heróis libertários como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek, aos sentimentos populares no que diz respeito a “nação, família, dever, autoridade, padrões, autoconfiança”, motores ideológicos poderosos no contexto de mobilização política por lei e ordem.
Esta “mistura rica” Hall apelidou por “populismo autoritário” e seus operadores ideológicos não poderiam ser reduzidos à mera farsa – em fato, eles haviam operado sobre “contradições genuínas”, com “conteúdo racional e material”: “Seu sucesso e efetividade não está na capacidade de enganar algum popular desavisado, mas em endereçar problemas reais, experiências reais e vividas, contradições reais – e ainda ser capaz de representa-las por meio de um discurso lógico que as impulsiona sistematicamente na direção de políticas e estratégias de classe da direita”.
A revista Marxism Today era, acima de tudo, um projeto inusitado e de longo alcance, com o estilo visual de uma revista comercial e uma carapuça de cultura popular que procurou intervir na consciência da sociedade de consumo – provocando o repúdio do companheiro de Miliband, John Saville, que cuidadosamente e desdenhosamente documentou as páginas do periódico dedicadas ao mundo da moda.
No entanto, talvez a critica mais influente tenha sido realizado pelo próprio Miliband em O grande revisionismo na Grã-Bretanha, publicado na New Left Review em 1985. Este “novo revisionismo”, argumentou Miliband, era uma repetição da primeira onda representada por Hugh Gaitskell – que havia usado o termo na revista Parliamentary Socialism.
No centro estava o debate das questões estratégicas que o Partido Trabalhista enfrentava e que Miliband não achava que poderiam ser adequadamente capturadas pelas teorias do populismo autoritário. Ele relembrava que o declínio do apoio eleitoral da classe trabalhadora ao Partido Trabalhista já existia desde 1951, resultando de suas próprias contradições.
Como documentamos acima, Hall havia cuidadosamente analisado este fenômeno e, na verdade, feito dele a base para sua teoria sobre o thatcherismo. Mas, para Miliband, Hall ainda sobrevoava questão, condenando a suspeita da direção diante da “autoativação da classe trabalhadora”, apontando sua análise constantemente em termos das possibilidades de “renovação” do partido, mesmo que fosse cético quanto às suas possibilidades.
A principal preocupação de Miliband, por sua vez, era a de refutar a nova tendência revisionista que rejeitava a “política de classe”, entendida como “insistência no ‘primado’ do trabalho organizado em desafiar o poder capitalista, e o desafio de criar uma ordem radicalmente diferente”. Miliband defendia este primado: “nenhum outro grupo, movimento ou força na sociedade capitalista é remotamente capaz de se impor como desafiante efetivo e formidável às estruturas atuais de poder e privilégio como o poder do trabalho organizado”.
Existiam dois ângulos nos quais este primado poderia ser defendido, o primeiro relacionado às mudanças no processo de produção e horizonte social nos países de capitalismo avançado; André Gorz e seu Farewell to the Working Class Adeus à classe do trabalho foi nomeado um influente precursor do “revisionismo”.
Miliband aceitava que “a classe trabalhadora experimentou nos anos recentes um processo acelerado de recomposição, com o declínio de setores industriais tradicionais e um crescimento considerável dos trabalhadores de colarinho branco, de distribuição, serviços e setores técnicos”. Mas ele não aceitava que isto significasse que as coordenadas clássicas da política socialista deveriam mudar. Afinal, os assalariados continuavam a compor a maior parte da população dos países capitalistas avançados, e continuavam capazes de desenvolver uma consciência socialista.
O segundo desafio era aquele relativo aos novos movimentos sociais. Miliband começou com uma lembrança razoável de que “a classe trabalhadora incluía um grande número de pessoas que são membros dos ‘novos movimentos sociais’, ou que são parte do público que estes movimentos querem alcançar”. Mas ele também argumentou que seria uma erro para estas pessoas entender suas experiências de opressão pode meio das identidades.
De fato, a categoria de “política de classe” dera o compasso dos novos movimentos sociais na medida em que o trabalho organizando não lutou por seus fins economicistas e corporativos, “mas por toda a classe trabalhadora muito além dela”. Ainda que esta luta “requeira um sistema de alianças populares”, Miliband sustentou que “é apenas a classe trabalhadora organizada que pode formar a base deste sistema”.
A pergunta sobre “como” a classe trabalhadora pode se organizar, porém, ficou sem resposta. Como Robin Blackburn afirmou recentemente, “1985 marcou o começo de praticamente três décadas de desmobilização e desmoralização de classe” e Miliband “subestimou os efeitos da recomposição de alcance global do capital e trabalho no fim do século”. Sua discussão sobre os novos movimentos sociais se manteve especulativa, sem investigação séria das questões levantas sobre o caráter da política da classe trabalhadora.
Em contraste, a análise de Hall da raça como “modalidade” por meio da qual os trabalhadores negros se tornam conscientes de sua posição de classe estava baseada em uma análise da composição da classe trabalhadora negra, a história da cultura migrante, e a organização política das lutas negras – por meio da qual ele foi capaz de construir e identificar formas potenciais de atividade política que possuíam relevância geral para a classe, na medida em que o racismo era parte da maneira como as populações trabalhadoras eram estruturas pelo capital.
Este impasse estratégico afetou diretamente a conjuntura política com a experiência da greve dos mineiros em 1984-1985. A ferocidade desta luta tornou qualquer discussão carregada emocionalmente. Hall havia sido bastante crítico da greve – do sofrimento intenso e do risco implicado em fazer a greve em um período de austeridade e declínio industrial, e da decisão não democrática de fazer a greve sem uma votação.
Ele seguiu criticando o aspecto “familial e masculinista” da mobilização dos mineiros, “como homens que possuem um dever de se levantar e lutar”. O enquadramento como política de classe do momento, fixo em uma identidade de classe específica, havia impedido os mineiros de “generalizar sua luta em uma dimensão social mais ampla”.
Aspectos desta análise estavam provavelmente corretos. Mas ela provocou um afastamento compreensível de Miliband. Chegou um momento em que muitos, especialmente aqueles afiliados ao Marxism Today, passaram a associar a greve com uma prática teimosa e antiquada de uma “esquerda dura”.
O termo não está totalmente deslocado; qualquer um que tenha participado de um movimento social já se encontrou aqueles que se intitulam “guardiões das consciências de esquerda, como garantidas políticas, o teste limite da ortodoxia”. Mas em retrospecto, usado contra os que defendiam os sindicatos no contexto de um ataque capitalista implacável, este apelido era inadequado.
Por outro lado, o argumento de Miliband perdia as questões substanciais que estas críticas de fato levantavam. De acordo com a biografia de Michael Newman, ele foi criticado por sua esposa Marion Kozaks, que considerava que o artigo sobre o novo revisionismo “superestima o primado da classe e falha ao não dar peso suficiente aos movimentos sociais, os quais vê como divisores ao invés de potenciais aliados para os movimentos classistas – como, por exemplo, os grupos de mulheres que apoiam os mineiros”.
Estas linhas de aliança inesperadas foram recentemente dramatizadas no filme Pride, que mostra os esforços de arrecadação de recursos do Apoio de Lésbicas e Gays aos Mineiros, um gesto de solidariedade que foi devolvida pela participação de grupos de mineiros galeses na Marcha do Orgulho Gay de Londres, em 1985 e pelo apoio decisivo da União Nacional dos Mineiros para uma resolução interna do Partido Trabalhista em favor dos direitos LGBTs.
Conforme escreveram Doreen Massey e Hilary Wainwright em comentário sobre os grupos feministas de apoio à greve, “não é uma questão de ação industrial ou novos movimentos sociais, tampouco é uma questão de soma-los (...) Novas instituições podem ser construída para que ‘a política de classe’ possa ser vista como algo mais que simples militância industrial mais representação parlamentar”. Era justamente a urgência por estas novas instituições, e a dificuldade de construí-las, que estava por baixo do pessimismo de Hall:
“A greve foi então condenada a ser travada e perdida como algo velho e não como uma nova forma de política. Para aqueles de nós que sentimos isto desde o início, foi duplamente insuportável porque – na solidariedade que ela alcançou, nos níveis gigantescos de apoio que engendrou, com o envolvimento sem paralelos de mulheres nas comunidades mineiras, presença feminista na greve, a quebra de barreiras entre diferentes interesses sociais que ela pressagiou – a greve dos mineiros carregava instintivamente a política da novidade, ela foi um grande enfrentamento com o thatcherismo que deveria marcar a transição para a política do presente e do futuro, mas foi travada e perdida, aprisionada nas categorias e estratégias do passado.”
Se cada lado do debate tinha um ponto, não está claro que todos os participantes entendessem o que a derrota catastrófica dos mineiros representava verdadeiramente. Apesar da clareza de Hall a respeito dos efeitos poderosos do populismo autoritário, sua teoria não parecia antecipar o quão drasticamente esta derrota mudaria o campo e o quão completa ela seria.
Este momento não foi adequadamente apreciado como uma derrota também para os novos movimentos sociais. Ao longo da vida das coalizões “arco-íris”, multiculturalismo, e políticas de identidade, sua sobrevivência indicaria a separação crescente em relação às formas organizacionais de base e aos movimentos militantes com os quais poderiam forma alianças antissistema permanentes. E apesar de sua oposição anterior sobre o novo revisionismo, não está claro que a abordagem de Miliband o teria conduzido a uma alternativa política.
Apesar das desventuras que envolvem o nome Miliband, é Hall que é frequentemente acusado de ter pavimentado o caminho para o Novo Trabalhismo. Isto de alguma forma confunde o funcionamento da dinâmica: foi o thatcherismo que pavimentou o caminho para o Novo Trabalhismo, e Hall foi uma das pessoas que descreveu com grande clareza o thatcherismo como um modo de operação. Não há razão para duvidar que Miliband teria criticado o giro dramático à direita engendrado por Tony Blair se estivesse vivo.
Hall, por sua vez, execrou Blair em uma edição única de “retomada” da Marxism Today em 1997 (não circulava desde 1991), em um artigo chamado “O grande show da movimentação para o nada”. Enquanto documentou as capitulações do Novo Trabalhismo ao neoliberalismo, e os novos sujeitos sociais que delas se manifestavam (“homem econômico ou como ela/ele gosta de ser chamado, O Sujeito Empreendedor e o Consumidor Soberano”), ele não apresentou uma análise política do fenômeno comparável ao que havia feito com o thatcherismo.
Obviamente Blair estava seguindo os passos de Bill Clinton, cujo mandato presidencial não apenas trouxe o Tratado de Livre Comércio das Américas (NAFTA), a lei do crime e a reforma da lei do bem-estar, mas também estava empenhado em um estilo cultural, direcionado por grupos focais e imagens de consultoria, que jogavam com a diversidade dos novos tempos, levando Toni Morrison ao famoso comentário de que Clinton era o “primeiro presidente negro”.
Um termo além do “populismo autoritário” seria necessário para descrever este fenômeno, que mostrou, por um lado, que a estratégia hegemônica da direita era bem sucedida a ponto de absorver a esquerda conhecida e facilitar a consolidação da desigualdade econômica e a reversão seguinte das reformas condensadas no Estado; e, por outro lado, que o pluralismo, a celebração da mídia popular e olhar para a cultura jovem não necessariamente constituem, na ausência de mobilizações revolucionárias viáveis, uma força de oposição, como as campanhas de base para o verdadeiro primeiro presidente americano negro mostraram desde então.
É precisamente no frustrante desenvolvimento de um agente antagonista que a discussão sobre a cultura e a ideologia deve ser situada – não como uma explicação de mecanismos complexos e viradas da política eleitoral. Muito tempo depois de Thatcher e Reagan uma indústria de comentadores pergunta por que a classe trabalhadora americana vota contra “seus interesses”, nos convidando a opor Kansas e Connecticut, estado vermelho e estado azul. Mas na verdade é na decomposição e desorganização da classe trabalhadora que devemos procurar a explicação para a emergência da direita – não na consciência, falsa ou o que seja.
As evidencias empíricas mostram que a classe trabalhadora nos Estados Unidos, medida por renda, possui uma preferencia de voto consistente no Partido Democrata, e isso é verdadeiro mesmo se restringimos os dados para a classe trabalhadora branca. Mas ao contrário da lógica mercadológica “dos interesses”, esta prática de voto nunca aumentou o poder da classe trabalhadora, e portanto o éter indeterminado da opinião pública americana termina subordinado ao poder de vanguardas de direita. Se o populismo autoritário mudou as ideias das pessoas, ou não, é uma questão inútil.
O seu papel na transformação neoliberal foi atacar a possibilidade de alianças estratégicas entre os novos movimentos sociais e a organização no lugar de produção. Ideologias tradicionalistas de família, igreja e nação foram ataques preventivos contra uma potencial barreira política de acumulação que estas linhas de aliança poderiam impor a partir de baixo.
“Nossa convenção ocorre no momento de crise de nossa nação” disse Donald Trump na convenção republicana. Ele está certo; e a crise é também da esquerda. Nosso discurso muitas vezes se reduz a disputas mesquinhas, por uma lado uma absorção a-histórica em posturas espetaculares de rebelião sem direção e narcisismo identitário, por outro a ortodoxia indigesta e pouco atraente. Neste contexto, a arte da política não pode ser encontrada – com exceção talvez do delírio de direita, uma realidade que Hall também descreveu:
“Eu me lembro do momento na eleições de 1979 em que o Sr. Callaghan, em sua última corrida política por assim dizer, disse com verdadeira surpresa sobre a ofensiva da Srª. Thatcher: ‘Ela parece arrancar a sociedade pelas raízes’. Esta era uma ideia impensável para o vocabulário socialdemocrata: um ataque radical no status quo.”
A verdade é que ideias tradicionalistas, as ideias de respeitabilidade social e moral, tem penetrado tão profundamente na consciência socialista que é comum encontrar pessoas comprometidas com um programa político radical e sustentadas por sentimentos e sensações totalmente tradicionais.”
Nossa crise nos impediu de levar adiante uma tarefa urgente que Hall colocou com precisão: “como forças diferentes podem, juntas, conjunturalmente, criar um novo terreno no qual uma política diferente possa se formar”. Está colocado para nós inventar uma política diferente – ou Trump será o único a fazê-lo.