 |
Colagem de Diego López Prosen |
ANTHONY ELLIOTT
tradução PAULO MIGLIACCI
ilustração DIEGO LÓPEZ PROSEN
RESUMO Sociólogo argumenta que o 'individualismo', que girava em torno da construção de uma identidade privada e estável para nós mesmos, precisa ser substituído por um 'novo individualismo': a sociedade do século 21 nos encoraja a mudar tão completa e tão rapidamente que as identidades se tornam descartáveis.
*
O jornal "The New York Times" publicou há alguns anos uma reportagem intitulada "Jogos Vorazes: Noivas". Tratava das tribulações enfrentadas por mulheres que querem perder peso para suas cerimônias de casamento.
Especialistas falavam sobre as técnicas mais efetivas de emagrecimento e desintoxicação. A perda típica de peso é de 7 kg a 10 kg. Valendo-se de métodos para purgar o organismo e de dietas que eliminam gordura, as noivas estão determinadas a exibir a completa transformação de seus corpos.
Reduzir as medidas para o grande dia requer uma forma curiosa de devoção; negação e privações adquirem posição central nos mantras. A certeza de que a transformação desejada pode ser obtida muito rapidamente ajuda muito. É por essa razão, e só por ela, que dietas drásticas são a grande moda nos jogos vorazes para noivas.
O procedimento conhecido como Diet Tube é um dos exemplos mais enfáticos. Seus usuários recebem nutrientes líquidos através de um tubo plástico inserido no nariz. Uma microbomba elétrica injeta a substância proteica diretamente no estômago, para controlar a fome.
Embora não pareça agradável nem desejável, o método nasogástrico ganha cada vez mais popularidade, não só entre noivas mas também entre mulheres (e homens) que buscam se reinventar.
Em contraste com cirurgias cosméticas, que requerem paralisação das atividades e um período de recuperação, o Diet Tube só demanda de seus usuários que não comam.
Se a obesidade é uma epidemia com sérias consequências globais, nossa preocupação com a perda de peso não fica muito atrás.
A divulgação constante de pesquisas relacionadas a dietas pela mídia de massa é um indicador das fantasias das mulheres e homens quanto a corpos mais esbeltos e mais sexy; a ascensão de um setor mundial de dieta que movimenta bilhões de dólares também sugere a onipresença do desejo por reinvenção nas sociedades modernas.
A dramatização mais perfeita desse fenômeno talvez esteja na incansável substituição das dietas. Da Atkins à Dukan, e delas à da zona e à Scarsdale, à da cebola e à do repolho: regimes de disciplina austera surgem como parte de um trabalho febril de reinvenção, no qual experimentar a mais recente moda dietética parece ser precondição para o florescimento humano.
UMA NOVA ERA
Esta é a era da reinvenção. Para muitos, ela oferece o estilo de vida perfeito. Das dietas aceleradas aos "life coaches" (técnicos para a vida), dos reality shows às cirurgias cosméticas, a arte da reinvenção se mescla com os atrativos da próxima fronteira, com o avanço rumo aos limites —especialmente os do indivíduo.
Para outros, a mania de reinvenção representa a degradação da cultura e as ilusões narcisistas de uma geração autocentrada.
Por trás da proliferação interminável dos espetáculos de reinvenção que vemos hoje, existe o imperativo cultural de agir —de consertar, refazer, melhorar ou transformar. Se você não gosta de seu estilo de vida ou de sua aparência atual, descarte-os e se reprojete.
Em tese, o imperativo cultural da reinvenção envolve constante redefinição do "eu", de modo a trazer ganhos ao indivíduo, e não perdas, mas na verdade o processo se assemelha a uma aniquilação niilista da identidade. É como se, embriagado com as fantasias narcisistas do ego, o indivíduo constantemente repaginado fosse exposto como um neurótico compulsivo, viciado nos altos e baixos de uma vida reconstruída uma vez após a outra.
Considere, por exemplo, a mistura perversa de terror e deleite que alimenta a gordofobia. Em um mundo com valores ditados pelo consumismo, pela cultura empresarial e pelo culto das celebridades, existe um escrutínio constante dos corpos obesos (e mesmo do possível surgimento de gordura).No entanto, o apelo à reinvenção está em toda parte: reinvenção da identidade e do corpo, do sexo e dos relacionamentos, das carreiras e das empresas, dos lugares, das regiões e da ordem mundial.
O reality show americano "The Biggest Loser" é emblemático. Mulheres são forçadas a se exibir em sutiãs sumários e shorts apertados, expondo sua carne trêmula, e a audiência se delicia assistindo aos exercícios dolorosos que os participantes acima do peso fazem sob as ordens de personal trainers.
Nota-se aqui um deleite quanto à reinvenção dos corpos —deleite que provoca o terror que busca transcender. Desse ângulo, a sociedade da reinvenção é revelada como uma ilusão destrutiva na qual mulheres e homens renegam, ou expelem de suas vidas, aquilo que não são capazes de tolerar.
Contudo, se existe ilusão, também existe resiliência. Apesar da natureza deslocadora, perversa e excessiva da cultura da reinvenção, estamos lidando com as maneiras complexas e contraditórias pelas quais homens e mulheres subvertem os valores tradicionais, criam novos significados, dão forma a novos códigos consensuais e experimentam com a vida e com novas possibilidades.
A reinvenção, assim, entre outras coisas, sempre representa um engajamento (ainda que mínimo) com os contornos da invenção.
Essa é uma razão para que mulheres e homens contemporâneos se deixem arrastar pela sociedade da reinvenção: levamos em conta as narrativas que as pessoas elaboram (a respeito de si mesmas ou de outros) a fim de lidar com um mundo em globalização avançada.
NOVO INDIVIDUALISMO
Meu argumento geral é o de que a reinvenção e as ideologias a ela relacionadas podem ser compreendidas mais corretamente como consequências da difusão daquilo que já defini como novo individualismo.
O individualismo girava em torno da construção de uma identidade privada e estável para nós mesmos, independente do mundo. Mas o individualismo de hoje nos encoraja a mudar tão completa e tão rapidamente que nossas identidades se tornam descartáveis.
O termo "individualismo" foi cunhado no começo do século 19 pelo francês Alexis de Tocqueville para descrever o senso emergente de isolamento social que ele observou nos Estados Unidos.
Hoje, essa noção continua em vigor, mas com um comportamento devidamente modificado e ajustado para se enquadrar ao novo capitalismo e às tecnologias criadas pela globalização —e é por isso que falo de um novo individualismo.
O novo individualismo é movido por uma fome insaciável de mudanças imediatas. A tendência pode ser percebida nas sociedades contemporâneas não só pela ascensão de cirurgias plásticas e pelos reality shows sobre reforma instantânea de identidade mas também pelo consumismo compulsivo, pelos namoros relâmpagos e pela cultura da terapia.
 |
| Colagem de Diego López Prosen |
O desejo por resultados imediatos nunca foi tão pervasivo ou agudo. Ficamos acostumados a gastar meros segundos para mandar e-mails ao outro lado do mundo, comprar produtos supérfluos com um clique e deslizar de uma relação para outra sem maiores compromissos de longo prazo.
Não surpreende que agora tenhamos diferentes expectativas sobre as possibilidades da vida e o potencial para mudanças.
Em nossa sociedade imediatista, as pessoas querem mudanças e, cada vez mais, as querem para já. O mercado agora oferece uma série de soluções com a promessa da transformação instantânea. Mais e mais, tais soluções —da autoajuda à terapia, da reformas pessoais a cirurgias plásticas— são reduzidas a uma mentalidade mercantil.
O consumo "para já" de hoje em dia cria a fantasia da plasticidade infinita do "eu". A mensagem da indústria é a de que você poderá se reinventar como bem entender —e nada poderá impedi-lo.
Mas esse novo senso de individualismo dificilmente preservará sua felicidade por muito tempo. Pois melhorias pessoais são concebidas tendo em vista o curto prazo. Elas duram apenas até "a próxima vez".
Em um relatório que ressalta o entrelaçamento entre o individualismo e o imediatismo, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas aponta para a enorme demanda em todo o mundo por serviços e bens de consumo individuais.
"Demanda", nesse caso, significa desejo por gratificação instantânea, um desejo que não só estimula o senso de isolamento social percebido por Tocqueville mas também pode acarretar consequências mundiais desastrosas.
No que tange ao consumo desigual, por exemplo, a ONU apontou num estudo da década de 1990 que prover educação básica para todos os cidadãos dos países em desenvolvimento custaria em torno de US$ 6 bilhões adicionais ao ano, enquanto os EUA sozinhos já gastavam espantosos US$ 8 bilhões por ano com cosméticos. Considere alguns outros dados chocantes sobre gastos anuais (segundo o mesmo documento de 1998):
- US$ 11 bilhões com sorvete na Europa;
- US$ 17 bilhões com comida para animais de estimação na Europa e nos EUA;
- US$ 50 bilhões com cigarros na Europa;
- US$ 105 bilhões com bebidas alcoólicas na Europa;
- US$ 400 bilhões com narcóticos em todo o mundo.
Os números refletem não só uma obsessão cultural com consumo, prazer e hedonismo mas também apontam para uma ênfase individualista na satisfação dos desejos.
A maioria dos relatos sobre individualismo tende a caracterizar nossa atual preocupação com o "eu" em termos de narcisismo, emotividade e manipulação de necessidades e desejos pessoais.
Esses relatos destacam os traços restritivos de nossa cultura individualista e muitas vezes representam o mundo em que vivemos como eivado de consequências traumáticas para as vidas emocionais e os relacionamentos das pessoas.
AMBIVALÊNCIA
Embora esses relatos contenham percepções úteis, eles não captam os traços mais centrais do novo individualismo. Argumento que a ascensão de uma linguagem comum altamente individualizada para definir questões públicas é um fenômeno ambíguo, que promove a compreensão da realização do "eu" e também o cultivo da limitação do "eu".
A cultura do individualismo gerou um mundo de experimentação, expressão pessoal e tomada de riscos —que, por sua vez, é embasado por novas formas de apreensão, angústia e ansiedade derivadas dos perigos da globalização.
Se o novo individualismo se tornou supremo, é porque flexibilidade, adaptabilidade e transformação estão mescladas de modo complexo na economia eletrônica mundial.
Num mundo de demissões intermináveis pelas grandes empresas, transferências de operações para o exterior e reorganizações de companhias, as pessoas estão correndo para se ajustar a novas definições e experiências do "eu" quanto a relacionamentos, intimidade e trabalho, entre muitas outras áreas.
Diante do pano de fundo desse admirável mundo novo da globalização, da revolução nas comunicações e da tecnologia de produção baseada em computadores, não deveria ser surpresa que homens e mulheres contemporâneos expressem o desejo de transformar suas vidas instantaneamente, de modificar seu "eu" sem restrições ou resistência.
Como os participantes do reality show "Extreme Makeover" —no qual as pessoas passam por cirurgias cosméticas, trabalho ortodôntico, regimes de exercício e reformulações de guarda-roupa a fim de reconstruir suas existências—, mais e mais homens e mulheres acreditam que é possível e necessário recriar suas vidas da forma que preferirem.
Nessa condição narcisista, o "eu" é redefinido como uma espécie de kit "faça você mesmo". A realidade se deflaciona magicamente, já que deixam de existir restrições impostas pela sociedade, ao mesmo tempo em que o "eu" se eleva ao patamar de uma obra de arte.
Diversos fatores, em condições de globalização avançada, levam os indivíduos a exigir mudança instantânea a fim de obter aquilo que percebem como vantagem pessoal e profissional sobre os outros.
A nova economia causou mudanças de enorme magnitude, que sujeitam as pessoas a pressão intensa para que acompanhem a velocidade das transformações sociais. Empregos seguros desaparecem do dia para a noite. Homens e mulheres lutam freneticamente para conquistar novas capacitações, ou serão descartados.
Nessa nova economia de contratos de curto prazo, interminável redução de custos, entregas a jato e carreiras múltiplas, as transformações sociais objetivas são espelhadas no nível da vida cotidiana.
A demanda por mudança instantânea, em outras palavras, é amplamente percebida como demonstração de apetite por (e disposição de abraçar) mudança, flexibilidade e adaptabilidade.
O impacto das grandes empresas multinacionais, capazes de exportar a produção industrial para locais de baixos salários em todo o mundo e de reestruturar o investimento no Ocidente, desviando-o da manufatura para os setores de finanças, serviços e telecomunicações, causou grandes transformações na maneira como as pessoas vivem suas vidas, abordam o emprego e se posicionam dentro do mercado de trabalho.
O emprego se tornou muito mais complexo do que em períodos anteriores, como resultado da aceleração da globalização, e um fator institucional chave para a redefinição da condição contemporânea foi o declínio da ideia de posto de trabalho vitalício.
A morte da ideia de uma de uma carreira (uma vida de trabalho) desenvolvida dentro de uma só organização foi interpretada por alguns como sinal de uma nova economia —flexível, móvel, operando em rede. O financista e filantropo internacional George Soros argumenta que transações tomaram o lugar dos relacionamentos na economia moderna.
Diversos estudos enfatizam essas tendências mundiais ao imediatismo ou ao predomínio do episódico —nos relacionamentos pessoais, na dinâmica familiar, nas redes sociais, no trabalho.
O sociólogo Richard Sennett escreve sobre a ascensão "do trabalho de curto prazo, episódico e por contrato". O emprego vitalício do passado, ele argumenta, foi substituído pela empreitada de pequena duração.
FALTA DE CONFIANÇA
A cultura imediatista das empresas está produzindo uma erosão generalizada da relação de confiança que os trabalhadores desenvolviam com seus locais de trabalho. Em um mundo empresarial no qual todos estão sempre pensando em seu próximo passo na carreira ou se preparando para grandes mudanças, é muito difícil —e em última análise, pode se provar disfuncional— manter lealdade em relação a uma dada organização.
Autores como Sennett veem a flexibilidade exigida por empresas multinacionais como demonstração da realidade da globalização, que promove a concepção dominante dos indivíduos como descartáveis.
É diante desse pano de fundo sociológico que ele cita estatísticas segundo as quais o universitário americano médio que se formar hoje ocupará uma dúzia de empregos diferentes ao longo de sua carreira e terá de mudar sua capacitação profissional ao menos três vezes.
Não admira que o capitalismo flexível tenha seus descontentes, para os quais se torna desagradavelmente claro que os supostos benefícios do livre mercado estão cada vez menos aparentes.
Em outra obra posterior, "A Cultura do Novo Capitalismo", Sennett discorre sobre as consequências emocionais mais profundas das grandes mudanças organizacionais: "As pessoas temem se ver deslocadas, marginalizadas ou subutilizadas. O modelo institucional do futuro não lhes oferece uma narrativa de vida no trabalho, ou uma promessa de grande segurança no reino público".
Da mesma maneira que o capitalismo flexível se engaja em reestruturações organizacionais incessantes, as pessoas fazem o mesmo —empregados, empregadores, consumidores, pais e filhos.
Don DeLillo escreve que o capitalismo mundial gera transformações à velocidade da luz, não só em termos do movimento súbito de fábricas, migrações em massa de trabalhadores e transferências instantâneas de capital líquido, mas em "tudo, da arquitetura ao tempo de lazer, à maneira pela qual as pessoas comem, dormem e sonham".
Ao refletir sobre as maneiras complexas pelas quais nossas vidas emocionais são alteradas pelas mudanças socioeconômicas causadas pela globalização, busco expandir a gama de transformações mencionadas por DeLillo, tomando por foco as experiências mutáveis das pessoas quanto a identidades, emoções, afetos e corpos como resultado da difusão do novo individualismo.
Meu argumento é que forças globais, ao transformar as estruturas econômicas e tecnológicas, penetram no tecido de nossas vidas pessoais e emocionais.
A maioria dos autores concorda que a globalização envolve uma reformulação dramática das fronteiras nacionais e locais.
As viradas repentinas do capital de investimento, a expansão transnacional da produção multipropósitos, a privatização de instituições governamentais, o remodelamento incessante das finanças, a ascensão de novas tecnologias, a instável energia dos mercados de ações que funcionam 24 horas: essas imagens do capitalismo multinacional põem em foco a dimensão da reconstrução imposta ao planeta a cada dia.
Venho sugerindo que essas mudanças se infiltram profundamente na vida cotidiana e afetam um número crescente de seres humanos. Os valores da nova economia mundial cada vez mais estão sendo adotados pelas pessoas para remodelar suas vidas.
A ênfase está em viver ao estilo do contrato de curto prazo (naquilo que vestimos, nos lugares em que moramos, na forma como trabalhamos), em transformações cosméticas incessantes e na melhoria do corpo, na metamorfose instantânea e nas identidades múltiplas. Esse é o campo da sociedade da reinvenção, que continua a se espalhar pelas polidas e dispendiosas cidades do Ocidente, e mais além.
*
ANTHONY ELLIOTT é professor de sociologia da Universidade South Australia e da Universidade Keio, no Japão. É autor do livro "The New Individualism" (o novo individualismo) junto a Charles Lemert. Esteve no Brasil, participando no Congresso Brasileiro de Sociologia, em Brasília no último mês de julho.
PAULO MIGLIACCI, 49, é tradutor.
DIEGO LÓPEZ PROSEN, 38, argentino radicado no Brasil, é artista plástico.



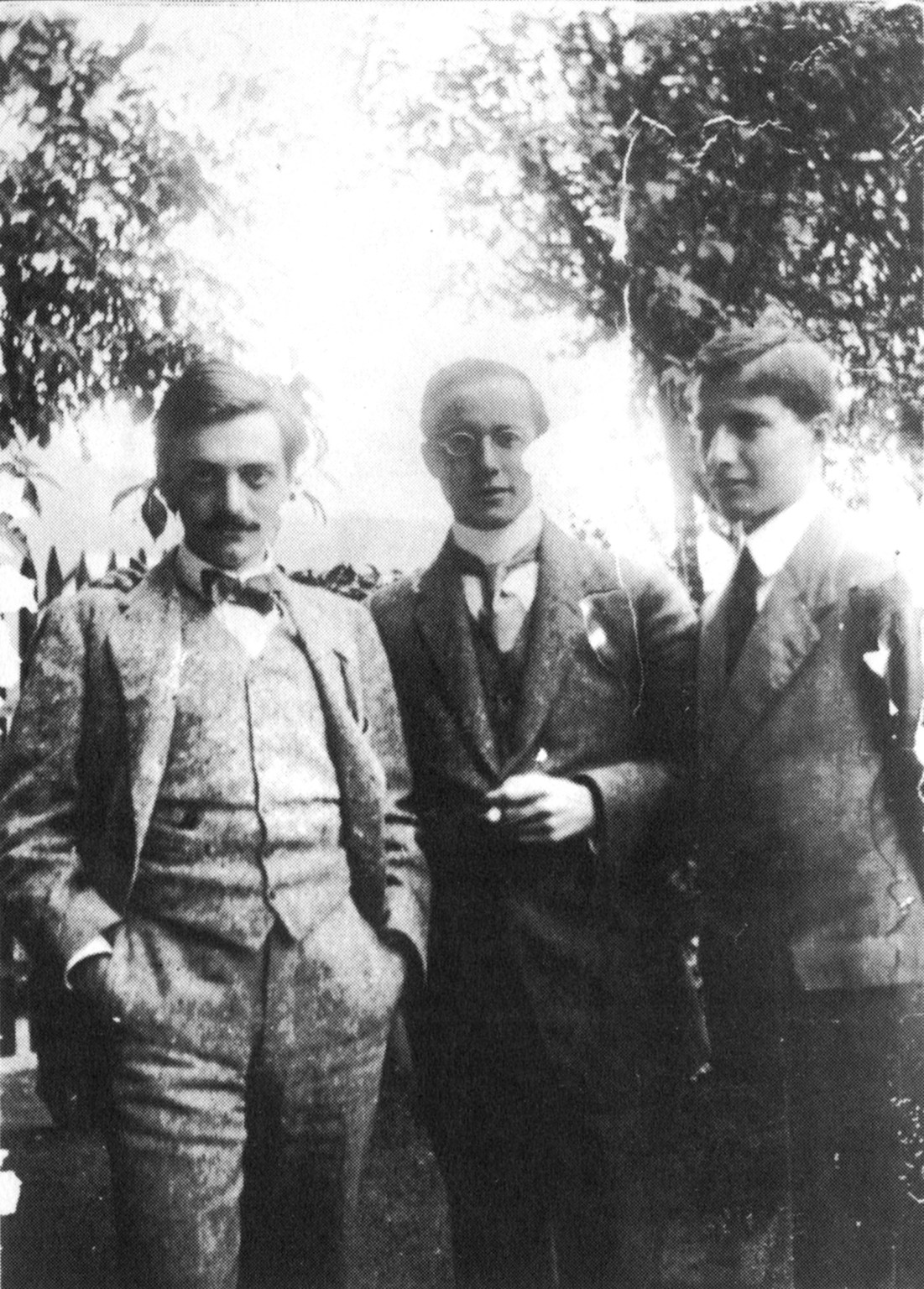


.jpeg)
