Robert Brenner
Tradução / No início de 2002, Alan Greenspan declarou que a recessão norte-americana, que começara um ano antes, estava chegando ao fim. No outono, o Federal Reserve Bank foi forçado a voltar atrás e reconhecer que a economia ainda enfrentava dificuldades e que a deflação era uma ameaça. Em junho de 2003, Greenspan ainda admitia que “a economia está para apresentar um crescimento sustentável”. Desde então, os economistas de Wall Street vêm proclamando, com cada vez menos restrições, que, após várias interrupções devidas a “choques externos” – escândalos envolvendo empresas e o ataque ao Iraque –, a economia finalmente está se acelerando. Apontam para a realidade do crescimento mais rápido do PIB na segunda metade de 2003 e o aumento significativo do lucro e garantem aos Estados Unidos que chegou um novo boom. Portanto, a questão que se impõe, com uma eleição presidencial daqui a menos de um ano, é a verdadeira situação da economia norte-americana. O que deflagrou a desaceleração que aconteceu? O que impulsiona a atual aceleração econômica? Ela é sustentável? A economia rompeu afinal o longo caminho ladeira abaixo, que provocou um desempenho global cada vez pior a cada década desde 1973? Qual a perspectiva de avanço?
Em meados de 2000, o mercado de ações norte-americano iniciou uma queda acentuada, e o setor econômico envolvido logo perdeu impulso e entrou em recessão no início de 20012. Todos os reveses cíclicos anteriores no período do pós-guerra foram provocados pelo arrocho do crédito imposto pelo Federal Reserve, para conter a inflação e o superaquecimento econômico com a redução da demanda do consumidor e, assim, das despesas com investimentos. Mas, nesse caso sem igual, o Fed facilitou tremendamente o crédito, só que duas for- ças intimamente relacionadas puxaram a economia para baixo. A primeira delas foi o aumento da capacidade ociosa, em especial na indústria, que derrubou os preços e a utilização da capacidade instalada, levando à queda da lucratividade – o que, por sua vez, reduziu o nível de emprego, cortou investimentos e reprimiu os aumentos salariais. A segunda foi o colapso do preço das ações, sobretudo nos setores de alta tecnologia, que virou de ponta-cabeça o “efeito-riqueza”, tor- nando mais difícil para as empresas levantar dinheiro mediante a emissão de ações ou com empréstimos bancários e impediu as famílias de obter crédito usando ações como garantia.
O FIM DO BOOM
A recessão deu fim a uma década de expansão que começou em 1991 e, em especial, aos cinco anos de aceleração econômica iniciados em 1995. Aquele boom foi e continua sendo muito exagerado, principalmente como cenário de um osten- sivo milagre de crescimento da produtividade3. Na verdade, ele não interrompeu a longa descida que vem atingindo a economia mundial desde 1973. Acima de tudo, nos Estados Unidos, assim como no Japão e na Alemanha, a taxa de lucro da eco- nomia privada não conseguiu se reanimar. A taxa do ciclo econômico da década de 1990 não superou a das décadas de 1970 e 1980, que, claro, ficou muito abaixo daquela da longa expansão do pós-guerra, entre o final da década de 1940 e o fim dos anos 1960. Em conseqüência, na década de 1990 o desempenho econômico do conjunto das economias capitalistas adiantadas (G7), segundo os indicadores macroeconômicos padrão, não foi melhor que o da década de 1980, que por sua vez foi menos satisfatório que o da de 1970, que, por sua vez, não se comparou à expansão das décadas de 1950 e 19604.
O que continuou a conter a lucratividade do setor privado e impedir toda ex- pansão econômica durável foi a perpetuação de um problema internacional de longo prazo – ou seja, sistêmico – de excesso de capacidade no setor industrial. Isso se revelou na forte queda da lucratividade industrial já muito reduzida, tanto na Alemanha quanto no Japão, durante os anos 1990 e na incapacidade dos fabri- cantes norte-americanos de manter a recuperação impressionante de sua taxa de lucro entre 1985 e 1995 depois de meados da década. Também se manifestou na série de crises cada vez mais profundas e generalizadas que atingiram a economia mundial na última década do século – o colapso do mecanismo cambial (ERM) na Europa em 1993, os choques mexicanos de 1994-95, a ascensão do leste da Ásia em 1997-98 e o colapso e a recessão de 2000-01.
As raízes da desaceleração e, em termos mais gerais, da configuração da eco- nomia norte-americana hoje datam de meados da década de 1990, quando se dis- pararam as principais forças que deram forma à economia, tanto na expansão de 1995-2000 quanto na desaceleração de 2000-03. Durante a década anterior, auxilia- da pela enorme revalorização do iene e do marco imposta pelo governo dos Estados Unidos aos seus rivais japoneses e alemães na época do Acordo Plaza de 1985, a lu- cratividade industrial norte-americana teve uma recuperação significativa após um longo período de estagnação e cresceu um total de 70% entre 1985 e 1995. Como, na verdade, a taxa de lucro fora do setor industrial caiu levemente nesse período, tal aumento da taxa de lucro da indústria provocou, sozinho, um crescimento bastante grande da lucratividade da economia privada norte-americana, elevando em 20% a taxa de lucro empresarial do setor não-financeiro no decorrer da década e recuperan- do seu nível de 1973. Com base nessa reanimação, a economia dos Estados Unidos começou a se acelerar mais ou menos a partir de 1993, exibindo, pelo menos na superfície, um dinamismo maior que em muitos anos.
Ainda assim, as expectativas da economia norte-americana acabaram limita- das pela situação geral da economia mundial. A recuperação da lucratividade nor- te-americana baseou-se não só na desvalorização do dólar como também numa década de aumento salarial real quase nulo, na grande redução da atividade indus- trial, na queda dos juros reais e na volta aos orçamentos equilibrados. Portanto, ocorreu em grande parte à custa de seus principais rivais, que foram duramente atingidos tanto pelo crescimento mais lento do mercado norte-americano quanto pela maior competitividade de preços das empresas dos Estados Unidos na economia global. Levou, na primeira metade dos anos 1990, às recessões mais profundas do pós-guerra, tanto no Japão quanto na Alemanha, originadas pela crise industrial de ambos os países. Em 1995, assim que o setor industrial ja- ponês ameaçou congelar-se quando o câmbio subiu para 79 ienes por dólar, os Estados Unidos foram obrigados a retribuir o favor concedido uma década antes pelo Japão e pela Alemanha, concordando em provocar, em coordenação com seus parceiros, um novo aumento do dólar. Nunca é demais ressaltar que, com a subida precipitada do dólar ocorrida a seguir, entre 1995 e 2001, a economia dos Estados Unidos foi privada do principal motor responsável por sua virada impressionante do decênio anterior, ou seja, a acentuada melhora da lucratividade industrial, da competitividade internacional e do desempenho das exportações. Isso, por sua vez, preparou o cenário para as duas tendências que configurariam a economia norte-americana no restante da década e até hoje. A primeira delas foi o apro- fundamento da crise do setor industrial, das exportações e (depois de 2000) dos investimentos nos Estados Unidos; a segunda foi o crescimento ininterrupto da dívida do setor privado, do consumo das famílias e dos preços das importações e dos ativos, o que responderia pela expansão constante de parte significativa do setor não-industrial – acima de tudo o setor financeiro, mas também os setores dependentes de crédito, importações e consumo, como construção civil, comércio varejista e serviços de saúde.
O keynesianismo do mercado de ações
Quando o dólar disparou, a partir de 1995, o fardo da capacidade ociosa internacional passou para os Estados Unidos. As coisas ficaram muito piores para os fabricantes norte-americanos quando as economias do leste da Ásia entraram em crise em 1997-98, causando a retração da demanda daquela região, a desvalorização de suas moedas e a venda sob pressão no mercado mundial. De 1997 em diante, a taxa de lucro industrial dos Estados Unidos voltou a sofrer um grande declínio. Mas, embora caísse a lucratividade industrial, o mercado de ações norte-americano decolou. De início, sua alta foi impulsionada por uma queda acentuada dos juros de longo prazo em 1995, o que resultou numa entrada enorme de dinheiro dos governos do leste da Ásia no mercado financeiro norte-americano, forçando o dólar a subir. Essa alta foi sistematicamente mantida até o fim da década pelo regime de dinheiro fácil de Alan Greenspan no Fed, que se recusou a elevar os juros entre o início de 1995 e meados de 1999 e auxiliou com todo o vigor o mercado de títulos com injeções de crédito ao menor sinal de instabilidade financeira. Greenspan tinha total consciência do impacto depressivo sobre a economia das ações de Clinton para equilibrar o orçamento e da nova decolagem do dólar. Portanto, buscou o efeito-ri- queza do mercado de ações para compensá-lo, alavancando o crédito empresarial e familiar e, assim, a demanda de consumo e investimentos. Na verdade, o Federal Reserve substituiu o aumento do déficit público, que fora tão indispensável para o crescimento econômico dos Estados Unidos na década de 1980, pelo aumento do déficit privado na segunda metade da década de 1990 – um tipo de “keynesianismo do mercado de ações”5.
Assim que o preço dos títulos subiu, as empresas, principalmente de infor- mática, viram-se com acesso fácil e sem precedentes a financiamentos, quer me- diante empréstimos com a garantia ostensiva de sua capitalização no mercado acionário, quer pela emissão de ações. Em conseqüência, o endividamento das empresas não-financeiras disparou, chegando, no fim da década, a níveis nunca vistos. Embora durante todo o período do pós-guerra as empresas tivessem se financiado quase inteiramente com lucros acumulados (depois de descontados juros e dividendos), agora as empresas que não conseguiam empréstimos baratos buscavam recursos no mercado de ações, num volume que antes seria inconce- bível. Com base nisso, os investimentos explodiram, crescendo numa taxa média anual de cerca de 10%, e explicaram, em termos de crescimento contábil, cerca de 30% do aumento do PIB entre 1995 e 2000.
As famílias ricas também se beneficiaram do efeito-riqueza da disparada do preço das ações. Ao verem elevar-se o valor de seus papéis, acharam justo aumen- tar seus empréstimos anuais, assim como sua dívida em aberto, em níveis quase recordes como percentual da renda familiar. Também se sentiram em condições de elevar em quase 100% o consumo doméstico em relação à renda pessoal, pro- vocando uma redução paralela da taxa de poupança familiar dos Estados Unidos de 8% para quase zero no decorrer da décadaG. Os gastos de consumo subiram violentamente, ajudando bastante a absorver o aumento de produção gerado pela subida dos investimentos e da produtividade. Entre 1995 e 2000, tomou forma uma expansão vigorosa – marcada pela aceleração da produção – da produtivida- de, do emprego e, por fim, do crescimento salarial real. Mas essa expansão de- pendia quase inteiramente de uma alta do mercado acionário que não tinha apoio nenhum no lucro básico das empresas.
Por ocorrer em face da tendência de queda da lucratividade e ser possibilita- da pelo aumento do endividamento das empresas e do consumo familiar, ambos dependentes da bolha do mercado de ações, boa parte desse crescimento dos in- vestimentos na segunda metade da década foi, inevitavelmente, mal distribuída. A extensão e a profundidade da capacidade ociosa ampliaram-se muitíssimo, em especial nos ramos de alta tecnologia dentro e fora do setor industrial, exacerban- do o declínio da lucratividade. Em toda a economia, a redução do crescimento dos custos que resultou do aumento da produtividade foi mais que compensada pela desaceleração dos aumentos de preço oriunda da ultrapassagem da demanda pela oferta. Assim, os consumidores acabaram sendo os beneficiários principais, embora temporários, de um processo que minava a si mesmo e que provocou um aumento inexorável da pressão de queda sobre o lucro. Entre 1997 e 2000, quando o boom e a bolha chegaram ao apogeu, o setor empresarial não-financeiro suportou uma queda de quase um quinto da taxa de lucro.
CRISE DA INDÚSTRIA E DA ALTA TECNOLOGIA
Mas nem a ascensão da economia real nem a de sua representação no papel sob a forma do preço das ações conseguiram resistir por muito tempo à atração gravitacional da queda do lucro. A partir de julho de 2000, a série de balanços em- presariais cada vez piores provocou uma virada cíclica para baixo, tanto ao reverter o efeito-riqueza quanto ao revelar a massa de capacidade produtiva ociosa e a mon- tanha de dívidas das empresas que constituíam a herança dupla da expansão dos investimentos causada pela bolha. Com a capitalização de mercado violentamente reduzida, as empresas acharam não só mais difícil como menos atraente pegar dinheiro emprestado, sobretudo porque a queda do lucro e a ameaça crescente de insolvência levou-as a buscar o reequilíbrio de seus balanços sobrecarregados de dívidas. Depois de comprar muito mais instalações, equipamentos e programas de computador do que podiam pôr em funcionamento de forma lucrativa, foram obrigadas a baixar os preços ou a deixar sem uso sua capacidade de produção, sus- tentando, de um modo ou de outro, a queda do lucro. Para agüentar o declínio da lu- cratividade, as empresas cortaram despesas de produção e de capital, reduzindo ao mesmo tempo o nível de emprego e o crescimento salarial para diminuir os custos. Em toda a economia essas ações restringiram de forma radical a demanda agregada, arrastando para baixo a economia e exacerbando, ao mesmo tempo, o declínio da lucratividade por deprimir a utilização da capacidade instalada e o crescimento da produtividade. O fardo implacável do pagamento de juros sobre o imenso passivo da dívida empresarial comprimiu ainda mais o lucro. No período de um ano, de meados de 2000 a meados de 2001, o crescimento do PIB caiu de 5% para –1% ao ano, e o investimento, de 9% para –5% – em ambos os casos, mais depressa do que nunca desde a Segunda Guerra Mundial –, fazendo a economia despencar.
Em 2001, 2002 e na primeira metade de 2003, o emprego na economia não- agrícola (medido em horas e incluindo autônomos) caiu 2%, 2,5% e 1,5% respec- tivamente, depois de ter aumentado numa taxa anual média de mais de 2% entre 1995 e 2000. Por si só, isso provocou um golpe tremendo na demanda agregada, um impulso de queda inexorável e persistente na economia. Ao mesmo tempo, o salário real por hora, que crescera 3,5% em 2000, foi violentamente cortado – res- pectivamente, –0,1%, –1,2% e –0,3% em 2001, 2002 e na primeira metade de 2003. Como resultado da combinação de um menor crescimento do salário por hora e da queda do emprego, a remuneração real total não-agrícola, principal ele- mento da demanda agregada, caiu 1,2%, 1,4% e 0,2%, respectivamente, em 2001, 2002 e na primeira metade de 2003, depois de crescer num ritmo anual de 4,3% entre 1995 e 2000. Talvez o mais espantoso de tudo seja que, depois de aumentar numa taxa média anual de 10% entre 1995 e 2000, a despesa real com instalações e equipamento tenha caído de modo drástico em 2001 e 2002 e estagnado na primeira metade de 2003. Mantendo iguais os outros fatores, esses golpes fortís- simos na demanda de consumo e investimentos, resultantes da redução masto- dôntica do nível de emprego, da remuneração e do aumento da despesa de capital, poderiam manter a economia em recessão ou perto dela até o presente. Com efei- to, mesmo em face do enorme programa de estímulo do governo, foram respon- sáveis por levar o crescimento anual médio do PIB não-agrícola de 4,6% entre 1995 e 2000 a –0,1% em 2001 e por impedir que subisse mais que 2,7% em 2002 e 2,6% na primeira metade de 2003.
Exacerbando a virada ladeira abaixo, as vendas externas dos Estados Unidos também despencaram. Nas duas décadas anteriores, o crescimento das exporta- ções norte-americanas tendeu a depender, paradoxalmente, do aumento das im- portações. Isso porque se baseavam numa economia mundial cujo crescimento, cada vez mais dependente das exportações, dependia também cada vez mais do crescimento das importações norte-americanas. O último impulso de alta do mer- cado de ações nos dois últimos anos do século salvara a economia mundial, assim como salvara as exportações norte-americanas, da crise do leste da Ásia, pois criou uma expansão efêmera das importações, em especial de componentes de infor- mática. Mas com o colapso dos investimentos e dos preços dos ativos nos Estados Unidos – sobretudo, mais uma vez, nos setores da “nova economia” – o processo inverteu-se. O Japão, a Europa e o leste da Ásia passaram a perder ímpeto tão depressa quanto os Estados Unidos, enquanto boa parte do mundo em desenvolvi- mento, principalmente a América Latina, caía de volta na crise depois de uma bre- ve lua-de-mel. Com a economia dos parceiros comerciais dos Estados Unidos tão dependente das vendas aos Estados Unidos – e com a propensão norte-americana de importar muito maior que a da União Européia e do Japão –, a queda rumo à recessão reduziu mais a capacidade do resto do mundo de absorver importações dos Estados Unidos do que o contrário. Em 2001, 2002 e na primeira metade de 2003, portanto, o crescimento das exportações norte-americanas caiu mais do que as importações dos Estados Unidos em períodos anteriores. A importação real dos Estados Unidos, depois de aumentar 13,2% em 2000, caiu 2,9% em 2001 e subiu, respectivamente, 3,7% e 2,25% em 2002 e na primeira metade de 2003. A exportação real norte-americana, por outro lado, depois de crescer 9,7% em 2000, caiu 5,4%, 3,6% e 0,1% em 2001, 2002 e na primeira metade de 2003. Enquanto o resto do mundo, privado do motor norte-americano, desacelerava-se, os Estados Unidos só podiam contar consigo mesmos para iniciar uma recuperação econô- mica da qual dependia toda a economia global.
Para resistir ao mergulho, a partir de janeiro de 2001 o Federal Reserve baixou o custo dos empréstimos com rapidez sem igual, reduzindo em onze ocasiões, no decorrer do ano, a taxa de juros de curto prazo de 6,5% para 1,75%. Mas, como descobriu o Fed, a redução dos juros é muito mais eficaz para reviver a economia quando o consumo foi restringido pelo aperto do crédito – como em todos os reve- ses cíclicos anteriores ao pós-guerra – do que para reanimar uma economia levada à recessão pelo declínio dos investimentos e do emprego resultante do excesso de capacidade instalada, causando a queda da taxa de lucro.
Dotadas de um volume imenso de instalações e equipamento, as empresas não- financeiras tinham pouco incentivo para aumentar a acumulação de capital, não importando até onde o Fed baixasse os juros. Pelo contrário: depois de aumentar seu endividamento, entre 1995 e 2000, de 73% da produção para 90%, tinham todos os motivos para recuperar seus balanços tentando economizar mais, e isso lhes tornava ainda mais difícil investir. Embora a aumentadíssima riqueza aparente advinda da capitalização no mercado permitisse às empresas não-financeiras elevar seu nível de empréstimos em relação à renda ao quase recorde de 8% em 1998, 1999 e 2000, tomados em conjunto, elas foram obrigadas a reduzi-lo violentamen- te para 4,6%, 2,1% e 2,6%, respectivamente, em 2001, 2002 e na primeira metade de 2003, quando o valor de suas ações caiu de vez. Assim, as despesas não-residen- ciais reais em instalações e equipamento despencaram feito pedra, reduzindo-se da taxa anual média de 10,1% entre 1995 e 2000 para uma taxa anual média de –4,4% entre 2000 e meados de 2003. Foi o fracasso de reviver os investimentos que cons- tituiu o principal fator a impedir o avanço da economia.
Excesso de capacidade industrial
O setor industrial foi a base e a fonte – principais e quase exclusivas – da desa- celeração econômica, quando deu frutos a evolução que amadurecera na meia dé- cada anterior. Embora, em meados dos anos 1990, esse setor chegasse a constituir apenas 29,3% e 32,7%, respectivamente, do PIB empresarial não-financeiro, em 1995 a indústria ainda respondia por 42,5% do lucro empresarial e 50% do lucro empresarial não-financeiro antes de descontados os juros. Em conseqüência, o mergulho da indústria na crise levou à crise toda a economia.
Entre 1995 e 2000, o crescimento dos custos da economia industrial norte- americana não representou ameaça à lucratividade. Pelo contrário: o crescimento da produtividade na indústria foi tão rápido que mais do que compensou o au- mento dos salários, com o resultado de que o custo unitário da mão-de-obra caiu numa impressionante taxa média anual de mais de 1% ao ano no qüinqüênio. Ainda assim, os produtores norte-americanos acharam muitíssimo mais difícil defender, quem dirá expandir, os seus mercados e margens de lucro durante esse período, pois tiveram de enfrentar uma valorização do dólar de 21% em termos ponderados pelo comércio exterior e, a partir de 1997, uma situação de crise no mercado mundial. Os preços mundiais de exportação, medidos em dólares, caí- ram espantosos 4% ao ano naquela meia década, tendo como conseqüência que, embora a exportação industrial norte-americana aumentasse num ritmo anual médio de 7%, a importação industrial cresceu 40% mais depressa, a 10% ao ano, e sua participação no mercado dos Estados Unidos aumentou um terço. Apesar da queda dos custos de produção, a pressão dos preços foi, portanto, tão intensa que o setor industrial só manteve a taxa de lucro entre 1995 e 1997, e mesmo assim só porque a pressão salarial foi fraquíssima nesses dois anos, tendo o salário real caído 1,5%. Entre 1997 e 2000, os preços baixaram ainda mais do que o custo unitário da mão-de-obra, o que fez que, naquele breve período, enquanto a bolha da economia inchava, a taxa de lucro da indústria caísse 15%.
Em 2001 a crise da indústria chegou ao ponto máximo, quando a pressão competitiva do mercado mundial se intensificou e complicou enormemente com a desaceleração do mercado doméstico. Enquanto os preços da indústria baixavam mais 2,4% e a exportação industrial (nominal) dos Estados Unidos caía 7%, os fabricantes norte-americanos viram o crescimento do consumo interno reduzir-se pela metade. Diante dessas contrações, o PIB industrial norte-americano caiu ar- rasadores 6% e a utilização da capacidade instalada declinou 7,1%. Enquanto isso, o investimento real na indústria diminuiu 5,4%. Com a produção e a utilização da capacidade instalada, assim como as despesas com novas instalações, equipa- mento e software, caindo tão depressa, os empregadores não conseguiram reduzir a força de trabalho na velocidade necessária para impedir uma queda estrondosa do crescimento da produtividade. Na verdade, o nível de emprego (medido em horas) baixou em 4,8%. Mas, ainda assim, o crescimento da produção por hora na indústria caiu de 6,1% em 2000 para –0,4 em 2001.
As indústrias reagiram a essa pressão excruciante segurando a remuneração dos empregados: o salário real, que crescera 3,9% em 2000, caiu 1,2% em 2001. Mas, com a produtividade e a utilização da capacidade instalada despencando, os empregadores não conseguiram evitar que o custo unitário da mão-de-obra au- mentasse 2%. Nem puderam impedir que os preços industriais internos caíssem 0,4%, depois de uma queda de 2% em 2000. O resultado foi que, em 2001, a taxa de lucro do setor industrial baixou mais 21,3% e chegou a um nível mais de um terço abaixo de seu ponto máximo de 1997. Entre 1997 e 2001, enquanto o endividamento empresarial disparava, os juros líquidos das indústrias, em relação ao lucro líquido, subiram de 19% para 40,5%, um recorde no pós-guerra. Como conseqüência parcial disso, em 2001 o lucro industrial, depois de descontados os juros, caiu um total de 44,4% desde seu ponto mais alto de 1997.
A crise de lucratividade atingiu todo o setor industrial, inclusive as indústrias tradicionais, do ramo têxtil ao aço e aos produtos de couro. O olho da tempestade, entretanto, foi o ramo de informática, situado na maior parte no setor de bens duráveis, mas incluindo alguns ramos fora do setor industrial, mais notadamente o de telecomunicações. O setor de serviços prestados a empresas, que atende so- bretudo à indústria, também foi duramente atingido. Os setores de alta tecnologia tinham sido os mais beneficiados pela liberalidade financeira gerada pela alta do mercado de ações, tornando-se os principais agentes do excesso de investimento – e, por sua vez, as maiores vítimas da capacidade ociosa –, da queda dos lucros e dos balanços sobrecarregados. Muitos sofreram quedas imensas de sua taxa de lu- cro. Mesmo quando a taxa de lucro não caiu de modo espetacular, essas empresas agüentaram, em geral, declínios bem grandes do lucro absoluto descontados os juros, em função do custo desmedido do serviço das dívidas imensas que tinham contraído na época da bolha. Entre 1995 e 2001, o lucro, descontados os juros, do setor de equipamentos eletrônicos (inclusive computadores) caiu de US$ 59,5 milhões (1997) para US$ 12,2 bilhões; do setor de equipamentos industriais (in- clusive semicondutores), de US$ 13,3 bilhões para US$ 2,9 bilhões; do setor de te- lecomunicações, de US$ 24,2 bilhões (1996) para US$ 6,8 bilhões; e dos serviços prestados a empresas, de US$ 76,2 bilhões (1997) para US$ 33,5 bilhões.
O declínio da lucratividade industrial foi, por si só, responsável por toda a queda da taxa de lucros do setor empresarial não-financeiro em geral no ano de 2001. Ou seja, o setor empresarial não-financeiro, sem contar o setor industrial, conseguiu evitar a queda da taxa de lucros em 20017. Na prática, a crise da lucra- tividade industrial em 2001 foi suficientemente grave para causar uma queda de 10% da taxa de lucro do setor empresarial não-financeiro. Nesse ano, a taxa de lucro empresarial não-financeiro, já tendo sofrido um declínio de 19% entre 1997 e 2000, caiu um total de 27% desde seu ponto máximo em 1997.
FIGURA 1 – Taxa de lucro da indústria dos Estados Unidos, setores de alta tecnologia e correlatos (%), 1995-2001
Fontes: Quadros de GPO e de ativos fixos, website do BEA; Andrew Glyn, correspondência pessoal. Ver mais informações em “Uma nota sobre as fontes”, p. 158.
Foi do setor industrial e dos setores correlatos que continuou a emanar a pres- são de queda mais forte da economia, quando os empregadores industriais cortaram impiedosamente os custos para recuperar o lucro. Em 2002 e na primeira metade de 2003, reduziram a produção em 0,4% e 2,8% respectivamente8 e diminuíram os investimentos bem mais depressa, numa taxa média anual de 5% ou mais9. Acima de tudo, reduziram de modo drástico o nível de emprego. Entre julho de 2000 e ou- tubro de 2003, os empregadores eliminaram 2,8 milhões de postos de trabalho no setor industrial. Isso foi bem mais de 100% do total de 2,45 milhões de empregos do setor privado perdidos no mesmo período, significando na verdade que a econo- mia fora da indústria criou vagas nesses anos. Desde seu ponto máximo mais recen- te em 1997, o setor industrial perdeu um quinto da força de trabalho. Em grande medida como conseqüência disso, depois de ter crescido num ritmo anual médio de 3,8% entre 1995 e 2000, a remuneração total na indústria caiu em média 3,1% ao ano entre o final de 2000 e meados de 2003, respondendo, portanto, mais uma vez, pela maior parte do declínio da remuneração real total havido na economia não- agrícola durante o período. Por meio de seu efeito restritivo acentuado e constante sobre o crescimento da demanda efetiva, a crise dos investimentos e do emprego foi o principal fator depressivo da economia em geral desde o início da desaceleração no final de 2000 – e o colapso dos investimentos e empregos no setor industrial esteve, em grande parte, por trás daquela crise.
UMA VIA DE EXPANSÃO DISTORCIDA
Em meados de 2003, as reduções históricas da taxa de juros determinadas por Greenspan esbarraram numa muralha de capacidade industrial ociosa e en- dividamento das empresas e não conseguiram interromper a desaceleração dos investimentos, estimular as empresas a tomarem empréstimos nem conferir novo dinamismo ao setor industrial e setores correlatos, sobretudo na forma de crescimento do nível de emprego. Portanto, o Fed não teve escolha senão retornar ao estímulo do crescimento do consumo para manter a economia funcionando. Nisso, teve bom grau de sucesso e, em conseqüência, a economia acabou seguin- do uma trajetória dupla e paradoxal. Os setores industriais e correlatos continua- ram numa contração profunda, cuja origem vinha desde 1995 e baseava-se num excesso constante e global da capacidade instalada, na intensificação da competi- ção estrangeira e na longa sobrevalorização do dólar. Mas partes importantes do setor não-industrial conseguiram, por sua vez, manter uma expansão também originada em meados da década de 1990, em razão da perpetuação, durante o boom e a desaceleração subseqüente, das tendências e condições mais amplas que datavam daquela época – notadamente a disponibilidade cada vez maior de crédito barato, a alta contínua das bolhas de preço das ações, o crescimento impetuoso e interminável do endividamento, o aumento dos gastos do consumidor impulsio- nado pelo crédito barato e a subida estonteante das importações barateadas pelo valor elevado do dólar.
Até certo ponto, as reduzidas taxas de juros de Greenspan conseguiram pro- mover diretamente o crédito e, portanto, o consumo. Durante as desacelerações econômicas, as famílias costumam aumentar seu nível de endividamento para cobrir a perda de receita que resulta do menor crescimento salarial e do aumento do desemprego. Mas, justamente por enfrentarem a pressão de queda da renda, as famílias têm um limite intrínseco da capacidade de aumentar o fardo da dívida que conseguem agüentar. Em 2001, em função das demissões e do achatamento dos salários, a remuneração real total de todos os empregados, inclusive dos que trabalham para o governo, perdeu 1,7% em comparação com o último trimestre de 2000; caiu mais 0,1% em 2002; e subiu apenas 0,4% na primeira metade de 2003. A intenção do Fed foi superar as limitações dessa estagnação da renda revi- vendo – ou, talvez com mais exatidão, continuando – sua estratégia da década de 1990, ou seja, estimular a economia com base no efeito-riqueza.
Mais uma vez, assim, Greenspan buscou elevar o preço das ações, inflar a riqueza de papel, para aumentar a capacidade de tomar empréstimos e, portanto, de gastar. Mas, com a queda profunda da lucratividade desde 1997 e dos preços dos ativos a partir de meados de 2000, além da preocupação das empresas com a redução do endividamento mediante cortes nos empréstimos, teve de mudar de ênfase. O Fed ainda tenta estimular o mercado de ações para melhorar as condi- ções financeiras das empresas e o resultado dos negócios em termos mais gerais. Mas teve de depositar sua esperança de estimular a economia principalmente na queda dos juros hipotecários e no aumento do preço das habitações, de modo a abrir caminho para um aumento dos empréstimos das famílias e dos gastos do consumidor (inclusive o investimento em imóveis). Em seus próprios termos, es- sas esperanças se concretizaram de modo espetacular.
Graças, em parte, às ações do Fed, os juros de longo prazo caíram bastante e o preço dos imóveis subiu de repente. Entre junho de 2000 e junho de 2003, os juros das hipotecas fixas de 30 anos caíram de 8,29% para 5,23%, num total de 37%. No mesmo intervalo, o preço dos imóveis residenciais subiu 7% ao ano, ampliando e acentuando uma tendência que começara entre 1995 e 2000, quan- do esse preço aumentou em média 5,1% ao ano. Com o valor da garantia muito aumentado e o custo do empréstimo radicalmente reduzido, as famílias conse- guiram elevar rápido seu nível de endividamento, mesmo com a desaceleração da economia, a queda do salário horário médio real e o aumento do desemprego. Entre 1998 e 2000, o endividamento familiar médio de 7,5% em relação à renda familiar anual já se aproximava do ponto máximo histórico atingido em meados da década de 1980. A partir de 2001, subiu acentuadamente e, na primeira me- tade de 2003, quebrou todos os recordes ao se aproximar de 12%. O crescimento da dívida das famílias foi responsável por 70% do crescimento total da dívida pri- vada não-financeira em aberto entre 2000 e 2003. Quase todos os empréstimos familiares nesses anos (85%) foram feitos por meio de hipotecas da casa própria, possibilitados pela inflação do valor dos imóveis e pela redução dos juros – menos de 15% mediante outros tipos de crédito ao consumidor, evidentemente contidos pela estagnação da renda.
Aproveitando-se da valorização de seus imóveis e da queda do custo dos em- préstimos, as famílias conseguiram “arrancar” grandes quantias de seu patrimô- nio, por meio da venda de casas, refinanciamentos e segundas hipotecas, e assim desempenhar com toda a competência o papel a elas atribuído de impulsionar a economia com a manutenção do crescimento do consumo. Entre 2000 e meados de 2003, o aumento do consumo real chegou a 2,8% ao ano, embora, como já foi dito, a remuneração real total tenha na verdade declinado no mesmo período. O crescimento constante do consumo, que dependia do crescimento da dívida das famílias, foi o fator determinante por trás do aumento do PIB a partir de 2000, limitando a queda vertiginosa da economia em 2001, estabilizando-a no inverno de 2001-02 e estimulando o crescimento que ocorreu desde então. Em termos de contabilidade nacional, o aumento do consumo pessoal foi responsável por quase todo o aumento do PIB havido entre 2000 e a primeira metade de 2003. Por si só, respondeu por um crescimento 16% maior do que o realmente ocorrido naquele período. Dito de outra forma, não só afastou sozinho o impacto negativo substan- cial da queda dos investimentos e da ampliação do déficit comercial sobre o cres- cimento do PIB como, além disso, respondeu por cerca de 50% do crescimento positivo ocorrido. Depois de cair 0,3% em 2001, o crescimento do PIB chegou a 2,4% em 2002 e 2,35% na primeira metade de 2003 (anualizado).
TABELA 1 – Crescimento impulsionado pelo consumo
O investimento das famílias inclui bens móveis e imóveis. Fonte: Quadro NIPA S.2, website do BEA.
O Fed está bancando a aposta de que o crescimento do consumo vai durar tempo suficiente para que as empresas se livrem da capacidade ociosa, voltem a investir e contratar e permitam que o todo-poderoso consumidor possa descansar. É isso que é necessário para devolver à economia uma aparência saudável.
Estímulo fiscal
Enquanto o Fed implementava seu estímulo monetário, o governo Bush acres- centou o que parecia ser um grande estímulo fiscal de acordo com o modelo de Ronald Reagan, forçando a aprovação pelo Congresso de enormes cortes tributá- rios e grandes aumentos dos gastos militares. Mas essas medidas são menos poderosas do que parece. O governo jogou uns ossinhos para a massa da popula- ção – cedeu recursos aos estados para ajudar a cobrir o custo da assistência médica Medicare, reduziu os tributos dos casados, aumentou o crédito tributário para a assistência infantil e antecipou as reduções fiscais exigidas pela Lei Tributária de 2001. Mas, em conjunto, todas essas medidas representaram apenas cerca de US$ 35 bilhões em 2003. Podem ser um estímulo palpável e temporário, mas seu impacto sobre uma economia de US$ 11 trilhões está fadado a ser passageiro. As reduções tributárias remanescentes diminuem em especial a carga sobre os divi- dendos e, portanto, beneficiam quase exclusivamente os mais ricos. Seu efeito será muito maior no aumento da poupança e da compra de títulos financeiros do que no estímulo ao consumo, pouco fazendo para melhorar a demanda agregada. O fato de que os cortes de impostos em nível federal reduzirão a receita dos gover- nos estaduais com menos recursos, forçando-os a cortar despesas e, em alguns casos, aumentar a tributação, pode contrabalançar em boa parte, embora não de todo, o estímulo que trouxerem.
Na esteira do 11 de Setembro, os gastos militares cresceram 6% em 2001 e 10% em 2002, permitindo que os ativos dos nove maiores fornecedores de mate- rial bélico do país tivessem desempenho 30% melhor do que a média das empre- sas listadas no índice S&P 500 no ano que se seguiu aos ataques ao World Trade Center e ao Pentágono10. Como representaram, respectivamente, cerca de 65% e 80% do total do aumento de gastos federais nesses dois anos, os gastos com a de- fesa ajudaram, inquestionavelmente, a empurrar a economia para a frente. Ainda assim, o crescimento das despesas militares foi responsável por um aumento total de, no máximo, 0,75% do PIB em 2001 e 200211.
É claro que, enquanto a economia se desacelerava, a combinação de imen- sos cortes de impostos para os ricos e um aumento gigantesco dos gastos mili- tares lançou o governo federal num mergulho ainda mais fundo no vermelho.
Em 2000, graças à expansão especulativa e aos enormes ganhos de capital com a valorização das ações, o orçamento federal teve um saldo positivo de uns US$ 236 bilhões. Em apenas dois anos e meio, contudo, mergulhou assustadores US$ 450 bilhões no negativo. Como a economia vinha tropeçando, os déficits keynesianos entraram na ordem do dia. Mas como parte tão expressiva da motivação do pacote do governo era política e militar, mais do que estritamente econômica, não sur- preende que o modo como afundou no déficit o superávit das finanças públicas tenha sido tão pouco eficaz como estímulo ao crescimento econômico.
Em conseqüência do aumento constante do consumo gerado pelo crescimen- to rápido do endividamento familiar e, até certo ponto, do governo, grande parte da economia não-industrial passou pela desaceleração em relativa boa forma. Até na recessão de 2001 a taxa de lucro da economia empresarial não-financeira e não-industrial como um todo chegou a subir um pouquinho e cresceu bem mais depressa em 2002 e na primeira metade de 2003. Supondo que a produção in- dustrial tenha se mantido mais ou menos constante no período, o PIB do setor não-industrial e não-agrícola cresceu à taxa média anual de mais de 3%. O quadro do emprego foi bem mais negro. Embora o emprego não-industrial tenha criado, em termos líquidos, 230 mil postos de trabalho entre julho de 2000 e outubro de 2003, os ganhos foram todos no setor financeiro (306 mil), imobiliário (51 mil) e serviços de saúde e educacionais (1,515 milhão). Deixando de lado esses três setores, o resto da economia não-industrial e não-agrícola perdeu 1,642 milhão de vagas. Mas isso não muda o fato de que os setores em melhores condições de apro- veitar a queda dos juros, a aceleração do endividamento, o aumento dos gastos do consumidor, a disparada do crescimento das importações e a subida do valor das ações – notadamente a construção civil, o comércio varejista e, acima de tudo, o setor financeiro – tiveram excelente desempenho, dando um tom característico à trajetória econômica dos Estados Unidos no novo milênio.
Construção e varejo
Por razões óbvias, a construção civil viveu sua maior expansão no pós-guerra. A economia cresceu praticamente sem parar durante uns dez anos, aumentando como nunca a pressão sobre a oferta de moradias. Além disso, desde meados da década de 1990, o crescimento do consumo, sustentado pelo acesso cada vez mais fácil ao crédito, foi ainda mais rápido, ampliando o impacto da expansão econômi- ca constante sobre a demanda habitacional. A conseqüência inevitável foi um au- mento espetacular das vendas e do valor dos imóveis. Enquanto isso, o crescimen- to do salário real na construção civil – setor que já foi altamente organizado e que hoje, em grande parte, se dessindicalizou – ficou abaixo de 1% ao ano no último decênio. Nos quinze anos anteriores, entre 1978 e 1993, o salário real na construção civil caiu, em média, 1,1% ao ano – 14%, no total. Assim, a taxa de lucro nesse setor disparou como nunca, aumentando seis vezes na década que terminou em 2001 e chegando, naquele ano, a um nível 50% mais alto que em qualquer ponto do período desde 1945, incluindo a longa expansão do pós-guerra.
A prosperidade do varejo, como a da construção civil, baseou-se em bem mais de uma década de cortes salariais. Entre 1978 e 1991, a remuneração real neste nesse setor caiu em média 1,6% ao ano, numa queda total de 19%. Na década se- guinte, os varejistas se beneficiaram não só da expansão geral da economia como do aumento especialmente rápido das despesas do consumidor – as orgias de compras dos yuppies, alimentadas pelo efeito-riqueza. Foram ainda mais favore- cidos pelo aumento irreprimível do dólar, que barateou as importações e abriu caminho para a maré crescente de todos os tipos de mercadoria barata oriunda da China. Entre 1995 e 2002, a República Popular da China tornou-se o maior expor- tador para os Estados Unidos, cujas importações subiram de US$ 44 bilhões para US$ 122,5 bilhões, avançando num ritmo médio de 16% ao ano. Nesse processo, a Wal-Mart, hoje a maior empresa do mundo, teve papel principal e muito divul- gado, e responde atualmente por nada menos que 10% de todas as importações da China, aproveitando-se da superprodução comuníssima em tantas indústrias chinesas para exigir preços ainda mais baixos. Mas muitos outros varejistas norte- americanos tiveram excelente resultado nesse comércio12. Entre 1992 e 2001, o varejo criou 2,4 milhões de empregos, um aumento de 19%. No mesmo período, a taxa de lucro do varejo subiu todos os anos, num total de 57%, tendo inclusive um aumento de 8% mesmo na recessão de 200113.
O setor financeiro
A expansão do setor financeiro correu paralela à da construção civil e do vare- jo, mas foi de ordem totalmente diferente. No decorrer da década de 1990, assumiu proporções verdadeiramente revolucionárias, transformando o mapa da economia norte-americana e se espalhando sem parar nos primeiros anos do novo milênio. Nesse setor, a virada começou de fato com a passagem para o monetarismo, os juros altos, o dólar forte e a desregulamentação financeira no início dos anos 1980. Resultou, em particular, do fracasso de uma década de tentativas de atenuar o declínio da lucratividade não-financeira, em especial na indústria, por meio de déficits keynesianos e dólar barato. Mas, apesar dos passos contínuos para desal- gemar o setor financeiro e da imensa aceleração do mercado de títulos e obriga- ções durante a década de 1980, a combinação da onda de fusões e aquisições movida a empréstimos com a bolha do comércio imobiliário e com a inflação das ações terminou, ao fim de uma década, numa grande crise não só para os incorpo- radores, os bancos comerciais e o setor de poupança e empréstimos como tam- bém até para as próprias empresas não-financeiras.
Tudo isso mudou na década de 1990, quando Greenspan resgatou o setor financeiro. Com o início da recessão de 1990-91, Greenspan não só derrubou dramaticamente as taxas de juros de curto prazo, possibilitando aos bancos seguir, com resultados cada vez melhores, sua política padronizada de tomar dinheiro barato a curto prazo e emprestá-lo mais caro a longo prazo. Mas, além disso, per- mitiu aos bancos, violando regulamentos do governo, manter uma enorme quan- tidade de títulos de longo prazo – que se valorizaram espetacularmente quando os juros de longo prazo caíram – sem reserva de fundos para cobrir o risco a eles associado14. O lucro do setor financeiro recuperou-se de maneira quase instantâ- nea e iniciou uma subida vertiginosa que ainda não se interrompeu.
Todas as grandes tendências econômicas e políticas da década de 1990 foram favoráveis ao setor financeiro. A economia real tinha crescimento contínuo. A opção de Clinton pelo equilíbrio do orçamento mais o aumento impetuoso do dólar na esteira da inversão do Acordo Plaza – ambos engendrados por seu czar econômico Robert Rubin, ex-presidente executivo da Goldman Sachs – reduziram a inflação a um nível mínimo, protegendo o lucro real dos empréstimos (assim como prejudicando o lucro da indústria). Clinton e Rubin levaram a desregulamentação bancária à sua conclusão lógica, abrindo caminho para o surgimento dos “supermercados financeiros tem-tudo”, que puseram em funcionamento conjunto as atividades até então separadas de banco comercial, banco de investimentos e seguradora para magnificar o lucro. Acima de tudo, a bolha do mercado de ações criou oportunidades sem paralelo histórico para amealhar comissões e lucros com a administração de emissões de ações, compras e fusões de empresas, gerenciando, ao mesmo tempo, o financiamento do crédito às empresas e ao consumidor. Finalmente, quando a década e a bolha do preço das ações se aproximaram do clímax, a aceleração nascente do setor habitacional abriu para o setor financeiro outro campo enorme com excelentes oportunidades de caça. Entre 1994 e 2000, o lucro do setor financeiro dobrou. Já que, no mesmo período, o lucro do setor empresarial não-financeiro só aumentou 30%, o lucro do setor financeiro, em relação ao lucro empresarial total, pulou de 23% para 39%. Com isso, foi responsável por 75% do aumento do lucro empresarial obtido nesses anos.
O percentual representa o lucro financeiro dividido pelo lucro empresarial total, descontados os juros líquidos.
CONTRADIÇÕES DE UMA ECONOMIA MOVIDA A BOLHAS
A opção do Fed pelo crédito cada vez mais fácil deu uma aparência de ordem à economia dos segmentos não-industriais e trouxe um aumento maior da lucrati- vidade da construção civil e do varejo e a continuação de uma expansão marcante do setor financeiro. Mas, em grande parte, conseguiu isso por meio e à custa de inflar o valor dos títulos financeiros, em geral muito além do valor dos ativos sub- jacentes que representam. As bolhas que se seguiram foram a garantia necessária para sustentar o crédito sempre crescente, de modo a manter o consumo em alta e a economia girando. O resultado: o crescimento econômico dos Estados Unidos nos últimos três anos foi impulsionado por aumentos da demanda gerados por empréstimos feitos contra a valorização especulativa da riqueza de papel, bem mais que da demanda gerada pelo aumento dos investimentos e do nível de em- prego movido pelo crescimento do lucro.
É claro que o preço dos ativos caiu de forma violenta a partir de meados de 2000. Mas, paradoxalmente, seu declínio nem sequer começou a realinhar o va- lor das ações com o lucro que lhe dá base, porque este último também caiu. Em outubro de 2002, quando o preço dos ativos chegou ao ponto mais baixo, o índice composto S&P 500 estava 42% abaixo do ponto máximo de julho de 2000, mas a relação rendimento-preço (ou seja, a taxa de retorno do investimento em títulos), que já caíra 48% entre o pico inicial de 1995 e meados de 2000, não subiu, fican- do parada em torno de 3,7:1 – o que significa que os investimentos em ações ge- raram um lucro médio anual de menos de 4%. Na ausência da política de crédito barato do Fed, o preço das ações teria, obviamente, caído muito mais com relação ao rendimento que lhe dá base. Mas, em conseqüência, a bolha do preço das ações jamais arrebentaria.
Alguns meses depois, essa bolha começou a se expandir de novo. A partir de março de 2003, o preço das obrigações subiu e os juros caíram, ao que parece como expressão da fraqueza básica da economia. Mas o preço dos ativos decolou numa nova ascensão ininterrupta e o S&P 500 subiu cerca de 30% nos oito meses seguintes. Sem dúvida, era o que o Fed esperava. Ainda assim, no verão de 2003, segundo o Financial Times, a relação rendimento-preço do S&P 500 caiu por volta de mais 10% e chegou a 3:1, em comparação com uma média histórica de cerca de 7:1. O Fed conseguia impedir que o clima dos negócios ficasse ainda mais difícil, mas com isso, na verdade, sustentava a bolha do mercado de ações em relação à queda do preço dos ativos e a conseqüente desaceleração econômica. Uma corre- ção significativa poderia jogar a economia direto na recessão.
A bolha imobiliária
Quando o preço dos ativos começou a subir em meados da década de 1990, sustentando o lucro das empresas e o PIB, o preço dos imóveis também passou a inchar. De 1975, quando ficaram disponíveis os primeiros dados, até 1995, o preço dos imóveis residenciais subiu numa taxa mais ou menos semelhante à dos preços ao consumidor, ficando, assim, relativamente estável em termos reais. Durante a primeira metade dos anos 1980, o índice de preço dos imóveis residenciais ficou 5% a 10% abaixo do IPC, antes de alcançá-lo de novo em 1985; então, entre 1985 e 1990, ficou cerca de 13% acima do IPC, antes de tornar a cair em 1995. Assim, em 1995 o valor real dos imóveis era o mesmo que em 1985 e 1979. Mas, entre 1995 e a primeira metade de 2003, o aumento do índice de preços de imóveis residenciais excedeu o aumento do IPC em mais de 35 pontos – historicamente, uma elevação nunca vista do custo real da habitação.
A explicação dessa bolha imobiliária parece bastante clara, dado seu momen- to. À medida que os acionistas acumulavam riqueza com a expansão do mercado de ações, podiam buscar casas mais caras com mais rapidez do que era possível fornecê-las. Assim, com o aumento do preço das casas, os compradores se dispu- seram a pagar quantias cada vez maiores pelos imóveis, supondo que seu valor continuaria subindo, como no mercado acionário. Quando o mercado acionário caiu e a expansão terminou em 2000, a bolha imobiliária se manteve graças em parte à redução dos juros determinada pelo Fed, mas também à transferência de recursos das ações para o mercado imobiliário, em especial num cenário de retor- nos reduzidíssimos dos empréstimos a juros. O aumento do preço das residências era auto-sustentável, já que permitia aos proprietários, com a queda dos juros, comprar casas ainda mais caras, mantendo a demanda bem à frente da oferta1G.
Assim, em apenas quatro anos, de 1995 a 1999, a riqueza familiar na forma de casa própria aumentou 25%. Mas entre a época do pico do mercado de ações em 1999 e seu ponto baixo no primeiro trimestre de 2003, o valor dos imóveis habitacionais aumentou ainda mais depressa, com os preços subindo numa taxa anual média 5% mais alta do que os preços ao consumidor. Na verdade, o preço
FIGURA 3 – Riqueza familiar – ativos versus imóveis, em trilhões de dólares
Fonte: Quadro de Fluxo de Fundos B100, website do Federal Reserve.
real das habitações cresceu mais nesses anos do que em qualquer outro período comparável registrado. Em conseqüência, enquanto as ações (inclusive as aplicações em fundos mútuos) em posse das famílias caíam de valor, de US$ 12,2 trilhões para US$ 7,15 trilhões nesse breve período, numa queda de US$ 5,05 trilhões, ou 44%, o valor dos imóveis residenciais pertencentes a famílias subiu de US$ 10,4 trilhões para US$ 13,9 trilhões, aumento de US$ 3,6 trilhões, ou 35%, e recuperou seu antigo lugar de fonte número um de riqueza familiar.
Desde o final de 2000, o dinheiro obtido mediante apenas o refinanciamento de hipotecas foi responsável por, pelo menos, 20% do crescimento total do PIB. Quando se leva em conta a quantia obtida com a venda do imóvel e uma segunda hipoteca, assim como os investimentos na residência e a compra de mobiliário e artigos de decoração, os mercados habitacional e hipotecário responderam, no to- tal, por nada menos de dois terços do crescimento do PIB entre 2000 e a primeira metade de 2003. Isso significa que, na ausência dessas contribuições do setor habitacional, o crescimento médio anual do PIB no período seria de apenas 0,6%, em vez do 1,7% que na verdade ocorreu19.
Entre meados da década de 1990 e o fim do século houve outra inversão. A aceleração espantosa do endividamento de empresas e famílias depois da bolha do mercado de ações, combinada a uma nova decolada do dólar, assumiu então o pa- pel antes desempenhado pelos déficits públicos no subsídio da demanda exigida para impulsionar a economia não só dos Estados Unidos como do mundo todo, ao provocar um verdadeiro tsunami de importações norte-americanas de manu- faturados. Elas cresceram de US$ 480 bilhões em 1993 para US$ 1 trilhão em 2000, mais do que dobrando em sete anos, enquanto sua proporção em relação à produção industrial aumentava 50%. Já em 1995, o déficit comercial industrial pulara para US$ 145 bilhões. Chegou a US$ 271 bilhões em 1999 e aumentou para US$ 369 bilhões em 2002. Desse modo, respondeu, sozinho, por algo como 60% do aumento substancial do déficit norte-americano de transações correntes entre 1995 e 2002 e por três quartos de sua magnitude absoluta em 2002.
Na segunda metade da década de 1990, as transações correntes dos Estados Unidos, por si sós, quadruplicaram de tamanho e triplicaram como percentual do PIB, batendo novos recordes quase todo ano. Entre 2000 e meados de 2003, subi- ram mais 20% e chegaram a nunca vistos US$ 544 bilhões, cinco vezes o nível de 1995. Com isso, exacerbaram-se profundamente as dificuldades do setor industrial norte-americano e houve um estímulo indispensável ao resto da economia mundial, arrancando a Europa e o Japão de sua paralisação depois de 1995; salvan- do boa parte do leste da Ásia (e do resto do mundo) do quase colapso de 1997-98; resgatando a América Latina de crises profundas em 1994-95 e novamente em 1998-99; e, por fim, mantendo sob controle a depressão global de 2001 até hoje. É claro que o próprio aumento do déficit norte-americano de transações cor- rentes dependeu da disposição do resto do mundo para agüentar as dívidas e os ati- vos sempre crescentes dos Estados Unidos, financiando, na verdade, o aumento do consumo norte-americano para permitir que sua própria produção e exportação de manufaturados continuasse a crescer. Durante o boom e a bolha da segunda metade da década de 1990, os investidores estrangeiros ficaram felicíssimos de financiar o déficit norte-americano de transações correntes. Na expectativa de grandes lucros empresariais e da valorização interminável das ações, fizeram imensos investimen- tos diretos nos Estados Unidos e compraram enorme quantidade de títulos e obrigações das empresas, ajudando a empurrar a moeda ainda mais para cima – uma bolha do dólar que acompanhou a bolha das ações e foi, em grande parte, criação dela. Entre 1995 e 2000, enquanto explodia o déficit de transações correntes dos Estados Unidos, o total dos ativos brutos norte-americano em mãos do resto do mundo aumentou de US$ 3,4 trilhões para US$ 6,4 trilhões, ou 75% do PIB do país22. No entanto, quando a economia norte-americana reduziu seu ritmo e o mer- cado de ações do país caiu a partir de meados de 2000, os investidores privados do resto do mundo acharam os títulos dos Estados Unidos cada vez menos atraentes. A compra de obrigações das empresas e do Tesouro, assim como obrigações vendidas por instituições dos Estados Unidos como Fannie Mae e Freddy Mac, continuou a crescer animadamente. Mas tanto a compra de ativos pelo resto do mundo quanto o investimento externo direto caíram de forma acentuada – a primeira foi da média de US$ 153 bilhões em 1999 e 2000 para US$ 65 bilhões de 2001 até a primeira metade de 2003; o segundo declinou de US$ 306 bilhões para US$ 86 bilhões no mesmo período. Os europeus, principalmente, fugiram dos ativos norte-ame- ricanos. Depois do ponto máximo de US$ 115,6 bilhões no ano findo em outubro de 2000, as compras de títulos norte-americanos pela Zona do Euro despencaram para apenas US$ 4,9 bilhões no ano que se encerrou em abril de 2003. O resultado foram pressões inevitáveis sobre o dólar, intensificadas pelos juros mais altos na Europa. Entre o início de 2001 e meados de 2003, o dólar caiu 37% em relação ao euro, 27% somente no ano que terminou em junho de 200323.
FIGURA 5 – Balança comercial – transações correntes e setor industrial, 1980-2003 % do PIB Bilhões de dólares
É claro que os governos do leste asiático não seguiram essa trajetória por ra- zões altruístas, mas sim para sustentar o crescimento rápido das exportações de manufaturados de seus países para os Estados Unidos. Ainda assim, ao fechar o abismo financeiro crescente que, não fosse isso, resultaria da disparidade cada vez maior entre as exportações e as importações dos Estados Unidos, os governos leste-asiáticos realizaram nada mais, nada menos que a estabilização da economia norte-americana. Na ausência de suas compras, as políticas hiperexpansionistas seguidas pelo Fed e pelo governo Bush teriam, quase com certeza, forçado uma grande queda do dólar, levado à redução do preço das ações e aumentado o custo dos empréstimos, lançando os Estados Unidos, a Ásia e o resto do mundo de volta na recessão. Ainda assim, é difícil ver como essa simbiose poderá se sustentar por muito tempo.
Afinal, ainda que os governos do leste da Ásia pudessem e quisessem conti- nuar comprando títulos em dólar para manter barata sua própria moeda, subsidiando assim as exportações de sua indústria, esse processo não pode ter vida longa. É que o efeito final seria reduzir as exportações e aumentar as importações dos Estados Unidos, forçando ainda mais o aumento do déficit norte-americano em transações correntes e provocando investimentos ainda maiores do leste da Ásia em títulos financeiros dos Estados Unidos, com conseqüências sinistras tanto para a economia norte-americana quanto para a global. De um lado, o fluxo de recursos do leste da Ásia para o mercado financeiro dos Estados Unidos, ao baixar o custo dos empréstimos, tenderia, direta ou indiretamente, a alimentar bolhas contínuas do valor das ações e dos imóveis. De outro, o crescimento das exportações do leste da Ásia, estimulado pelo dólar alto e pela demanda norte-americana subsidiada pelo governo, solaparia ainda mais a indústria dos Estados Unidos, exacerbando, ao mesmo tempo, a capacidade ociosa da indústria em escala global. É claro que essa é praticamente a mesma síndrome de aumento do preço das ações e super- produção industrial que perseguiu a economia mundial e seu componente norte- americano durante o boom envolto pela bolha e a desaceleração que se seguiu. É um caminho que solapa a si mesmo, no qual o aumento inexorável das dívidas dos Estados Unidos com o resto do mundo permite que outras economias cres- çam com as exportações à custa do poder produtivo norte-americano – e, portanto, da capacidade dos Estados Unidos de honrar essas dívidas, processo que já levou a um craque da bolsa e a uma recessão.
UMA BASE PARA O BOOM?
Entre meados de 2000 e meados de 2003, para manter a economia funcio- nando enquanto se livravam da capacidade ociosa e começavam novamente a in- vestir e criar empregos, as autoridades econômicas deflagraram o maior programa de estímulo macroeconômico da história dos Estados Unidos. O Fed reduziu sua taxa de juros de curto prazo de 6,5% para o mínimo, desde 1958, de 1% (incluindo as reduções de novembro de 2002 e junho de 2003). Ao mesmo tempo, a situação fiscal do governo passou de um superávit de 1,4% do PIB para um déficit projeta- do de 4,5%, ou US$ 450 bilhões. Durante o mesmo intervalo, o valor do dólar no câmbio comercial caiu mais de 10%. Ainda assim, apesar desse estímulo gigan- tesco, a economia mal se mexeu. Durante a primeira metade de 2003, as despesas reais anualizadas em instalações, equipamento e software ainda não haviam cres- cido. No mesmo período, o crescimento anualizado do PIB de 2,35% caiu ainda mais que em 2002. Na verdade, teria sido um terço menor, de apenas 1,5%, não fosse o salto imenso e insustentável dos gastos militares no Iraque, responsável por mais da metade do crescimento de 3,3% da economia no segundo trimestre. Enquanto isso, o desemprego chegou a 6,2% – e a mais de 8%, se forem incluídos os que desistiram de procurar emprego –, e as vagas continuaram sumindo num ritmo alarmante. Em julho de 2003, a economia não-agrícola perdeu 57 mil vagas, depois de perder 83 mil e 76 mil, respectivamente, em junho e maio, e o emprego não-agrícola ficou 358 mil postos de trabalho abaixo do nível de julho de 2002. A disparidade entre estímulo e resposta parecia ser expressão direta da fraqueza básica da economia – seus problemas, ainda não-resolvidos, de excesso de capaci- dade ociosa e fragilidade financeira das empresas.
No entanto, no outono de 2003, a economia, com toda certeza, acelerava-se. O PIB deu um salto à frente num ritmo anualizado de 8,2%, o maior ganho tri- mestral desde 1984. Foi igualmente importante que, de repente, a variação do nível de emprego tenha sido positiva, na faixa de mais de 100 mil vagas ao mês em setembro e outubro. Para completar o quadro, o investimento não-imobiliário disparou num ritmo de 14%, o mais alto desde o início de 2000. De repente, a economia parecia ter decolado.
A aceleração atual
Pode acontecer que, em retrospecto, o terceiro trimestre de 2003 tenha marca- do o início de uma virada cíclica e durável para melhor. Mas, apesar dos números espetaculares das manchetes, não está claro que o avanço econômico dos Estados Unidos no terceiro trimestre tenha rompido de forma decisiva sua dependência das bolhas, do crédito e do consumo. Mais uma vez, os gastos pessoais do consu- midor, que se expandiram numa taxa espetacular de 6,4%, incluindo um aumento colossal de 26,9% dos bens duráveis, estavam no centro da expansão. Juntamente com o crescimento dos investimentos residenciais, foram responsáveis por 75% do aumento total do PIB. O que impulsionou o consumo pessoal? Com certeza não foi a remuneração real por hora (excluindo os autônomos), que na verdade caiu 0,2% no trimestre na economia toda, com o resultado de que a remuneração real total anualizada dos três primeiros trimestres de 2003 chegou a cair um pouquinho em comparação com 2002. O que pôs dinheiro no bolso dos consumidores foi, acima de tudo, os enormes diferenciais embolsados pelas famílias com o financiamento hipotecário. Durante a primeira metade de 2003, chegaram a cerca de 7% do PIB e devem ter desempenhado papel fundamental na orgia de gastos do terceiro trimes- tre. É inquestionável que a redução tributária do governo Bush em 2003 também foi importante, deixando no bolso do contribuinte cerca de US$ 25 bilhões no terceiro trimestre – uma enorme massa anualizada de 100 bilhões de dólares. Enquanto a renda pessoal antes de descontados os impostos cresceu 1% no citado trimestre, depois do desconto a renda pessoal cresceu espantosos 7,2%25.
E o investimento, em última instância a variável decisiva? Por si só, o aumento de 14% já é impressionante e, considerado em conjunto com o crescimento de 7% do trimestre anterior, poderia trazer bons augúrios para o futuro. Mas boa parte desse aumento foi, quase com certeza, provocado pela lei fiscal de 2003, que permitiu às empresas antecipar a depreciação, mas só se o fizerem até o final de 2004. De qualquer modo, o investimento anualizado em capital fixo não-resi- dencial no terceiro trimestre foi apenas 4,1% maior que em 2002 e, ainda assim, respectivamente, 1,8% e 6,9% mais baixo do que em 2001 e 2002. Isso ainda não é indício de um boom da acumulação de capital. O aumento considerável de três quartos do nível de emprego, vindo depois de três anos de declínio constante, foi, inquestionavelmente, o sinal mais promissor para a economia e talvez indi- que uma virada. Mas ainda não é grande o suficiente para alterar o número dos que entram no mercado de trabalho e, portanto, reduzir o desemprego; ou para provocar algum aumento significativo da remuneração real total e, assim, elevar a demanda. É claro que ainda há um longo caminho para transcender a pior recu- peração cíclica do emprego no pós-guerra. Nos 23 meses que se seguiram ao fim oficial da recessão, em novembro de 2001, o emprego no setor privado perdeu mais 919 mil vagas, com quase todos os setores sofrendo grande redução. Se não fosse o ganho de 753 mil empregos nos serviços de educação e saúde, a perda de vagas no período de recuperação ostensiva teria sido bem maior que 1,5 milhão. No ponto análogo da “recuperação sem empregos” que se seguiu à trégua de mar- ço da recessão de 1990-91, ou seja, janeiro-fevereiro de 1993, a economia gerava 277 mil empregos por mês, mais que o dobro dos 125 mil mensais de setembro- outubro de 2003.
Um aumento sustentável da lucratividade?
A condição necessária, se não suficiente, para o aumento significativo e cons- tante dos gastos em instalações, equipamento e novas contratações é, claro, o au- mento dramático e prolongado da lucratividade – o fator crítico que faltou ao boom dos anos 1990. Na verdade, até agora a lucratividade elevou-se de forma bastante substancial desde seu ponto mais baixo, muito mais depressa que depois da recessão de 1990-91. A taxa de lucro das empresas não-financeiras nos três primeiros trimestres de 2003 chegou a um nível 21% acima do de 2001, ficando a apenas 10% do pico de 1997. Com isso, atingiu quase o nível médio de lucratividade de todo o ciclo econômico dos anos 1990. Esse é um avanço importante. No entanto, é preciso lembrar que a taxa média de lucro no ciclo da década de 1990 não su- biu de forma palpável acima do nível das décadas de 1970 e 1980, ficando cerca de 20% abaixo do nível do boom do pós-guerra, e mostrou-se insuficiente para estimular uma interrupção decisiva da longa descida ladeira abaixo. Para que a economia mantenha uma nova expansão com aumentos duradouros dos inves- timentos e do nível de emprego, a elevação impressionante da lucratividade que começou em meados da década de 1980 mas que degringolou depois de meados da década de 1990 precisa, na verdade, partir de onde parou e subir ainda mais2G. A dupla pergunta que se impõe, portanto, é se a recuperação atual da taxa de lucro, até agora dinâmica, pode continuar e constituir a base de aumentos constantes do investimento e do nível de emprego – dado que, até agora, apoiou-se em grande parte no aumento da exploração da força de trabalho norte-americana, a mais vul- nerável do mundo capitalista avançado.
Com o crescimento da produção amortecido até há pouco tempo, o aumento da lucratividade deveu-se, sobretudo, à ampliação da distância entre o que os traba- lhadores produzem por hora e o que recebem por hora. O crescimento mensurado da produção por hora foi bem impressionante – 5,4% em 2002, 4,35% na primeira metade de 2003 e 5% nos três primeiros trimestres de 2003 para a economia em- presarial não-financeira, depois de 2,0% em 2001 –, enquanto o salário real por hora nos mesmos períodos só cresceu 1,9% e 0,9% respectivamente, após um ganho de 0,3% em 2001. Portanto, alguns analistas importantes já afirmam que o milagre do crescimento da produtividade – que, na prática, nunca se materializou em 1990, embora a produção por hora tenha se acelerado de forma palpável – está agora chegando aos Estados Unidos. Em conseqüência, mantidos inalterados to- dos os outros fatores, abre-se o caminho para o renascer da lucratividade.
Mas tal dedução é, no mínimo, prematura. Seu calcanhar-de-aquiles é óbvio: até agora, o aumento da produção por hora ocorreu diante de um declínio palpável do crescimento dos investimentos, ou seja, a adoção mais lenta de mais e melho- res instalações, equipamentos e programas de computador. Entre 1995 e 2000, o capital social do setor empresarial não-financeiro cresceu 3,9% ao ano, mas só conseguiu produzir avanços técnicos suficientes para gerar ganhos de produção por hora de apenas 2,6% ao ano. Dá para acreditar que, apesar de uma redução de mais de 50% da taxa de crescimento do capital social em 2001, 2002 e na pri- meira metade de 2003 – para 1,8% –, o avanço tecnológico produziu, de repente, ganhos de produtividade quase duas vezes maiores? A explicação alternativa óbvia e mais plausível é que os ganhos de produtividade registrados não representam um aumento da eficiência – ou seja, mais produção com o mesmo esforço da mão- de-obra –, mas, sim, mais esforço da mão-de-obra por hora, ou seja, aceleração e intensificação do trabalho. Esse processo não só gera lucros mais elevados como, também, de forma bastante significativa, maiores taxas de lucro, já que o lucro adicional é extraído sem necessidade de acrescentar capital. Com efeito, em 2002 e na primeira metade de 2003, o capital social das empresas não-financeiras (em termos nominais) mal aumentou, significando que praticamente todo o ganho de lucratividade desse período foi obtido sem custos em termos das instalações e do equipamento já existentes.
Empregos e investimento
O que parece ter acontecido foi que, para cortar custos, as empresas redu- ziram de forma acentuada as vagas – 2,1% entre 2000 e a primeira metade de 2003 no setor empresarial não-financeiro –, livrando-se da mão-de-obra menos produtiva e, assim, elevando a produtividade média daqueles que ficaram. Na es- teira desse corte de vagas, os empregadores conseguiram o restante dos aumentos registrados da produção por hora, obrigando os trabalhadores remanescentes a intensificar o trabalho. Parece sintomático que o maior ganho de produtividade setorial em 2002, de 6,4%, tenha sido registrado no setor industrial, no qual, na verdade, a produção caiu 1,1% e a redução da força de trabalho foi mais extremada: um declínio de 7% do emprego, medido em horas. Como conclui sem rodeios a Business Week, “depois de várias largadas furadas, muitos líderes empresariais continuam cautelosos, principalmente na hora de contratar. Até agora, as empre- sas conseguiram atender às encomendas de seus produtos fazendo os emprega- dos trabalharem mais”27.
Ainda assim, até que ponto as empresas podem continuar aumentando seu lucro extraindo ainda mais trabalho por hora, ou por dia, de seus empregados é uma boa pergunta. E quando as empresas tiverem de começar a pagar pelo ganho de produtividade e, portanto, pelo lucro – aumentando seu capital fixo (instala- ções, equipamento e programas de computador) em vez de garanti-los sem custo a partir da intensificação do trabalho –, ficará mais difícil conseguir aumentos da taxa de lucro. Do mesmo modo, mais demissões, mais aceleração do trabalho e au- mentos salariais mais espaçados só vão ampliar a redução da demanda agregada que vem pressionando para baixo a economia norte-americana, desencorajando os investimentos. Nos 22 meses que se seguiram ao final formal das seis reces- sões anteriores, o emprego subiu, em média, 5%, e a remuneração total, 9%. Mas, no mesmo período, depois do ponto mínimo de novembro de 2001 na última re- cessão, as folhas de pagamento não-agrícola contraíram-se cerca de 1%, deixando inalterada a remuneração total privada não-agrícola.
A demanda estagnada vem sendo reproduzida não só pela eliminação de vagas e pela relutância em investir, mas também pelo ritmo débil da criação de novos empregos. No decorrer de 2002, a perda de vagas reduziu-se de forma palpável. Mas o mesmo aconteceu com a velocidade da criação de novos empre- gos. Na verdade, o número de empregos criados em 2002 foi ainda menor que no ano recessivo de 2001, chegando ao nível mais baixo desde 199528. Nas reces- sões anteriores do pós-guerra, sempre provocadas pela contração da demanda quando o Federal Reserve aumentava os juros, as empresas tendiam a manter vínculos relativamente constantes com os ex-empregados, na expectativa de que a demanda se reanimasse quando o Fed afrouxasse as rédeas. As demissões, portanto, tendiam a ser “cíclicas”, com a criação rápida de vagas depois do ponto mais baixo de uma recessão, gerando demanda para um aumento maior do nível de emprego. Nos seis últimos ciclos econômicos, na subida cíclica que se seguiu ao ponto mais baixo da recessão, uma média de 50% da reanimação do emprego aconteceu nos mesmos setores em que caíra durante a fase cíclica de queda. Na conjuntura atual, vem acontecendo um forte afastamento desse padrão. Os seto- res que perderam vagas durante a recessão continuaram a perdê-las na recupe- ração, enquanto, do outro lado da moeda, um total de 70% dos novos empregos têm sido “estruturais”, ocorrendo em setores diferentes daqueles em que houve demissões. É claro que é muito mais arriscado criar empregos inteiramente no- vos do que renovar os antigos29.
Durante os seis primeiros meses de 2003, a economia cambaleou. Com o Fed parecendo prometer que seguraria o custo do crédito, os juros de longo prazo despencaram até quase o nível mínimo do pós-guerra, e os investidores, em busca de melhor rendimento, correram para o mercado de obrigações. Mas quando, quase sem tomar fôlego depois de uma campanha intensa para impedir a queda de preços, o Fed anunciou de repente sua crença de que o resultado da economia melhorava, o mercado de títulos, até então extremamente comprador, deu uma guinada de 180 graus e as taxas de longo prazo dispararam com ra- pidez que não era vista havia muitos anos. No verão, o preço das obrigações se estabilizou. Mas ficou o temor de que isso fosse apenas o começo – de que os juros não só se corrigissem como continuassem subindo quando o crescimento mais rápido trouxesse preços mais altos e maior necessidade de crédito. Caso isso acontecesse, seria um risco grave para o preço das ações e para as hipotecas, ameaçando anular a recuperação.
Num desafio ao prognóstico sombrio do mercado de obrigações, o de ações subiu sem cessar durante a maior parte de 2003. Entre seu ponto mais baixo de fevereiro-março de 2003 e outubro do mesmo ano, o índice S&P 500 registrou um aumento notável de 33%, ajudando bastante a aumentar a confiança. Mas, ao fazê- lo, a relação preço-rendimento subiu acima de 35:1, bem perto do nível mais alto da última bolha dos anos 1990. Pode o mercado subir ainda mais? Os principais executivos andaram tendo lá suas dúvidas. No final de 2003, a relação entre venda e compra de ações por pessoal das empresas chegou ao recorde absoluto de 6:131. Embora o mercado de ações pareça ter incorporado o aumento recente do lucro empresarial e mais um pouco, novos aumentos do ganho das empresas poderiam empurrar mais para cima o valor das ações – mas, ao mesmo tempo, parece que estas ficaram cada vez mais vulneráveis aos choques, em especial ao aumento dos juros ou à queda do dólar, levando a uma correção.
É claro que o boom do refinanciamento das hipotecas foi impulsionado por uma queda imensa dos juros e um aumento sem precedentes do valor dos imó- veis. Parece, porém, que esses dois processos se inverteram. Junto com outros juros de longo prazo, os das hipotecas dispararam em resposta à gafe do Fed de junho de 2003 e vêm subindo lentamente desde então. No segundo trimestre de 2003 (último período para o qual temos dados), o preço dos imóveis residen- ciais subiu apenas 0,78 – a taxa mais baixa de valorização trimestral desde 1996. Em setembro e outubro, a atividade de refinanciamento caiu de forma palpável.
Segundo a Mortgage Bankers Association, pode-se esperar uma queda dos em- préstimos hipotecários nos Estados Unidos de US$ 3,3 trilhões em 2003 para US$ 1,4 trilhão em 2004, enquanto os juros sobem de 5,8% para 6,2% (em 7%, estarão equilibrados). Se isso acontecer, é óbvio que o excedente obtido com as hipotecas despencará, enfraquecendo o que foi provavelmente, até agora, a principal base do crescimento do consumo e do PIB. O impacto sobre o setor financeiro – que, nos três últimos anos, dependeu tanto do mercado imobiliário para seus lucros – também será grande.
Durante os três primeiros trimestres de 2003, o déficit norte-americano de transações correntes continuou a bater novos recordes, e espera-se que chegue a US$ 550 bilhões no ano todo. Isso significa 13% acima do pico anterior ocor- rido em 2002, que já quebrara o antigo recorde de 2000. O déficit continuará a subir, incontido, enquanto o dólar estiver sobrevalorizado e a economia mundial continuar dependendo dos estímulos macroeconômicos oriundos dos Estados Unidos. Em setembro, a balança comercial norte-americana, mesmo no setor de bens tecnológicos avançados, no qual se supõe que os Estados Unidos brilhem, atingiu o recorde de US$ 3,9 bilhões no vermelho. É claro que a conseqüência é que o volume de financiamento estrangeiro necessário para cobrir esse déficit também chegou a um nível sem precedentes. Hoje os Estados Unidos têm de vender ao resto do mundo US$ 1,5 bilhão em títulos por dia para cobrir o buraco. Essa quantia é o dobro da que era necessária em 1999, embora nesse meio-tempo, com a desaceleração econômica e o colapso do mercado acionário, os títulos norte- americanos tenham ficado bem menos desejáveis. Na verdade, desde o segundo trimestre de 2003, a entrada líqüida mensal de capital nos Estados Unidos caiu de modo acentuado – de US$ 110,4 bilhões em maio para US$ 90,6 bilhões em junho, US$ 73,4 bilhões em julho, US$ 49,9 bilhões em agosto e escassos US$ 4,2 bilhões em setembro de 2003 –, intensificando cada vez mais a pressão sobre a moeda. No último trimestre, depois de uma breve recuperação provocada pelo aumento do valor das ativos e pela aceleração da economia, o dólar começou a cair, primeiro em relação ao iene e, depois, ao euro32.
O destino do dólar
Enquanto isso, o governo Bush, em resposta à gritaria dos estados industriais que perdiam empregos num ritmo devastador e como preparação para as eleições de 2004, começou a pressionar a China – alvo fácil, em razão do seu superávit comercial mastodôntico com os Estados Unidos – para que permitisse ao iuane subir em relação ao dólar. Na reunião do G7 em setembro, em Dubai, Washington ampliou sua campanha, buscando forçar a queda generalizada do dólar. Em novembro, depois de impor tarifas à importação de aço contra as regras da OMC, estabeleceu cotas de importação de certos itens de vestuário da China. É claro que a meta é transferir parte do fardo da capacidade ociosa da indústria internacional para seus principais parceiros e rivais, de modo a apressar a recuperação do nível de emprego e investimento nos Estados Unidos.
Mas é difícil ver o que essas ações podem realmente conseguir. Não é provável que a revalorização do iuane e o aumento das tarifas faça muito pelo déficit comercial ou pelo nível de emprego norte-americano. O crescimento das importações da China reflete a redução correspondente das importações das mesmas mercadorias de outros países baratos do leste da Ásia – na verdade, a participação global da Ásia no mercado norte-americano vem declinando um pouco. Do mesmo modo, as importações fabricadas com mão-de-obra barata na República Popular da China constituem apenas uma pequena parcela das mercadorias produzidas pelas indústrias norte-americanas que sofreram as maiores perdas de empregos – computadores e equipamento eletrônico, máquinas, produtos metálicos industrializados e vestimentas. Além disso, a disparidade salarial entre a China e os Estados Unidos é tão grande que nem uma valorização de 30% do iuane conseguiria ajudar de modo significativo os produtores norte-americanos. Ao mesmo tempo, os varejistas dos Estados Unidos recebem tamanhos descontos nas importações da China, que se admi- te que US$ 1 trilhão de capitalização no mercado de ações correria risco sem elas. O nível salarial é bem mais próximo no Japão, e a valorização do iene a princípio ajudaria a exportação norte-americana. Mas como, provavelmente, também prejudicaria o incipiente renascer econômico japonês, que depende muito das exportações, não valeria a pena33.
A campanha do governo Bush acelerou um processo já em andamento de que- da do dólar. Embora o mercado acionário dos Estados Unidos tenha vivido uma alta saudável em termos de dólares, seu desempenho em euros foi muito mais fraco e, em ienes, ainda pior. Assim, o enfraquecimento da demanda estrangeira de ações vem forçando cada vez mais a queda do dólar. O declínio constante, embora lento, do preço das obrigações dos Estados Unidos milita na mesma direção. Contra esse pano de fundo, o impulso cada vez mais protecionista do governo foi interpretado como sinal de sua determinação crescente de forçar o dólar – cujo câmbio agora caiu acentuadamente – a baixar. Em novembro, o euro atingiu uma posição nunca vista em relação ao dólar, e o iene chegou a seu nível mais alto em três anos.
Mas talvez o maior desestabilizador seja o fato de que tanto o Japão quanto a China parecem ter começado a reduzir suas costumeiras compras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, deixando potencialmente a descoberto parte cada vez maior do déficit norte-americano de transações correntes. O Japão dá mos- tras de que acedeu aos desejos dos Estados Unidos e, embora ainda entre até cer- to ponto no mercado de moedas, não o fez em volume suficiente para impedir um aumento de 9% do iene entre agosto e novembro. No caso da China, a pres- são norte-americana para a valorização coincidiu com a ansiedade crescente do próprio governo chinês com o superaquecimento econômico e os passos iniciais para controlá-lo. Em 2003, o crescimento do PIB chinês parece ter avançado bem além dos esperados 9%; a produção industrial, acima de 16%, e o investi- mento em patrimônio fixo, além de 30%. Em resposta, o governo chinês exigiu a redução das compras de novas instalações e equipamentos em todo o setor industrial e determinou que os bancos aumentassem suas reservas, para tornar mais difícil o crédito. Como a compra de dólares teve papel importante ao forçar o aumento da oferta de moeda na República Popular da China para mais de 20% ao ano, é provável que Beijing tenha de cortá-la, caso leve a sério o controle da bolha da propriedade nas grandes cidades e o aumento da capacidade ociosa que atinge tantas indústrias chinesas. Como outros investidores, Beijing também pode estar preocupada com as perdas que sofrerá com os títulos do Tesouro caso os juros dos Estados Unidos continuem a subir e o preço das obrigações a cair; o ganho potencial que prevê ao não investir em títulos de maior remuneração; e as perdas mais elevadas de moeda que terá de suportar quanto mais postergar a valorização. A pressão política dos Estados Unidos pode, assim, tornar mais fácil para a China dar o passo pelo qual já se decidiu34.
Taxas de juros
Ainda assim, derrubar a moeda traz grandes riscos para Washington. O dó- lar alto, em geral, e, em particular, a compra pelo leste da Ásia de títulos em dólares foram indispensáveis para a recuperação dos Estados Unidos do modo como se procedeu, permitindo uma política monetária norte-americana hiperexpansionista sem pressão de alta sobre os juros nem sobre os preços. Caso o dólar continue a cair, o valor dos ativos e das obrigações dos Estados Unidos sofrerá uma pressão direta e a inflação subirá. Mas, se o nível de preços se elevar, também subirá o custo do crédito, ameaçando os juros baixos, que têm sido o alicerce mais importante da virada cíclica. Qualquer aumento significativo dos juros daria fim à enorme onda de empréstimos hipotecários que impulsionou o consumo. Também tornaria mais difícil para o governo financiar seu déficit orçamentário imenso e crescente sem elevar os juros e, assim, sem atrapalhar a recuperação, aumentando, ao mesmo tempo, a pressão de queda sobre o valor das ações. Na verdade, dado que o resto do mundo possui um total de US$ 7,61 trilhões em títulos norte-americanos – 40% do débito comercializável do gover- no dos Estados Unidos, 26% das obrigações das empresas norte-americanas e 13% dos ativos –, um declínio significativo do dólar tem o potencial de deflagrar uma corrida para livrar-se deles, provocando uma violenta espiral descendente do preço da moeda e dos títulos. Em outras palavras, se o governo Bush conse- guir o que quer, talvez se arrependa de ter tentado.
Parece que agora o crédito e as bolhas que estiveram por trás da recuperação cíclica dos Estados Unidos vêm diminuindo, impondo uma pressão de queda so- bre os gastos do consumidor e aumentando a vulnerabilidade do preço dos ativos aos choques. Se, no entanto, o preço das ações for freado, os recursos hipotecários cortados e o dólar escorregar ainda mais, terá de haver um crescimento mais rá- pido dos investimentos e do nível de emprego, e quanto mais cedo melhor, para impedir outra desaceleração ou coisa pior. Em teoria, o aumento acentuado da lucratividade norte-americana deveria representar uma base forte para o surto de gastos empresariais, e o recente crescimento mais rápido do PIB deveria elevar mais ainda os rendimentos. Mas, na verdade, mesmo neste momento, as despesas empresariais deixaram de materializar-se em volume significativo. Pode-se espe- rar, provavelmente, o crescimento mais rápido dos investimentos e do nível de emprego a curto prazo, com o costumeiro efeito multiplicador, ainda mais diante do enorme estímulo que se deve ampliar este ano. Mesmo assim, a sustentabilida- de do aumento do dinamismo é questionável, sobretudo dada a herança da virada PÓS-2001. Uma expansão mais rápida não aumentará o custo do crédito numa época em que as famílias, o governo, as empresas e o próprio setor financeiro estão todos imensamente onerados? Não provocará também o inchamento do dé- ficit de transações correntes num momento em que o dólar já está caindo? Pode a economia avançar com a expansão dos setores de serviços e financeiro que aten- dem ao consumo quando os setores fundamentais produtores de bens continuam sobrecarregados pela capacidade ociosa e pela reduzida lucratividade, quando os produtores estrangeiros ocupam parte cada vez maior do mercado norte-ameri- cano de bens, quando a exportação fica ainda mais para trás da importação sem esperanças de fechar a lacuna com o câmbio atual e quando os Estados Unidos dependem da generosidade dos governos do leste da Ásia para honrar suas obriga- ções internacionais? A economia dos Estados Unidos está em território desconhe- cido. Sua capacidade de encontrar o caminho continua uma incógnita.
UMA NOTA SOBRE AS FONTES
(1) Despesas pessoais de consumo, investimento não-residencial (estruturas, equi- pamento, software), exportação e importação de bens e serviços, despesas de consumo do governo, renda pessoal, renda pessoal disponível, total salarial, contribuições para o crescimento do PIB: National Income and Product Accounts (NIPA), website do Bureau of Economic Analysis (BEA).
(2) Valor bruto agregado, remuneração, autônomos, por setor: US Gross Product Originating by Industry (GPO), website do BEA.
(3) Capital social líquido, depreciação, investimento (corrente e constante) por se- tor: Fixed Asset Tables, website do BEA.
(4) Lucro das empresas: Quadros 1.6 e 6.16 do NIPA, website do BEA.
(5) Emprego e salário (nominal), por setor: Emprego e remuneração nacional, Dados históricos do Quadro B, website do Bureau of Labour Statistics (BLS).
(6) Crédito e dívida em aberto do governo, das famílias, das empresas não-financei- ras: Fluxo de Fundos, website do Federal Reserve Board (FRB).
(7) Compra e venda e posse de ativos de empresas não-financeiras, famílias, resto do mundo: Fluxo de Fundos, website do FRB.
(8) Capital social líquido empresarial não-financeiro (corrente): Fluxo de Fundos, Quadro B102, website do FRB.
(9) Produção industrial e utilização da capacidade instalada: Quadro G17, web- site do FRB.
(10) Empresas não-financeiras, industriais, não-agrícolas, valor agregado total da economia (nominal e real), produção por hora, remuneração total, remuneração por hora (nominal e real), horas trabalhadas: Índices Analíticos do Setor para empre- sas não-financeiras industriais e comerciais, economia total, Bureau of Labour Statistics (cópias impressas disponíveis no BLS).
(11) Juros, preço de ativos, índice preço-redimento: Relatório Econômico do Presidente, Washington, DC, 2003.
(12) Exportação, importação e balança comercial industrial: Quadro 3, Dados Agregados do Comércio Exterior dos Estados Unidos, website da International Trade Administration (ITA).
(13) Deflator dos preços ao consumidor (CPI-U-RS): Índices de Preço ao Consumidor, website do BLS.
Notas:
1 Gostaria de agradecer a Aaron Brenner e Tom Mertes por me ajudarem com o conteúdo e o estilo. Também sou grato a Andrew Glyn pelos dados sobre estoques na Alemanha e no Japão e a Dean Baker pelos conselhos utilíssimos sobre fontes de dados.
2 O National Bureau of Economic Research declarou que a recessão começou em fevereiro de 2001 e terminou em novembro de 2001. Neste texto, só uso a palavra “recessão” no sentido formal do NBER. Fora disso, falo, em geral, de desaceleração para me referir ao retardamento econômico, provocado pelos acontecimentos da segunda metade de 2000, que continuou até pelo menos meados de 2003.
3 Nesse aspecto é típico o texto de Joseph Stiglitz, “The roaring nineties”, The Atlantic Monthly, outubro de 2002. Apesar de seu papel, que ele mesmo descreve como crítico da economia da bolha, esse eco- nomista muito admirado e ganhador do Prêmio Nobel mostra-se, de fato, um exemplo da máquina publicitária de Wall Street quando se recusa a ser guiado por meros números. Como presidente do Council of Economic Advisers, deveria estar em condições de obter dados básicos do governo sobre a economia. Mas afirma, de modo absurdo, que “o ápice do boom da década de 1990” foi “um período de crescimento sem precedentes”, com “níveis de produtividade que excederam até mesmo a expansão que se seguiu à Segunda Guerra Mundial”. Na verdade, considerando quaisquer padrões de variáveis econômicas, o desempenho econômico na meia década entre 1995 e 2000 foi mais fraco que em todo o quarto de século de 1948 a 1973. A taxa média anual de crescimento da produtividade da mão-de-obra na economia comercial não-agrícola em 1995-2000, de 2,5%, ficou bem abaixo dos 2,9% do período 1948-73. “Multifactor productivity trends, 2001”, BLS News, 8 de abril de 2003, p. 6, Tabela B (disponível no website da BLS). Ver também The boom and the bubble (Londres, 2002), p. 221, Tabela 9.1.
4 Ver The boom and the bubble, cit., p. 47, Tabela 1.10.
5 A confiança deliberada de Greenspan no efeito-riqueza do mercado de ações pode ser consta- tada em suas declarações públicas do período, principalmente em seus depoimentos ao Comitê Econômico conjunto do Congresso em junho e julho de 1998.
6 Os 20 % das famílias de renda mais alta foram inteiramente responsáveis pela queda da taxa de poupança familiar durante a década de 1990. Ver Dean Maki e Michael Palumbo, “Disentangling the wealth effect: a cohort analysis of household saving in the 1990s”, Federal Reserve Finance and Discussion Series, abril de 2001 (website do Federal Reserve).
7 Partes do setor empresarial não-industrial e não-financeiro também sofreram problemas in- tensos de lucratividade, como telecomunicações, serviços prestados a empresas e transporte aé- reo; mas suas perdas foram compensadas pelos ganhos de outros ramos.
8 Esses números são da produção bruta, sem valor agregado (PIB). Portanto, são estimativas. Os números definitivos com valor agregado só serão disponibilizados pelo Bureau of Economic Analysis no fim deste ano.
9 Isso pressupõe que a queda do investimento industrial foi, pelo menos, igualmente grande na economia privada como um todo. Ainda não estão disponíveis os valores dos investimentos industriais de 2002 e 2003.
10 Tim Bennett et al., “Global news, valuations and forecasts”, e Heidi Wood, Miles Walton e Aayush Sonthalia, “Defense budget apt to remain on track”, Morgan Stanley Equity Research Aerospace and Defense, 12/11/2002 e 16/12/2002. Gostaria de agradecer a Aayush Sonthalia por disponibilizá-los.
11 No segundo trimestre de 2003, o aumento das despesas com a Guerra do Iraque elevou signi- ficativamente a taxa de crescimento do PIB (que vinha se arrastando), mas parece duvidoso que isso seja sustentável.
12 Paul Wonnacott, “Behind China’s export boom, heated battle among factories”, Wall Street Journal, 13/11/2003.
13 O espaço impede que examinemos o setor hoteleiro (muito menor), que seguiu trajetória parecida com a do comércio varejista, com um aumento no nível de emprego de mais de 20% e uma elevação da taxa de lucro de 50% entre 1992 e 2001. Um caso diferente, também impelido pelo consumo e que exige bem mais estudo, é o vasto setor de serviços de saúde, que registrou saltos enormes do lucro das empresas – de US$ 4,9 bilhões em 1989 para US$ 15,4 bilhões em 1994, US$ 17,3 bilhões em 1999 e US$ 24,8 bilhões em 2001, sem mencionar a expansão de quase 50% do nível de emprego.
14 Joseph Stiglitz, The roaring nineties (Londres, 2003), p. 43.
15 Steve Galbraith, “Trying to draw a pound of flesh without a drop of blood”, Morgan Stanley US and the Americas Investment Research, 8 de setembro de 2003; Steve Galbraith, “Fading fog”,
Morgan Stanley US and the Americas Investment Research, 21 de setembro de 2003. Os dados da Morgan Stanley são para as empresas do índice S&P 500.
Os dados adequados do governo sobre os lucros do setor financeiro depois de 2001 ainda não estão disponíveis.
21 “The home mortgage market”: discurso de Alan Greenspan, 4/3/2003, website do FRB.
22 Ver The boom and the bubble, cit., p. 208-9, e Tabela 8.1.
23 Gertrude Chavez, “Weak capital influx seen choking dollar rally”, Reuters Online, 14/7/2003. Obrigado a Doug Henwood e à lista LBO por esta referência.
25 “Praticamente todo o novo consumo durante o [terceiro] trimestre foi financiado pela resti- tuição tributária, pelo refinanciamento de hipotecas ou por empréstimos” (Peter Gosselin, “US economy expands at its fastest pace since 1984”, Los Angeles Times, 31/10/2003). O fato de as des- pesas pessoais do consumidor caírem em setembro parece indicar que as famílias já gastaram a maior parte de suas devoluções. Em meados de novembro, a Wal-Mart deu um alerta sobre a força da recuperação dos gastos do consumidor norte-americano, dizendo que seus fregueses continuavam cautelosos, preferiam as mercadorias mais baratas e tinham pouco dinheiro para gastar (Neil Buckley, “Wal-Mart warns of cautious shoppers”, Financial Times, 14/11/2003).
28 David Leonhardt, “Slowing stream of new jobs helps to explain slump”, New York Times, 1/10/2003. Infelizmente, os dados sobre o aumento bruto do nível de emprego e a eliminação bruta de vagas, em contraposição à criação líquida de empregos, só estão disponíveis para o período mais recente.
30 Scott Morrison, “750,000 US high-tech jobs lost in two years”, Financial Times, 19/11/2003. Os dados sobre o número de empregados nos setores de alta tecnologia no final de 2000 não estavam disponíveis.
31 Steve Galbraith e Mary Viviano, “The missing piece”, Morgan Stanley US and the Americas32 Chavez, “Weak capital influx seen choking dolar rally”; Alan Beattie, “Greenback’s fall may
32 Chavez, “Weak capital influx seen choking dolar rally”; Alan Beattie, “Greenback’s fall may prove mixed blessing at home and abroad”, Financial Times, 8/10/2003.
33 Carolyn Baum, “Bush gets double ‘D’ in handling China bra flap”, Bloomberg.com, 20/11/2003; “Currency wars”, Financial Times, 8/7/2003.
34 Jenny Wiggins, “Asian investors may drop treasury bonds”, Financial Times, 8/7/2003; Daniel Bogler, “Asia backs out of the greenback”, Financial Times, 23/11/2003 (obrigado a Nick Beams por esta referência).
Fontes: Quadro NIPA 1.16 e GPO, website do BEA.
A explosão da bolha das ações e a desaceleração da economia real a partir de 2000 também pouco fizeram para segurar a ascensão do setor financeiro. A bolha imobiliária substituiu a bolha do mercado de ações, e a queda do custo do crédito fez o resto. O lucro advindo principalmente dos negócios hipotecários, assim como do comércio de obrigações e da subscrição de ações, tudo amarrado à queda dos juros, permitiu a bancos e seguradoras continuar auferindo ganhos sensacionais, mesmo com a queda imensa do preço das ações e a grande redução do crescimento do crédito empresarial. Entre 2000 e a primeira metade de 2003, período da desaceleração, o lucro do setor financeiro continuou a se expandir de forma dramática, tanto em termos relativos quanto absolutos. Assim, segundo o Morgan Stanley, esse lucro veio a constituir quase 50% do total do lucro das em- presas e a responder por quase 80% do aumento do lucro empresarial ocorrido entre 2000 e 200315.
CONTRADIÇÕES DE UMA ECONOMIA MOVIDA A BOLHAS
A opção do Fed pelo crédito cada vez mais fácil deu uma aparência de ordem à economia dos segmentos não-industriais e trouxe um aumento maior da lucrati- vidade da construção civil e do varejo e a continuação de uma expansão marcante do setor financeiro. Mas, em grande parte, conseguiu isso por meio e à custa de inflar o valor dos títulos financeiros, em geral muito além do valor dos ativos sub- jacentes que representam. As bolhas que se seguiram foram a garantia necessária para sustentar o crédito sempre crescente, de modo a manter o consumo em alta e a economia girando. O resultado: o crescimento econômico dos Estados Unidos nos últimos três anos foi impulsionado por aumentos da demanda gerados por empréstimos feitos contra a valorização especulativa da riqueza de papel, bem mais que da demanda gerada pelo aumento dos investimentos e do nível de em- prego movido pelo crescimento do lucro.
É claro que o preço dos ativos caiu de forma violenta a partir de meados de 2000. Mas, paradoxalmente, seu declínio nem sequer começou a realinhar o va- lor das ações com o lucro que lhe dá base, porque este último também caiu. Em outubro de 2002, quando o preço dos ativos chegou ao ponto mais baixo, o índice composto S&P 500 estava 42% abaixo do ponto máximo de julho de 2000, mas a relação rendimento-preço (ou seja, a taxa de retorno do investimento em títulos), que já caíra 48% entre o pico inicial de 1995 e meados de 2000, não subiu, fican- do parada em torno de 3,7:1 – o que significa que os investimentos em ações ge- raram um lucro médio anual de menos de 4%. Na ausência da política de crédito barato do Fed, o preço das ações teria, obviamente, caído muito mais com relação ao rendimento que lhe dá base. Mas, em conseqüência, a bolha do preço das ações jamais arrebentaria.
Alguns meses depois, essa bolha começou a se expandir de novo. A partir de março de 2003, o preço das obrigações subiu e os juros caíram, ao que parece como expressão da fraqueza básica da economia. Mas o preço dos ativos decolou numa nova ascensão ininterrupta e o S&P 500 subiu cerca de 30% nos oito meses seguintes. Sem dúvida, era o que o Fed esperava. Ainda assim, no verão de 2003, segundo o Financial Times, a relação rendimento-preço do S&P 500 caiu por volta de mais 10% e chegou a 3:1, em comparação com uma média histórica de cerca de 7:1. O Fed conseguia impedir que o clima dos negócios ficasse ainda mais difícil, mas com isso, na verdade, sustentava a bolha do mercado de ações em relação à queda do preço dos ativos e a conseqüente desaceleração econômica. Uma corre- ção significativa poderia jogar a economia direto na recessão.
A bolha imobiliária
Quando o preço dos ativos começou a subir em meados da década de 1990, sustentando o lucro das empresas e o PIB, o preço dos imóveis também passou a inchar. De 1975, quando ficaram disponíveis os primeiros dados, até 1995, o preço dos imóveis residenciais subiu numa taxa mais ou menos semelhante à dos preços ao consumidor, ficando, assim, relativamente estável em termos reais. Durante a primeira metade dos anos 1980, o índice de preço dos imóveis residenciais ficou 5% a 10% abaixo do IPC, antes de alcançá-lo de novo em 1985; então, entre 1985 e 1990, ficou cerca de 13% acima do IPC, antes de tornar a cair em 1995. Assim, em 1995 o valor real dos imóveis era o mesmo que em 1985 e 1979. Mas, entre 1995 e a primeira metade de 2003, o aumento do índice de preços de imóveis residenciais excedeu o aumento do IPC em mais de 35 pontos – historicamente, uma elevação nunca vista do custo real da habitação.
A explicação dessa bolha imobiliária parece bastante clara, dado seu momen- to. À medida que os acionistas acumulavam riqueza com a expansão do mercado de ações, podiam buscar casas mais caras com mais rapidez do que era possível fornecê-las. Assim, com o aumento do preço das casas, os compradores se dispu- seram a pagar quantias cada vez maiores pelos imóveis, supondo que seu valor continuaria subindo, como no mercado acionário. Quando o mercado acionário caiu e a expansão terminou em 2000, a bolha imobiliária se manteve graças em parte à redução dos juros determinada pelo Fed, mas também à transferência de recursos das ações para o mercado imobiliário, em especial num cenário de retor- nos reduzidíssimos dos empréstimos a juros. O aumento do preço das residências era auto-sustentável, já que permitia aos proprietários, com a queda dos juros, comprar casas ainda mais caras, mantendo a demanda bem à frente da oferta1G.
Assim, em apenas quatro anos, de 1995 a 1999, a riqueza familiar na forma de casa própria aumentou 25%. Mas entre a época do pico do mercado de ações em 1999 e seu ponto baixo no primeiro trimestre de 2003, o valor dos imóveis habitacionais aumentou ainda mais depressa, com os preços subindo numa taxa anual média 5% mais alta do que os preços ao consumidor. Na verdade, o preço
FIGURA 3 – Riqueza familiar – ativos versus imóveis, em trilhões de dólares
Fonte: Quadro de Fluxo de Fundos B100, website do Federal Reserve.
real das habitações cresceu mais nesses anos do que em qualquer outro período comparável registrado. Em conseqüência, enquanto as ações (inclusive as aplicações em fundos mútuos) em posse das famílias caíam de valor, de US$ 12,2 trilhões para US$ 7,15 trilhões nesse breve período, numa queda de US$ 5,05 trilhões, ou 44%, o valor dos imóveis residenciais pertencentes a famílias subiu de US$ 10,4 trilhões para US$ 13,9 trilhões, aumento de US$ 3,6 trilhões, ou 35%, e recuperou seu antigo lugar de fonte número um de riqueza familiar.
Na esteira dessa imensa valorização de seus imóveis no papel, as famílias conseguiram obter recursos muitíssimo maiores com a venda da casa a um pre- ço que ultrapassava a dívida hipotecada, com o refinanciamento das hipotecas e empréstimos garantidos pelo imóvel, com conseqüências enormes para o cresci- mento do consumo e, por sua vez, do PIB. Entre 1990 e 1997, o valor médio do patrimônio das famílias ficou por volta de US$ 150 bilhões ao ano, mas, quando a bolha imobiliária começou a inchar nos últimos três anos da década, esse número dobrou para cerca de US$ 300 bilhões ao ano em 1998, 1999 e 2000. Em 2001, 2002 e na primeira metade de 2003, as vendas de imóveis atingiram recordes nunca vistos de US$ 6,2 trilhões, US$ 6,6 trilhões e US$ 7 trilhões (anualizados). O mesmo aconteceu com o refinanciamento das hipotecas, com valores respectivos de US$ 1,2 trilhão, US$ 1,6 trilhão e US$ 3 trilhões. Contra esse pano de fundo, nos mesmos três anos a quantia levantada por meio de hipotecas chegou a níveis inauditos – respectivamente, US$ 420 bilhões, US$ 600 bilhões e US$ 716 bilhões17.
FIGURA 4 – Contribuição trimestral do setor imobiliário residencial para o crescimento do PIB (%), 2000-03
Mudança percentual em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Fonte: Economy.com.
Em 2001, 2002 e na primeira metade de 2003, os recursos oriundos de hi- potecas chegaram, respectivamente, a espantosos 5%, 7,7% e 9% da renda pes- soal disponível nos Estados Unidos, desempenhando enorme papel na manu- tenção dos gastos do consumidor, depois de um declínio radical do crescimento do consumo. Segundo o Fed, as famílias usaram mais ou menos 50% desses recursos para financiar o aumento das despesas com todo tipo de consumo, de reformas da casa a compra de veículos, viagens de férias, educação, despesas médicas – e, no caso de algumas famílias em dificuldades, até mesmo despesas gerais de sobrevivência. Enquanto isso, cerca de um terço do dinheiro foi usado para pagar dívidas de cartões de crédito e outras prestações com juros mais altos, liberando renda para mais consumo. O dinheiro remanescente foi usado para financiar outros investimentos, em geral imóveis, tendendo a elevar a demanda habitacional, os preços e assim, por sua vez, o aumento do patrimônio líquido das famílias18.
Desde o final de 2000, o dinheiro obtido mediante apenas o refinanciamento de hipotecas foi responsável por, pelo menos, 20% do crescimento total do PIB. Quando se leva em conta a quantia obtida com a venda do imóvel e uma segunda hipoteca, assim como os investimentos na residência e a compra de mobiliário e artigos de decoração, os mercados habitacional e hipotecário responderam, no to- tal, por nada menos de dois terços do crescimento do PIB entre 2000 e a primeira metade de 2003. Isso significa que, na ausência dessas contribuições do setor habitacional, o crescimento médio anual do PIB no período seria de apenas 0,6%, em vez do 1,7% que na verdade ocorreu19.
Mas é difícil ver como será possível que esse nível de obtenção de recursos não sofra uma queda acentuada em futuro não muito distante. Isso porque a inflação de preços do mercado imobiliário parece fadada a perder velocidade, enquanto os juros, agora próximos dos níveis mínimos do pós-guerra, têm maior probabi- lidade de subir do que de cair, deixando menos espaço para sobras de dinheiro. Do mesmo modo, é provável que a tendência dos proprietários a contrair emprés- timos decline, já que o patrimônio representado pelos imóveis das famílias, em meados de 2003, já se reduzira a um recorde mínimo, no pós-guerra, de 54% do valor das casas, caindo dos 60% de uma década antes; enquanto isso, a dívida em relação à renda familiar atingiu o recorde de 110%, partindo dos recentes 90% de 199520. No entanto, se os empréstimos familiares diminuírem, o crescimento das despesas do consumidor – até agora base da saúde da economia – destina-se a ser duramente atingido. Como explicou Greenspan, de modo cauteloso: “É provável que o ritmo frenético da obtenção de recursos com a casa própria no ano passado [2002] se atenue em 2003, possivelmente reduzindo bastante a sustentação da compra de bens e serviços”21.
A bolha do dólar e o déficit em conta corrente
Ao impulsionar o aumento dos gastos do consumidor, sobretudo por meio da bolha imobiliária movida a dívidas, o regime de crédito fácil do Fed permitiu que os norte-americanos continuassem elevando suas importações entre 2000 e meados de 2003, ainda que a exportação do país tenha se reduzido diante da queda do poder de compra da maior parte do resto do mundo. A conseqüência foi prolongar e aprofundar um padrão de desenvolvimento econômico internacional que data da primeira metade da década de 1980, em que o aumento pronunciado da importação de produtos industrializados dos Estados Unidos e do seu déficit comercial amplia o déficit norte-americano de transações correntes, expande o endividamento externo do país e alimenta o crescimento baseado em exportações de boa parte do resto do mundo, em especial do leste da Ásia.
Esse padrão começou em 1979-80 com a virada internacional da expansão keynesiana para a contração monetarista como meio de combater a redução da lucratividade que continuava a atacar as economias capitalistas avançadas, sobre- tudo na indústria. O salto dos juros que se seguiu, a redução do crescimento dos gastos sociais e a repressão do aumento salarial encorajaram a eliminação do ex- cesso de meios de produção caros e de baixo rendimento e, desse modo, tenderam a contribuir para a recuperação da lucratividade em todo o sistema. Mas essas mesmas forças também provocaram uma queda aguda do crescimento dos gastos do governo e do consumidor, queda que, combinada à redução do crescimento dos investimentos, cortou a demanda agregada, inibindo toda elevação da produ- tividade e exacerbando a desaceleração. Em face do mercado interno estagnado e de mais limites aos gastos deficitários que resultaram da desregulamentação financeira, o crescimento, na maior parte do mundo capitalista avançado, passou a depender mais e mais do aumento da exportação de manufaturados. Mas a ge- neralização cada vez maior do crescimento dependente de exportações em todo o globo só exacerbou a tendência fundamental de aumento da capacidade ociosa na indústria internacional, que, deixada por sua própria conta, acabaria levando, antes cedo do que tarde, ao retardamento da economia mundial.
Contra esse pano de fundo de estagnação de todo o sistema, o crescimento impetuoso da dívida norte-americana combinado à alta do dólar tornou-se o motor central a mover a economia mundial. Trocando em miúdos, desde o início da dé- cada de 1980 o sistema avançou por meio da expansão do déficit norte-americano de transações correntes, levando, de um lado, ao acúmulo de um passivo cada vez maior dos Estados Unidos para com o resto do mundo e, do outro, ao aumen- to da capacidade ociosa no setor industrial internacional. Ainda em 1979-80, os Estados Unidos tinham superávits no comércio de manufaturados e, deixando de lado a importação de combustíveis, superávits comerciais gerais também. A partir de 1981, porém, os juros dispararam nos Estados Unidos, o dólar decolou e o déficit do país, tanto federal quanto privado, quebrou novos recordes a cada ano. Em conseqüência, o setor industrial dos Estados Unidos sofreu a pior crise de sua história no pós-guerra. Em 1987, com as exportações estagnadas e a importação aumentando sem parar, a balança comercial industrial chegou ao recorde de US$ 120 bilhões no vermelho, e o déficit de transações correntes alcançou o nível sem precedentes de 3,4% do PIB. Como lado oposto da mesma moeda, a elevação da importação norte-americana de manufaturados teve papel fundamental para ar- rancar a economia mundial da profunda recessão do início da década de 1980 e estimular uma nova recuperação cíclica.
O caráter indispensável dos empréstimos norte-americanos e da valorização de sua moeda para o dinamismo da economia global foi demonstrado ao máximo a partir da segunda metade da década de 1980. Quando, desde 1985, o dólar caiu violentamente, os empréstimos privados entraram em colapso temporário com a recessão de 1990-91 e o déficit público norte-americano começou a murchar a partir de 1993; o déficit comercial industrial dos Estados Unidos chegou ao míni- mo de US$ 57 bilhões (em média) em 1992-93 e o déficit de transações correntes foi temporariamente eliminado. A conseqüência, durante a primeira metade da década de 1990, foi que as economias capitalistas tiveram o pior desempenho de todo o pós-guerra (sem contar os Estados Unidos e os países recém-industrializa- dos do leste da Ásia, cujas moedas estavam atreladas ao dólar em queda).
A bolha do dólar e o déficit em conta corrente
Ao impulsionar o aumento dos gastos do consumidor, sobretudo por meio da bolha imobiliária movida a dívidas, o regime de crédito fácil do Fed permitiu que os norte-americanos continuassem elevando suas importações entre 2000 e meados de 2003, ainda que a exportação do país tenha se reduzido diante da queda do poder de compra da maior parte do resto do mundo. A conseqüência foi prolongar e aprofundar um padrão de desenvolvimento econômico internacional que data da primeira metade da década de 1980, em que o aumento pronunciado da importação de produtos industrializados dos Estados Unidos e do seu déficit comercial amplia o déficit norte-americano de transações correntes, expande o endividamento externo do país e alimenta o crescimento baseado em exportações de boa parte do resto do mundo, em especial do leste da Ásia.
Esse padrão começou em 1979-80 com a virada internacional da expansão keynesiana para a contração monetarista como meio de combater a redução da lucratividade que continuava a atacar as economias capitalistas avançadas, sobre- tudo na indústria. O salto dos juros que se seguiu, a redução do crescimento dos gastos sociais e a repressão do aumento salarial encorajaram a eliminação do ex- cesso de meios de produção caros e de baixo rendimento e, desse modo, tenderam a contribuir para a recuperação da lucratividade em todo o sistema. Mas essas mesmas forças também provocaram uma queda aguda do crescimento dos gastos do governo e do consumidor, queda que, combinada à redução do crescimento dos investimentos, cortou a demanda agregada, inibindo toda elevação da produ- tividade e exacerbando a desaceleração. Em face do mercado interno estagnado e de mais limites aos gastos deficitários que resultaram da desregulamentação financeira, o crescimento, na maior parte do mundo capitalista avançado, passou a depender mais e mais do aumento da exportação de manufaturados. Mas a ge- neralização cada vez maior do crescimento dependente de exportações em todo o globo só exacerbou a tendência fundamental de aumento da capacidade ociosa na indústria internacional, que, deixada por sua própria conta, acabaria levando, antes cedo do que tarde, ao retardamento da economia mundial.
Contra esse pano de fundo de estagnação de todo o sistema, o crescimento impetuoso da dívida norte-americana combinado à alta do dólar tornou-se o motor central a mover a economia mundial. Trocando em miúdos, desde o início da dé- cada de 1980 o sistema avançou por meio da expansão do déficit norte-americano de transações correntes, levando, de um lado, ao acúmulo de um passivo cada vez maior dos Estados Unidos para com o resto do mundo e, do outro, ao aumen- to da capacidade ociosa no setor industrial internacional. Ainda em 1979-80, os Estados Unidos tinham superávits no comércio de manufaturados e, deixando de lado a importação de combustíveis, superávits comerciais gerais também. A partir de 1981, porém, os juros dispararam nos Estados Unidos, o dólar decolou e o déficit do país, tanto federal quanto privado, quebrou novos recordes a cada ano. Em conseqüência, o setor industrial dos Estados Unidos sofreu a pior crise de sua história no pós-guerra. Em 1987, com as exportações estagnadas e a importação aumentando sem parar, a balança comercial industrial chegou ao recorde de US$ 120 bilhões no vermelho, e o déficit de transações correntes alcançou o nível sem precedentes de 3,4% do PIB. Como lado oposto da mesma moeda, a elevação da importação norte-americana de manufaturados teve papel fundamental para ar- rancar a economia mundial da profunda recessão do início da década de 1980 e estimular uma nova recuperação cíclica.
O caráter indispensável dos empréstimos norte-americanos e da valorização de sua moeda para o dinamismo da economia global foi demonstrado ao máximo a partir da segunda metade da década de 1980. Quando, desde 1985, o dólar caiu violentamente, os empréstimos privados entraram em colapso temporário com a recessão de 1990-91 e o déficit público norte-americano começou a murchar a partir de 1993; o déficit comercial industrial dos Estados Unidos chegou ao míni- mo de US$ 57 bilhões (em média) em 1992-93 e o déficit de transações correntes foi temporariamente eliminado. A conseqüência, durante a primeira metade da década de 1990, foi que as economias capitalistas tiveram o pior desempenho de todo o pós-guerra (sem contar os Estados Unidos e os países recém-industrializa- dos do leste da Ásia, cujas moedas estavam atreladas ao dólar em queda).
Entre meados da década de 1990 e o fim do século houve outra inversão. A aceleração espantosa do endividamento de empresas e famílias depois da bolha do mercado de ações, combinada a uma nova decolada do dólar, assumiu então o pa- pel antes desempenhado pelos déficits públicos no subsídio da demanda exigida para impulsionar a economia não só dos Estados Unidos como do mundo todo, ao provocar um verdadeiro tsunami de importações norte-americanas de manu- faturados. Elas cresceram de US$ 480 bilhões em 1993 para US$ 1 trilhão em 2000, mais do que dobrando em sete anos, enquanto sua proporção em relação à produção industrial aumentava 50%. Já em 1995, o déficit comercial industrial pulara para US$ 145 bilhões. Chegou a US$ 271 bilhões em 1999 e aumentou para US$ 369 bilhões em 2002. Desse modo, respondeu, sozinho, por algo como 60% do aumento substancial do déficit norte-americano de transações correntes entre 1995 e 2002 e por três quartos de sua magnitude absoluta em 2002.
Na segunda metade da década de 1990, as transações correntes dos Estados Unidos, por si sós, quadruplicaram de tamanho e triplicaram como percentual do PIB, batendo novos recordes quase todo ano. Entre 2000 e meados de 2003, subi- ram mais 20% e chegaram a nunca vistos US$ 544 bilhões, cinco vezes o nível de 1995. Com isso, exacerbaram-se profundamente as dificuldades do setor industrial norte-americano e houve um estímulo indispensável ao resto da economia mundial, arrancando a Europa e o Japão de sua paralisação depois de 1995; salvan- do boa parte do leste da Ásia (e do resto do mundo) do quase colapso de 1997-98; resgatando a América Latina de crises profundas em 1994-95 e novamente em 1998-99; e, por fim, mantendo sob controle a depressão global de 2001 até hoje. É claro que o próprio aumento do déficit norte-americano de transações cor- rentes dependeu da disposição do resto do mundo para agüentar as dívidas e os ati- vos sempre crescentes dos Estados Unidos, financiando, na verdade, o aumento do consumo norte-americano para permitir que sua própria produção e exportação de manufaturados continuasse a crescer. Durante o boom e a bolha da segunda metade da década de 1990, os investidores estrangeiros ficaram felicíssimos de financiar o déficit norte-americano de transações correntes. Na expectativa de grandes lucros empresariais e da valorização interminável das ações, fizeram imensos investimen- tos diretos nos Estados Unidos e compraram enorme quantidade de títulos e obrigações das empresas, ajudando a empurrar a moeda ainda mais para cima – uma bolha do dólar que acompanhou a bolha das ações e foi, em grande parte, criação dela. Entre 1995 e 2000, enquanto explodia o déficit de transações correntes dos Estados Unidos, o total dos ativos brutos norte-americano em mãos do resto do mundo aumentou de US$ 3,4 trilhões para US$ 6,4 trilhões, ou 75% do PIB do país22. No entanto, quando a economia norte-americana reduziu seu ritmo e o mer- cado de ações do país caiu a partir de meados de 2000, os investidores privados do resto do mundo acharam os títulos dos Estados Unidos cada vez menos atraentes. A compra de obrigações das empresas e do Tesouro, assim como obrigações vendidas por instituições dos Estados Unidos como Fannie Mae e Freddy Mac, continuou a crescer animadamente. Mas tanto a compra de ativos pelo resto do mundo quanto o investimento externo direto caíram de forma acentuada – a primeira foi da média de US$ 153 bilhões em 1999 e 2000 para US$ 65 bilhões de 2001 até a primeira metade de 2003; o segundo declinou de US$ 306 bilhões para US$ 86 bilhões no mesmo período. Os europeus, principalmente, fugiram dos ativos norte-ame- ricanos. Depois do ponto máximo de US$ 115,6 bilhões no ano findo em outubro de 2000, as compras de títulos norte-americanos pela Zona do Euro despencaram para apenas US$ 4,9 bilhões no ano que se encerrou em abril de 2003. O resultado foram pressões inevitáveis sobre o dólar, intensificadas pelos juros mais altos na Europa. Entre o início de 2001 e meados de 2003, o dólar caiu 37% em relação ao euro, 27% somente no ano que terminou em junho de 200323.
FIGURA 5 – Balança comercial – transações correntes e setor industrial, 1980-2003 % do PIB Bilhões de dólares
Fontes: Quadro 3, US Aggregate Foreign Trade Data, website da ITA; US International Transactions, website do BEA.
O declínio do dólar em relação ao euro tenderia, mantendo-se iguais todos os outros fatores, a tornar mais fáceis as exportações e mais difíceis as importações dos Estados Unidos. Mas, nas condições atuais, isso talvez não traga muita me- lhora do déficit comercial e de transações correntes do país, e há o risco de minar as economias européias. O aumento da recessão na União Européia reduzirá sua demanda de mercadorias dos Estados Unidos, anulando boa parte do esperado benefício da queda do dólar para os exportadores norte-americanos. Entre 2001 e a primeira metade de 2003, o déficit comercial dos Estados Unidos com a Europa chegou a crescer mais de um quarto, de US$ 34,3 bilhões para US$ 43,4 bilhões. Se o dólar continuar caindo em resposta a esse abismo cada vez maior, o Federal Reserve talvez tenha de fazer uma opção angustiante: ou deixa a moeda cair e arrisca-se a uma liqüidação por atacado das propriedades norte-americanas entre os investidores estrangeiros – o que poderia causar um enorme tumulto no mer- cado de ações e criar uma grave corrida ao dólar – ou eleva os juros e arrisca-se a empurrar a economia interna de volta para a recessão.
Políticas do leste da Ásia
Na verdade, até agora o declínio geral ponderado pelo comércio exterior da taxa de câmbio do dólar ficou limitado a algo em torno de 11%. É que a queda aconteceu quase inteiramente em relação ao euro e foi pequena em relação às moedas do leste da Ásia. Isso apesar do fato de o leste da Ásia ser responsável por uma parte desproporcional dos déficits comercial e de transações correntes dos Estados Unidos, que chegou a mais de 100 bilhões por ano tanto com o Japão quanto com a China. A razão pela qual o dólar se manteve em relação às moedas do leste da Ásia foi que, liderados pelo Japão e pela China (e incluindo Hong Kong e a Coréia do Sul), os governos da região adotaram uma política durável de reciclar seus superávits de transações correntes em ativos denominados em dólar para manter baixas suas próprias moedas. Hoje, o leste da Ásia detém 1,6 trilhão de dólares em reservas, 70% do total mundial, contra apenas 30% em 1990. Quando os Estados Unidos começaram sua desaceleração e o déficit norte-americano de transações correntes se ampliou ainda mais, China, Japão, Coréia do Sul e Hong Kong entraram como nunca no mercado de moedas, elevando sua propriedade conjunta de títulos do Tesouro dos Estados Unidos de US$ 512 bilhões para US$ 696 bilhões no breve período de dezembro de 2001 a junho de 2003. Na verdade, nos primeiros meses de 2003 o Japão e a China cobriram sozinhos estimados 55% do déficit de transações correntes norte-americano ao comprar, respectivamente, US$ 150 bilhões e US$ 100 bilhões24.
Políticas do leste da Ásia
Na verdade, até agora o declínio geral ponderado pelo comércio exterior da taxa de câmbio do dólar ficou limitado a algo em torno de 11%. É que a queda aconteceu quase inteiramente em relação ao euro e foi pequena em relação às moedas do leste da Ásia. Isso apesar do fato de o leste da Ásia ser responsável por uma parte desproporcional dos déficits comercial e de transações correntes dos Estados Unidos, que chegou a mais de 100 bilhões por ano tanto com o Japão quanto com a China. A razão pela qual o dólar se manteve em relação às moedas do leste da Ásia foi que, liderados pelo Japão e pela China (e incluindo Hong Kong e a Coréia do Sul), os governos da região adotaram uma política durável de reciclar seus superávits de transações correntes em ativos denominados em dólar para manter baixas suas próprias moedas. Hoje, o leste da Ásia detém 1,6 trilhão de dólares em reservas, 70% do total mundial, contra apenas 30% em 1990. Quando os Estados Unidos começaram sua desaceleração e o déficit norte-americano de transações correntes se ampliou ainda mais, China, Japão, Coréia do Sul e Hong Kong entraram como nunca no mercado de moedas, elevando sua propriedade conjunta de títulos do Tesouro dos Estados Unidos de US$ 512 bilhões para US$ 696 bilhões no breve período de dezembro de 2001 a junho de 2003. Na verdade, nos primeiros meses de 2003 o Japão e a China cobriram sozinhos estimados 55% do déficit de transações correntes norte-americano ao comprar, respectivamente, US$ 150 bilhões e US$ 100 bilhões24.
É claro que os governos do leste asiático não seguiram essa trajetória por ra- zões altruístas, mas sim para sustentar o crescimento rápido das exportações de manufaturados de seus países para os Estados Unidos. Ainda assim, ao fechar o abismo financeiro crescente que, não fosse isso, resultaria da disparidade cada vez maior entre as exportações e as importações dos Estados Unidos, os governos leste-asiáticos realizaram nada mais, nada menos que a estabilização da economia norte-americana. Na ausência de suas compras, as políticas hiperexpansionistas seguidas pelo Fed e pelo governo Bush teriam, quase com certeza, forçado uma grande queda do dólar, levado à redução do preço das ações e aumentado o custo dos empréstimos, lançando os Estados Unidos, a Ásia e o resto do mundo de volta na recessão. Ainda assim, é difícil ver como essa simbiose poderá se sustentar por muito tempo.
Afinal, ainda que os governos do leste da Ásia pudessem e quisessem conti- nuar comprando títulos em dólar para manter barata sua própria moeda, subsidiando assim as exportações de sua indústria, esse processo não pode ter vida longa. É que o efeito final seria reduzir as exportações e aumentar as importações dos Estados Unidos, forçando ainda mais o aumento do déficit norte-americano em transações correntes e provocando investimentos ainda maiores do leste da Ásia em títulos financeiros dos Estados Unidos, com conseqüências sinistras tanto para a economia norte-americana quanto para a global. De um lado, o fluxo de recursos do leste da Ásia para o mercado financeiro dos Estados Unidos, ao baixar o custo dos empréstimos, tenderia, direta ou indiretamente, a alimentar bolhas contínuas do valor das ações e dos imóveis. De outro, o crescimento das exportações do leste da Ásia, estimulado pelo dólar alto e pela demanda norte-americana subsidiada pelo governo, solaparia ainda mais a indústria dos Estados Unidos, exacerbando, ao mesmo tempo, a capacidade ociosa da indústria em escala global. É claro que essa é praticamente a mesma síndrome de aumento do preço das ações e super- produção industrial que perseguiu a economia mundial e seu componente norte- americano durante o boom envolto pela bolha e a desaceleração que se seguiu. É um caminho que solapa a si mesmo, no qual o aumento inexorável das dívidas dos Estados Unidos com o resto do mundo permite que outras economias cres- çam com as exportações à custa do poder produtivo norte-americano – e, portanto, da capacidade dos Estados Unidos de honrar essas dívidas, processo que já levou a um craque da bolsa e a uma recessão.
UMA BASE PARA O BOOM?
Entre meados de 2000 e meados de 2003, para manter a economia funcio- nando enquanto se livravam da capacidade ociosa e começavam novamente a in- vestir e criar empregos, as autoridades econômicas deflagraram o maior programa de estímulo macroeconômico da história dos Estados Unidos. O Fed reduziu sua taxa de juros de curto prazo de 6,5% para o mínimo, desde 1958, de 1% (incluindo as reduções de novembro de 2002 e junho de 2003). Ao mesmo tempo, a situação fiscal do governo passou de um superávit de 1,4% do PIB para um déficit projeta- do de 4,5%, ou US$ 450 bilhões. Durante o mesmo intervalo, o valor do dólar no câmbio comercial caiu mais de 10%. Ainda assim, apesar desse estímulo gigan- tesco, a economia mal se mexeu. Durante a primeira metade de 2003, as despesas reais anualizadas em instalações, equipamento e software ainda não haviam cres- cido. No mesmo período, o crescimento anualizado do PIB de 2,35% caiu ainda mais que em 2002. Na verdade, teria sido um terço menor, de apenas 1,5%, não fosse o salto imenso e insustentável dos gastos militares no Iraque, responsável por mais da metade do crescimento de 3,3% da economia no segundo trimestre. Enquanto isso, o desemprego chegou a 6,2% – e a mais de 8%, se forem incluídos os que desistiram de procurar emprego –, e as vagas continuaram sumindo num ritmo alarmante. Em julho de 2003, a economia não-agrícola perdeu 57 mil vagas, depois de perder 83 mil e 76 mil, respectivamente, em junho e maio, e o emprego não-agrícola ficou 358 mil postos de trabalho abaixo do nível de julho de 2002. A disparidade entre estímulo e resposta parecia ser expressão direta da fraqueza básica da economia – seus problemas, ainda não-resolvidos, de excesso de capaci- dade ociosa e fragilidade financeira das empresas.
No entanto, no outono de 2003, a economia, com toda certeza, acelerava-se. O PIB deu um salto à frente num ritmo anualizado de 8,2%, o maior ganho tri- mestral desde 1984. Foi igualmente importante que, de repente, a variação do nível de emprego tenha sido positiva, na faixa de mais de 100 mil vagas ao mês em setembro e outubro. Para completar o quadro, o investimento não-imobiliário disparou num ritmo de 14%, o mais alto desde o início de 2000. De repente, a economia parecia ter decolado.
A aceleração atual
Pode acontecer que, em retrospecto, o terceiro trimestre de 2003 tenha marca- do o início de uma virada cíclica e durável para melhor. Mas, apesar dos números espetaculares das manchetes, não está claro que o avanço econômico dos Estados Unidos no terceiro trimestre tenha rompido de forma decisiva sua dependência das bolhas, do crédito e do consumo. Mais uma vez, os gastos pessoais do consu- midor, que se expandiram numa taxa espetacular de 6,4%, incluindo um aumento colossal de 26,9% dos bens duráveis, estavam no centro da expansão. Juntamente com o crescimento dos investimentos residenciais, foram responsáveis por 75% do aumento total do PIB. O que impulsionou o consumo pessoal? Com certeza não foi a remuneração real por hora (excluindo os autônomos), que na verdade caiu 0,2% no trimestre na economia toda, com o resultado de que a remuneração real total anualizada dos três primeiros trimestres de 2003 chegou a cair um pouquinho em comparação com 2002. O que pôs dinheiro no bolso dos consumidores foi, acima de tudo, os enormes diferenciais embolsados pelas famílias com o financiamento hipotecário. Durante a primeira metade de 2003, chegaram a cerca de 7% do PIB e devem ter desempenhado papel fundamental na orgia de gastos do terceiro trimes- tre. É inquestionável que a redução tributária do governo Bush em 2003 também foi importante, deixando no bolso do contribuinte cerca de US$ 25 bilhões no terceiro trimestre – uma enorme massa anualizada de 100 bilhões de dólares. Enquanto a renda pessoal antes de descontados os impostos cresceu 1% no citado trimestre, depois do desconto a renda pessoal cresceu espantosos 7,2%25.
E o investimento, em última instância a variável decisiva? Por si só, o aumento de 14% já é impressionante e, considerado em conjunto com o crescimento de 7% do trimestre anterior, poderia trazer bons augúrios para o futuro. Mas boa parte desse aumento foi, quase com certeza, provocado pela lei fiscal de 2003, que permitiu às empresas antecipar a depreciação, mas só se o fizerem até o final de 2004. De qualquer modo, o investimento anualizado em capital fixo não-resi- dencial no terceiro trimestre foi apenas 4,1% maior que em 2002 e, ainda assim, respectivamente, 1,8% e 6,9% mais baixo do que em 2001 e 2002. Isso ainda não é indício de um boom da acumulação de capital. O aumento considerável de três quartos do nível de emprego, vindo depois de três anos de declínio constante, foi, inquestionavelmente, o sinal mais promissor para a economia e talvez indi- que uma virada. Mas ainda não é grande o suficiente para alterar o número dos que entram no mercado de trabalho e, portanto, reduzir o desemprego; ou para provocar algum aumento significativo da remuneração real total e, assim, elevar a demanda. É claro que ainda há um longo caminho para transcender a pior recu- peração cíclica do emprego no pós-guerra. Nos 23 meses que se seguiram ao fim oficial da recessão, em novembro de 2001, o emprego no setor privado perdeu mais 919 mil vagas, com quase todos os setores sofrendo grande redução. Se não fosse o ganho de 753 mil empregos nos serviços de educação e saúde, a perda de vagas no período de recuperação ostensiva teria sido bem maior que 1,5 milhão. No ponto análogo da “recuperação sem empregos” que se seguiu à trégua de mar- ço da recessão de 1990-91, ou seja, janeiro-fevereiro de 1993, a economia gerava 277 mil empregos por mês, mais que o dobro dos 125 mil mensais de setembro- outubro de 2003.
Um aumento sustentável da lucratividade?
A condição necessária, se não suficiente, para o aumento significativo e cons- tante dos gastos em instalações, equipamento e novas contratações é, claro, o au- mento dramático e prolongado da lucratividade – o fator crítico que faltou ao boom dos anos 1990. Na verdade, até agora a lucratividade elevou-se de forma bastante substancial desde seu ponto mais baixo, muito mais depressa que depois da recessão de 1990-91. A taxa de lucro das empresas não-financeiras nos três primeiros trimestres de 2003 chegou a um nível 21% acima do de 2001, ficando a apenas 10% do pico de 1997. Com isso, atingiu quase o nível médio de lucratividade de todo o ciclo econômico dos anos 1990. Esse é um avanço importante. No entanto, é preciso lembrar que a taxa média de lucro no ciclo da década de 1990 não su- biu de forma palpável acima do nível das décadas de 1970 e 1980, ficando cerca de 20% abaixo do nível do boom do pós-guerra, e mostrou-se insuficiente para estimular uma interrupção decisiva da longa descida ladeira abaixo. Para que a economia mantenha uma nova expansão com aumentos duradouros dos inves- timentos e do nível de emprego, a elevação impressionante da lucratividade que começou em meados da década de 1980 mas que degringolou depois de meados da década de 1990 precisa, na verdade, partir de onde parou e subir ainda mais2G. A dupla pergunta que se impõe, portanto, é se a recuperação atual da taxa de lucro, até agora dinâmica, pode continuar e constituir a base de aumentos constantes do investimento e do nível de emprego – dado que, até agora, apoiou-se em grande parte no aumento da exploração da força de trabalho norte-americana, a mais vul- nerável do mundo capitalista avançado.
Com o crescimento da produção amortecido até há pouco tempo, o aumento da lucratividade deveu-se, sobretudo, à ampliação da distância entre o que os traba- lhadores produzem por hora e o que recebem por hora. O crescimento mensurado da produção por hora foi bem impressionante – 5,4% em 2002, 4,35% na primeira metade de 2003 e 5% nos três primeiros trimestres de 2003 para a economia em- presarial não-financeira, depois de 2,0% em 2001 –, enquanto o salário real por hora nos mesmos períodos só cresceu 1,9% e 0,9% respectivamente, após um ganho de 0,3% em 2001. Portanto, alguns analistas importantes já afirmam que o milagre do crescimento da produtividade – que, na prática, nunca se materializou em 1990, embora a produção por hora tenha se acelerado de forma palpável – está agora chegando aos Estados Unidos. Em conseqüência, mantidos inalterados to- dos os outros fatores, abre-se o caminho para o renascer da lucratividade.
Mas tal dedução é, no mínimo, prematura. Seu calcanhar-de-aquiles é óbvio: até agora, o aumento da produção por hora ocorreu diante de um declínio palpável do crescimento dos investimentos, ou seja, a adoção mais lenta de mais e melho- res instalações, equipamentos e programas de computador. Entre 1995 e 2000, o capital social do setor empresarial não-financeiro cresceu 3,9% ao ano, mas só conseguiu produzir avanços técnicos suficientes para gerar ganhos de produção por hora de apenas 2,6% ao ano. Dá para acreditar que, apesar de uma redução de mais de 50% da taxa de crescimento do capital social em 2001, 2002 e na pri- meira metade de 2003 – para 1,8% –, o avanço tecnológico produziu, de repente, ganhos de produtividade quase duas vezes maiores? A explicação alternativa óbvia e mais plausível é que os ganhos de produtividade registrados não representam um aumento da eficiência – ou seja, mais produção com o mesmo esforço da mão- de-obra –, mas, sim, mais esforço da mão-de-obra por hora, ou seja, aceleração e intensificação do trabalho. Esse processo não só gera lucros mais elevados como, também, de forma bastante significativa, maiores taxas de lucro, já que o lucro adicional é extraído sem necessidade de acrescentar capital. Com efeito, em 2002 e na primeira metade de 2003, o capital social das empresas não-financeiras (em termos nominais) mal aumentou, significando que praticamente todo o ganho de lucratividade desse período foi obtido sem custos em termos das instalações e do equipamento já existentes.
Empregos e investimento
O que parece ter acontecido foi que, para cortar custos, as empresas redu- ziram de forma acentuada as vagas – 2,1% entre 2000 e a primeira metade de 2003 no setor empresarial não-financeiro –, livrando-se da mão-de-obra menos produtiva e, assim, elevando a produtividade média daqueles que ficaram. Na es- teira desse corte de vagas, os empregadores conseguiram o restante dos aumentos registrados da produção por hora, obrigando os trabalhadores remanescentes a intensificar o trabalho. Parece sintomático que o maior ganho de produtividade setorial em 2002, de 6,4%, tenha sido registrado no setor industrial, no qual, na verdade, a produção caiu 1,1% e a redução da força de trabalho foi mais extremada: um declínio de 7% do emprego, medido em horas. Como conclui sem rodeios a Business Week, “depois de várias largadas furadas, muitos líderes empresariais continuam cautelosos, principalmente na hora de contratar. Até agora, as empre- sas conseguiram atender às encomendas de seus produtos fazendo os emprega- dos trabalharem mais”27.
Ainda assim, até que ponto as empresas podem continuar aumentando seu lucro extraindo ainda mais trabalho por hora, ou por dia, de seus empregados é uma boa pergunta. E quando as empresas tiverem de começar a pagar pelo ganho de produtividade e, portanto, pelo lucro – aumentando seu capital fixo (instala- ções, equipamento e programas de computador) em vez de garanti-los sem custo a partir da intensificação do trabalho –, ficará mais difícil conseguir aumentos da taxa de lucro. Do mesmo modo, mais demissões, mais aceleração do trabalho e au- mentos salariais mais espaçados só vão ampliar a redução da demanda agregada que vem pressionando para baixo a economia norte-americana, desencorajando os investimentos. Nos 22 meses que se seguiram ao final formal das seis reces- sões anteriores, o emprego subiu, em média, 5%, e a remuneração total, 9%. Mas, no mesmo período, depois do ponto mínimo de novembro de 2001 na última re- cessão, as folhas de pagamento não-agrícola contraíram-se cerca de 1%, deixando inalterada a remuneração total privada não-agrícola.
A demanda estagnada vem sendo reproduzida não só pela eliminação de vagas e pela relutância em investir, mas também pelo ritmo débil da criação de novos empregos. No decorrer de 2002, a perda de vagas reduziu-se de forma palpável. Mas o mesmo aconteceu com a velocidade da criação de novos empre- gos. Na verdade, o número de empregos criados em 2002 foi ainda menor que no ano recessivo de 2001, chegando ao nível mais baixo desde 199528. Nas reces- sões anteriores do pós-guerra, sempre provocadas pela contração da demanda quando o Federal Reserve aumentava os juros, as empresas tendiam a manter vínculos relativamente constantes com os ex-empregados, na expectativa de que a demanda se reanimasse quando o Fed afrouxasse as rédeas. As demissões, portanto, tendiam a ser “cíclicas”, com a criação rápida de vagas depois do ponto mais baixo de uma recessão, gerando demanda para um aumento maior do nível de emprego. Nos seis últimos ciclos econômicos, na subida cíclica que se seguiu ao ponto mais baixo da recessão, uma média de 50% da reanimação do emprego aconteceu nos mesmos setores em que caíra durante a fase cíclica de queda. Na conjuntura atual, vem acontecendo um forte afastamento desse padrão. Os seto- res que perderam vagas durante a recessão continuaram a perdê-las na recupe- ração, enquanto, do outro lado da moeda, um total de 70% dos novos empregos têm sido “estruturais”, ocorrendo em setores diferentes daqueles em que houve demissões. É claro que é muito mais arriscado criar empregos inteiramente no- vos do que renovar os antigos29.
É óbvio que tal padrão é exatamente o que seria de esperar numa desacelera- ção como essa, resultante de um acúmulo a longo prazo da capacidade ociosa da indústria em todo o sistema, agravado pelo efeito-riqueza da bolha do preço dos ativos de 1995 a 2000. Criaram-se empregos, ainda mais no decorrer da década de 1990, sem esperança de mantê-los com o crescimento da demanda, exceto a curtíssimo prazo. O setor de alta tecnologia, sozinho, que soma apenas 8% do PIB, respondeu por um terço do aumento total do PIB durante a segunda metade da década de 1990. Acontece que grande parte dessa produção foi supérflua, in- vendável com lucro, e a conseqüência foi que, em 2002 e 2003, perderam-se 750 mil vagas, ou 12% do total de empregos do final de 2001. Muitos desses postos de trabalho jamais serão recriados, e, dos que ressurgirem, um número significativo será no exterior, em conseqüência da terceirização. Não só as plataformas indus- triais de mão-de-obra barata vêm se expandindo como fogo em palha, principal- mente na China, graças à informatização e ao aprimoramento das comunicações, como também os empregos de colarinho-branco e do setor de serviços também se deslocam cada vez mais, sobretudo para a Índia. Em conseqüência, terá de ser criado nos Estados Unidos um conjunto de empregos inteiramente novos30. Mas onde surgirá a demanda para eles, dado que a criação de empregos é, por si só, um aspecto tão básico da geração de demanda? Parece que a economia enfrenta um grave problema de coordenação, já que os setores da Nova Economia, que se esperava que tomassem a iniciativa, mostraram-se bem incapazes disso.
O enorme estímulo do Fed pode, na verdade, ter exacerbado o problema ao frear a eliminação das empresas de custo alto e lucro baixo mediante falências e fusões. No terceiro trimestre de 2003, depois de quase três anos de desaceleração, a utilização da capacidade instalada da indústria foi de 72,9% (com os setores de alta tecnologia bem abaixo disso). Em realidade, foi menor que em todos os tri- mestres de 2001 e 2002 e, de fato, mais baixo do que qualquer outro trimestre do período do pós-guerra, com exceção de 1982-83 e 1975. É óbvio que isso reduz a motivação de investir em novas instalações, equipamento e programas de compu- tador, ou mesmo de acrescentar novos empregados.
CONCLUSÃO
CONCLUSÃO
Durante os seis primeiros meses de 2003, a economia cambaleou. Com o Fed parecendo prometer que seguraria o custo do crédito, os juros de longo prazo despencaram até quase o nível mínimo do pós-guerra, e os investidores, em busca de melhor rendimento, correram para o mercado de obrigações. Mas quando, quase sem tomar fôlego depois de uma campanha intensa para impedir a queda de preços, o Fed anunciou de repente sua crença de que o resultado da economia melhorava, o mercado de títulos, até então extremamente comprador, deu uma guinada de 180 graus e as taxas de longo prazo dispararam com ra- pidez que não era vista havia muitos anos. No verão, o preço das obrigações se estabilizou. Mas ficou o temor de que isso fosse apenas o começo – de que os juros não só se corrigissem como continuassem subindo quando o crescimento mais rápido trouxesse preços mais altos e maior necessidade de crédito. Caso isso acontecesse, seria um risco grave para o preço das ações e para as hipotecas, ameaçando anular a recuperação.
Num desafio ao prognóstico sombrio do mercado de obrigações, o de ações subiu sem cessar durante a maior parte de 2003. Entre seu ponto mais baixo de fevereiro-março de 2003 e outubro do mesmo ano, o índice S&P 500 registrou um aumento notável de 33%, ajudando bastante a aumentar a confiança. Mas, ao fazê- lo, a relação preço-rendimento subiu acima de 35:1, bem perto do nível mais alto da última bolha dos anos 1990. Pode o mercado subir ainda mais? Os principais executivos andaram tendo lá suas dúvidas. No final de 2003, a relação entre venda e compra de ações por pessoal das empresas chegou ao recorde absoluto de 6:131. Embora o mercado de ações pareça ter incorporado o aumento recente do lucro empresarial e mais um pouco, novos aumentos do ganho das empresas poderiam empurrar mais para cima o valor das ações – mas, ao mesmo tempo, parece que estas ficaram cada vez mais vulneráveis aos choques, em especial ao aumento dos juros ou à queda do dólar, levando a uma correção.
É claro que o boom do refinanciamento das hipotecas foi impulsionado por uma queda imensa dos juros e um aumento sem precedentes do valor dos imó- veis. Parece, porém, que esses dois processos se inverteram. Junto com outros juros de longo prazo, os das hipotecas dispararam em resposta à gafe do Fed de junho de 2003 e vêm subindo lentamente desde então. No segundo trimestre de 2003 (último período para o qual temos dados), o preço dos imóveis residen- ciais subiu apenas 0,78 – a taxa mais baixa de valorização trimestral desde 1996. Em setembro e outubro, a atividade de refinanciamento caiu de forma palpável.
Segundo a Mortgage Bankers Association, pode-se esperar uma queda dos em- préstimos hipotecários nos Estados Unidos de US$ 3,3 trilhões em 2003 para US$ 1,4 trilhão em 2004, enquanto os juros sobem de 5,8% para 6,2% (em 7%, estarão equilibrados). Se isso acontecer, é óbvio que o excedente obtido com as hipotecas despencará, enfraquecendo o que foi provavelmente, até agora, a principal base do crescimento do consumo e do PIB. O impacto sobre o setor financeiro – que, nos três últimos anos, dependeu tanto do mercado imobiliário para seus lucros – também será grande.
Durante os três primeiros trimestres de 2003, o déficit norte-americano de transações correntes continuou a bater novos recordes, e espera-se que chegue a US$ 550 bilhões no ano todo. Isso significa 13% acima do pico anterior ocor- rido em 2002, que já quebrara o antigo recorde de 2000. O déficit continuará a subir, incontido, enquanto o dólar estiver sobrevalorizado e a economia mundial continuar dependendo dos estímulos macroeconômicos oriundos dos Estados Unidos. Em setembro, a balança comercial norte-americana, mesmo no setor de bens tecnológicos avançados, no qual se supõe que os Estados Unidos brilhem, atingiu o recorde de US$ 3,9 bilhões no vermelho. É claro que a conseqüência é que o volume de financiamento estrangeiro necessário para cobrir esse déficit também chegou a um nível sem precedentes. Hoje os Estados Unidos têm de vender ao resto do mundo US$ 1,5 bilhão em títulos por dia para cobrir o buraco. Essa quantia é o dobro da que era necessária em 1999, embora nesse meio-tempo, com a desaceleração econômica e o colapso do mercado acionário, os títulos norte- americanos tenham ficado bem menos desejáveis. Na verdade, desde o segundo trimestre de 2003, a entrada líqüida mensal de capital nos Estados Unidos caiu de modo acentuado – de US$ 110,4 bilhões em maio para US$ 90,6 bilhões em junho, US$ 73,4 bilhões em julho, US$ 49,9 bilhões em agosto e escassos US$ 4,2 bilhões em setembro de 2003 –, intensificando cada vez mais a pressão sobre a moeda. No último trimestre, depois de uma breve recuperação provocada pelo aumento do valor das ativos e pela aceleração da economia, o dólar começou a cair, primeiro em relação ao iene e, depois, ao euro32.
O destino do dólar
Enquanto isso, o governo Bush, em resposta à gritaria dos estados industriais que perdiam empregos num ritmo devastador e como preparação para as eleições de 2004, começou a pressionar a China – alvo fácil, em razão do seu superávit comercial mastodôntico com os Estados Unidos – para que permitisse ao iuane subir em relação ao dólar. Na reunião do G7 em setembro, em Dubai, Washington ampliou sua campanha, buscando forçar a queda generalizada do dólar. Em novembro, depois de impor tarifas à importação de aço contra as regras da OMC, estabeleceu cotas de importação de certos itens de vestuário da China. É claro que a meta é transferir parte do fardo da capacidade ociosa da indústria internacional para seus principais parceiros e rivais, de modo a apressar a recuperação do nível de emprego e investimento nos Estados Unidos.
Mas é difícil ver o que essas ações podem realmente conseguir. Não é provável que a revalorização do iuane e o aumento das tarifas faça muito pelo déficit comercial ou pelo nível de emprego norte-americano. O crescimento das importações da China reflete a redução correspondente das importações das mesmas mercadorias de outros países baratos do leste da Ásia – na verdade, a participação global da Ásia no mercado norte-americano vem declinando um pouco. Do mesmo modo, as importações fabricadas com mão-de-obra barata na República Popular da China constituem apenas uma pequena parcela das mercadorias produzidas pelas indústrias norte-americanas que sofreram as maiores perdas de empregos – computadores e equipamento eletrônico, máquinas, produtos metálicos industrializados e vestimentas. Além disso, a disparidade salarial entre a China e os Estados Unidos é tão grande que nem uma valorização de 30% do iuane conseguiria ajudar de modo significativo os produtores norte-americanos. Ao mesmo tempo, os varejistas dos Estados Unidos recebem tamanhos descontos nas importações da China, que se admi- te que US$ 1 trilhão de capitalização no mercado de ações correria risco sem elas. O nível salarial é bem mais próximo no Japão, e a valorização do iene a princípio ajudaria a exportação norte-americana. Mas como, provavelmente, também prejudicaria o incipiente renascer econômico japonês, que depende muito das exportações, não valeria a pena33.
A campanha do governo Bush acelerou um processo já em andamento de que- da do dólar. Embora o mercado acionário dos Estados Unidos tenha vivido uma alta saudável em termos de dólares, seu desempenho em euros foi muito mais fraco e, em ienes, ainda pior. Assim, o enfraquecimento da demanda estrangeira de ações vem forçando cada vez mais a queda do dólar. O declínio constante, embora lento, do preço das obrigações dos Estados Unidos milita na mesma direção. Contra esse pano de fundo, o impulso cada vez mais protecionista do governo foi interpretado como sinal de sua determinação crescente de forçar o dólar – cujo câmbio agora caiu acentuadamente – a baixar. Em novembro, o euro atingiu uma posição nunca vista em relação ao dólar, e o iene chegou a seu nível mais alto em três anos.
Mas talvez o maior desestabilizador seja o fato de que tanto o Japão quanto a China parecem ter começado a reduzir suas costumeiras compras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, deixando potencialmente a descoberto parte cada vez maior do déficit norte-americano de transações correntes. O Japão dá mos- tras de que acedeu aos desejos dos Estados Unidos e, embora ainda entre até cer- to ponto no mercado de moedas, não o fez em volume suficiente para impedir um aumento de 9% do iene entre agosto e novembro. No caso da China, a pres- são norte-americana para a valorização coincidiu com a ansiedade crescente do próprio governo chinês com o superaquecimento econômico e os passos iniciais para controlá-lo. Em 2003, o crescimento do PIB chinês parece ter avançado bem além dos esperados 9%; a produção industrial, acima de 16%, e o investi- mento em patrimônio fixo, além de 30%. Em resposta, o governo chinês exigiu a redução das compras de novas instalações e equipamentos em todo o setor industrial e determinou que os bancos aumentassem suas reservas, para tornar mais difícil o crédito. Como a compra de dólares teve papel importante ao forçar o aumento da oferta de moeda na República Popular da China para mais de 20% ao ano, é provável que Beijing tenha de cortá-la, caso leve a sério o controle da bolha da propriedade nas grandes cidades e o aumento da capacidade ociosa que atinge tantas indústrias chinesas. Como outros investidores, Beijing também pode estar preocupada com as perdas que sofrerá com os títulos do Tesouro caso os juros dos Estados Unidos continuem a subir e o preço das obrigações a cair; o ganho potencial que prevê ao não investir em títulos de maior remuneração; e as perdas mais elevadas de moeda que terá de suportar quanto mais postergar a valorização. A pressão política dos Estados Unidos pode, assim, tornar mais fácil para a China dar o passo pelo qual já se decidiu34.
Taxas de juros
Ainda assim, derrubar a moeda traz grandes riscos para Washington. O dó- lar alto, em geral, e, em particular, a compra pelo leste da Ásia de títulos em dólares foram indispensáveis para a recuperação dos Estados Unidos do modo como se procedeu, permitindo uma política monetária norte-americana hiperexpansionista sem pressão de alta sobre os juros nem sobre os preços. Caso o dólar continue a cair, o valor dos ativos e das obrigações dos Estados Unidos sofrerá uma pressão direta e a inflação subirá. Mas, se o nível de preços se elevar, também subirá o custo do crédito, ameaçando os juros baixos, que têm sido o alicerce mais importante da virada cíclica. Qualquer aumento significativo dos juros daria fim à enorme onda de empréstimos hipotecários que impulsionou o consumo. Também tornaria mais difícil para o governo financiar seu déficit orçamentário imenso e crescente sem elevar os juros e, assim, sem atrapalhar a recuperação, aumentando, ao mesmo tempo, a pressão de queda sobre o valor das ações. Na verdade, dado que o resto do mundo possui um total de US$ 7,61 trilhões em títulos norte-americanos – 40% do débito comercializável do gover- no dos Estados Unidos, 26% das obrigações das empresas norte-americanas e 13% dos ativos –, um declínio significativo do dólar tem o potencial de deflagrar uma corrida para livrar-se deles, provocando uma violenta espiral descendente do preço da moeda e dos títulos. Em outras palavras, se o governo Bush conse- guir o que quer, talvez se arrependa de ter tentado.
Parece que agora o crédito e as bolhas que estiveram por trás da recuperação cíclica dos Estados Unidos vêm diminuindo, impondo uma pressão de queda so- bre os gastos do consumidor e aumentando a vulnerabilidade do preço dos ativos aos choques. Se, no entanto, o preço das ações for freado, os recursos hipotecários cortados e o dólar escorregar ainda mais, terá de haver um crescimento mais rá- pido dos investimentos e do nível de emprego, e quanto mais cedo melhor, para impedir outra desaceleração ou coisa pior. Em teoria, o aumento acentuado da lucratividade norte-americana deveria representar uma base forte para o surto de gastos empresariais, e o recente crescimento mais rápido do PIB deveria elevar mais ainda os rendimentos. Mas, na verdade, mesmo neste momento, as despesas empresariais deixaram de materializar-se em volume significativo. Pode-se espe- rar, provavelmente, o crescimento mais rápido dos investimentos e do nível de emprego a curto prazo, com o costumeiro efeito multiplicador, ainda mais diante do enorme estímulo que se deve ampliar este ano. Mesmo assim, a sustentabilida- de do aumento do dinamismo é questionável, sobretudo dada a herança da virada PÓS-2001. Uma expansão mais rápida não aumentará o custo do crédito numa época em que as famílias, o governo, as empresas e o próprio setor financeiro estão todos imensamente onerados? Não provocará também o inchamento do dé- ficit de transações correntes num momento em que o dólar já está caindo? Pode a economia avançar com a expansão dos setores de serviços e financeiro que aten- dem ao consumo quando os setores fundamentais produtores de bens continuam sobrecarregados pela capacidade ociosa e pela reduzida lucratividade, quando os produtores estrangeiros ocupam parte cada vez maior do mercado norte-ameri- cano de bens, quando a exportação fica ainda mais para trás da importação sem esperanças de fechar a lacuna com o câmbio atual e quando os Estados Unidos dependem da generosidade dos governos do leste da Ásia para honrar suas obriga- ções internacionais? A economia dos Estados Unidos está em território desconhe- cido. Sua capacidade de encontrar o caminho continua uma incógnita.
UMA NOTA SOBRE AS FONTES
(1) Despesas pessoais de consumo, investimento não-residencial (estruturas, equi- pamento, software), exportação e importação de bens e serviços, despesas de consumo do governo, renda pessoal, renda pessoal disponível, total salarial, contribuições para o crescimento do PIB: National Income and Product Accounts (NIPA), website do Bureau of Economic Analysis (BEA).
(2) Valor bruto agregado, remuneração, autônomos, por setor: US Gross Product Originating by Industry (GPO), website do BEA.
(3) Capital social líquido, depreciação, investimento (corrente e constante) por se- tor: Fixed Asset Tables, website do BEA.
(4) Lucro das empresas: Quadros 1.6 e 6.16 do NIPA, website do BEA.
(5) Emprego e salário (nominal), por setor: Emprego e remuneração nacional, Dados históricos do Quadro B, website do Bureau of Labour Statistics (BLS).
(6) Crédito e dívida em aberto do governo, das famílias, das empresas não-financei- ras: Fluxo de Fundos, website do Federal Reserve Board (FRB).
(7) Compra e venda e posse de ativos de empresas não-financeiras, famílias, resto do mundo: Fluxo de Fundos, website do FRB.
(8) Capital social líquido empresarial não-financeiro (corrente): Fluxo de Fundos, Quadro B102, website do FRB.
(9) Produção industrial e utilização da capacidade instalada: Quadro G17, web- site do FRB.
(10) Empresas não-financeiras, industriais, não-agrícolas, valor agregado total da economia (nominal e real), produção por hora, remuneração total, remuneração por hora (nominal e real), horas trabalhadas: Índices Analíticos do Setor para empre- sas não-financeiras industriais e comerciais, economia total, Bureau of Labour Statistics (cópias impressas disponíveis no BLS).
(11) Juros, preço de ativos, índice preço-redimento: Relatório Econômico do Presidente, Washington, DC, 2003.
(12) Exportação, importação e balança comercial industrial: Quadro 3, Dados Agregados do Comércio Exterior dos Estados Unidos, website da International Trade Administration (ITA).
(13) Deflator dos preços ao consumidor (CPI-U-RS): Índices de Preço ao Consumidor, website do BLS.
Notas:
1 Gostaria de agradecer a Aaron Brenner e Tom Mertes por me ajudarem com o conteúdo e o estilo. Também sou grato a Andrew Glyn pelos dados sobre estoques na Alemanha e no Japão e a Dean Baker pelos conselhos utilíssimos sobre fontes de dados.
2 O National Bureau of Economic Research declarou que a recessão começou em fevereiro de 2001 e terminou em novembro de 2001. Neste texto, só uso a palavra “recessão” no sentido formal do NBER. Fora disso, falo, em geral, de desaceleração para me referir ao retardamento econômico, provocado pelos acontecimentos da segunda metade de 2000, que continuou até pelo menos meados de 2003.
3 Nesse aspecto é típico o texto de Joseph Stiglitz, “The roaring nineties”, The Atlantic Monthly, outubro de 2002. Apesar de seu papel, que ele mesmo descreve como crítico da economia da bolha, esse eco- nomista muito admirado e ganhador do Prêmio Nobel mostra-se, de fato, um exemplo da máquina publicitária de Wall Street quando se recusa a ser guiado por meros números. Como presidente do Council of Economic Advisers, deveria estar em condições de obter dados básicos do governo sobre a economia. Mas afirma, de modo absurdo, que “o ápice do boom da década de 1990” foi “um período de crescimento sem precedentes”, com “níveis de produtividade que excederam até mesmo a expansão que se seguiu à Segunda Guerra Mundial”. Na verdade, considerando quaisquer padrões de variáveis econômicas, o desempenho econômico na meia década entre 1995 e 2000 foi mais fraco que em todo o quarto de século de 1948 a 1973. A taxa média anual de crescimento da produtividade da mão-de-obra na economia comercial não-agrícola em 1995-2000, de 2,5%, ficou bem abaixo dos 2,9% do período 1948-73. “Multifactor productivity trends, 2001”, BLS News, 8 de abril de 2003, p. 6, Tabela B (disponível no website da BLS). Ver também The boom and the bubble (Londres, 2002), p. 221, Tabela 9.1.
4 Ver The boom and the bubble, cit., p. 47, Tabela 1.10.
5 A confiança deliberada de Greenspan no efeito-riqueza do mercado de ações pode ser consta- tada em suas declarações públicas do período, principalmente em seus depoimentos ao Comitê Econômico conjunto do Congresso em junho e julho de 1998.
6 Os 20 % das famílias de renda mais alta foram inteiramente responsáveis pela queda da taxa de poupança familiar durante a década de 1990. Ver Dean Maki e Michael Palumbo, “Disentangling the wealth effect: a cohort analysis of household saving in the 1990s”, Federal Reserve Finance and Discussion Series, abril de 2001 (website do Federal Reserve).
7 Partes do setor empresarial não-industrial e não-financeiro também sofreram problemas in- tensos de lucratividade, como telecomunicações, serviços prestados a empresas e transporte aé- reo; mas suas perdas foram compensadas pelos ganhos de outros ramos.
8 Esses números são da produção bruta, sem valor agregado (PIB). Portanto, são estimativas. Os números definitivos com valor agregado só serão disponibilizados pelo Bureau of Economic Analysis no fim deste ano.
9 Isso pressupõe que a queda do investimento industrial foi, pelo menos, igualmente grande na economia privada como um todo. Ainda não estão disponíveis os valores dos investimentos industriais de 2002 e 2003.
10 Tim Bennett et al., “Global news, valuations and forecasts”, e Heidi Wood, Miles Walton e Aayush Sonthalia, “Defense budget apt to remain on track”, Morgan Stanley Equity Research Aerospace and Defense, 12/11/2002 e 16/12/2002. Gostaria de agradecer a Aayush Sonthalia por disponibilizá-los.
11 No segundo trimestre de 2003, o aumento das despesas com a Guerra do Iraque elevou signi- ficativamente a taxa de crescimento do PIB (que vinha se arrastando), mas parece duvidoso que isso seja sustentável.
12 Paul Wonnacott, “Behind China’s export boom, heated battle among factories”, Wall Street Journal, 13/11/2003.
13 O espaço impede que examinemos o setor hoteleiro (muito menor), que seguiu trajetória parecida com a do comércio varejista, com um aumento no nível de emprego de mais de 20% e uma elevação da taxa de lucro de 50% entre 1992 e 2001. Um caso diferente, também impelido pelo consumo e que exige bem mais estudo, é o vasto setor de serviços de saúde, que registrou saltos enormes do lucro das empresas – de US$ 4,9 bilhões em 1989 para US$ 15,4 bilhões em 1994, US$ 17,3 bilhões em 1999 e US$ 24,8 bilhões em 2001, sem mencionar a expansão de quase 50% do nível de emprego.
14 Joseph Stiglitz, The roaring nineties (Londres, 2003), p. 43.
15 Steve Galbraith, “Trying to draw a pound of flesh without a drop of blood”, Morgan Stanley US and the Americas Investment Research, 8 de setembro de 2003; Steve Galbraith, “Fading fog”,
Morgan Stanley US and the Americas Investment Research, 21 de setembro de 2003. Os dados da Morgan Stanley são para as empresas do índice S&P 500.
Os dados adequados do governo sobre os lucros do setor financeiro depois de 2001 ainda não estão disponíveis.
16 Este parágrafo e o anterior baseiam-se em Dean Baker e Simone Baribeau, “Homeownership in a bubble: the fast path to poverty?”, 13 de agosto de 2003, disponível no website do Center for Economic Policy Research. Ver especialmente a Figura 1, “The real cost of owning and renting” [O custo real de possuir e alugar].
17 A série temporal do refinanciamento das hipotecas e das diferenças embolsadas foi elaborada por Mark Zandi, economista-chefe do site Economy.com, a quem quero agradecer pela generosi- dade de deixar seus dados à minha disposição.
18 Mark Zandi, “Housing’s virtuous cycle”, Regional Financial Review, agosto de 2003, p. 13.
18 Mark Zandi, “Housing’s virtuous cycle”, Regional Financial Review, agosto de 2003, p. 13.
19 Esses resultados baseiam-se em simulações que usam o modelo macroeconômico de Economy. com. Ver Zandi, “Housing’s virtuous cycle”, cit., p. 14 e nota 3, principalmente o gráfico 3; ver também Homeownership Alliance, “The economic contribution of the mortgage refinancing boom”, dezembro de 2002, p. 1-5; e Homeownership Alliance, “Mortgage refinancing accounts for 20 percent of real economic growth since 2001”, informações à imprensa, 17 de dezembro de 2002 (ambos disponíveis em www.homeownershipalliance.com).
20 James Cooper e Kathleen Madigan, “The skittish bond market won’t shake housing – For
now”, Business Week, 14/7/2003.
now”, Business Week, 14/7/2003.
21 “The home mortgage market”: discurso de Alan Greenspan, 4/3/2003, website do FRB.
22 Ver The boom and the bubble, cit., p. 208-9, e Tabela 8.1.
23 Gertrude Chavez, “Weak capital influx seen choking dollar rally”, Reuters Online, 14/7/2003. Obrigado a Doug Henwood e à lista LBO por esta referência.
24 David Hale, “The Manchurian candidate”, Financial Times, 29/8/2003; Christopher Swarm, “Weak renminbi is both boon and bane for the US”, Financial Times, 26-27/7/2003; Jennifer Hughes, “Asia’s currency manipulation comes under scrutiny”, Financial Times, 24/11/2003.
25 “Praticamente todo o novo consumo durante o [terceiro] trimestre foi financiado pela resti- tuição tributária, pelo refinanciamento de hipotecas ou por empréstimos” (Peter Gosselin, “US economy expands at its fastest pace since 1984”, Los Angeles Times, 31/10/2003). O fato de as des- pesas pessoais do consumidor caírem em setembro parece indicar que as famílias já gastaram a maior parte de suas devoluções. Em meados de novembro, a Wal-Mart deu um alerta sobre a força da recuperação dos gastos do consumidor norte-americano, dizendo que seus fregueses continuavam cautelosos, preferiam as mercadorias mais baratas e tinham pouco dinheiro para gastar (Neil Buckley, “Wal-Mart warns of cautious shoppers”, Financial Times, 14/11/2003).
26 Um grande ponto de interrogação sobre o aumento mensurado do lucro é o grau em que leva em conta o comprometimento das empresas com as aposentadorias. No final de 2002, segundo Susan Schmidt Bies, diretora do Fed, 90% dos planos de benefícios definidos das empresas do índice S&P 500 estavam subfinanciados em espantosos US$ 200 bilhões; ver James Cooper e Kathleen Madigan, “A jobs recovery, yes. A hiring boom, no”, Business Week, 20/10/2002.
27 “Business turns on the tap”, Business Week, 17/11/2003. Em resposta a essa explicação ba- seada no bom senso, argumenta-se que os ganhos de produtividade foram até então reprimidos pela incapacidade de utilizar adequadamente o equipamento avançado; mas agora o “aprender fazendo” começou a dar frutos e é possível esperar ganhos constantes que não poderiam ser ga- rantidos apenas com a aplicação de grandes volumes de capital novo (Robert Gordon, “America wins the prize with a supermarket sweep”, Financial Times, 20/8/2003). Mas parece difícil acre- ditar nisso. Seria de esperar que o aprender fazendo acontecesse aos poucos e continuamente. Por que avanços desse tipo foram retardados durante quase uma década e depois ocorreram de repente e em grandes saltos? Como essa melhora tecnológica descontínua envolveu parte suficiente da economia para produzir ganhos tão imensos e instantâneos do aumento geral de produtividade?
27 “Business turns on the tap”, Business Week, 17/11/2003. Em resposta a essa explicação ba- seada no bom senso, argumenta-se que os ganhos de produtividade foram até então reprimidos pela incapacidade de utilizar adequadamente o equipamento avançado; mas agora o “aprender fazendo” começou a dar frutos e é possível esperar ganhos constantes que não poderiam ser ga- rantidos apenas com a aplicação de grandes volumes de capital novo (Robert Gordon, “America wins the prize with a supermarket sweep”, Financial Times, 20/8/2003). Mas parece difícil acre- ditar nisso. Seria de esperar que o aprender fazendo acontecesse aos poucos e continuamente. Por que avanços desse tipo foram retardados durante quase uma década e depois ocorreram de repente e em grandes saltos? Como essa melhora tecnológica descontínua envolveu parte suficiente da economia para produzir ganhos tão imensos e instantâneos do aumento geral de produtividade?
28 David Leonhardt, “Slowing stream of new jobs helps to explain slump”, New York Times, 1/10/2003. Infelizmente, os dados sobre o aumento bruto do nível de emprego e a eliminação bruta de vagas, em contraposição à criação líquida de empregos, só estão disponíveis para o período mais recente.
29 Erica Groshen e Simon Potter, “Has structural change contributed to a jobless recovery?”, em Federal Reserve Bank de Nova York, Current Issues in Economics and Finance, v. 9, n. 8, agosto de 2003.
30 Scott Morrison, “750,000 US high-tech jobs lost in two years”, Financial Times, 19/11/2003. Os dados sobre o número de empregados nos setores de alta tecnologia no final de 2000 não estavam disponíveis.
31 Steve Galbraith e Mary Viviano, “The missing piece”, Morgan Stanley US and the Americas32 Chavez, “Weak capital influx seen choking dolar rally”; Alan Beattie, “Greenback’s fall may
32 Chavez, “Weak capital influx seen choking dolar rally”; Alan Beattie, “Greenback’s fall may prove mixed blessing at home and abroad”, Financial Times, 8/10/2003.
33 Carolyn Baum, “Bush gets double ‘D’ in handling China bra flap”, Bloomberg.com, 20/11/2003; “Currency wars”, Financial Times, 8/7/2003.
34 Jenny Wiggins, “Asian investors may drop treasury bonds”, Financial Times, 8/7/2003; Daniel Bogler, “Asia backs out of the greenback”, Financial Times, 23/11/2003 (obrigado a Nick Beams por esta referência).

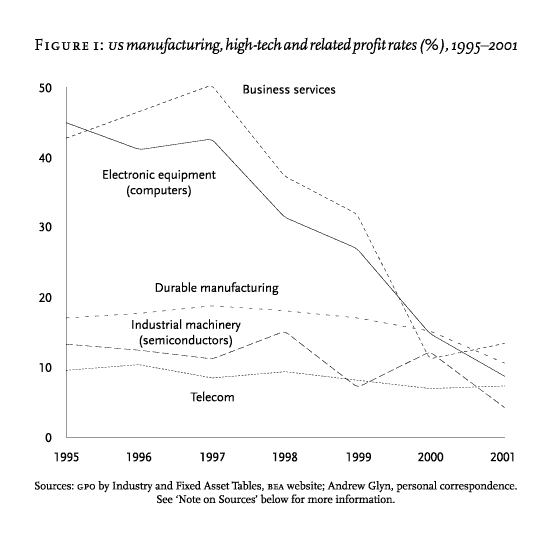
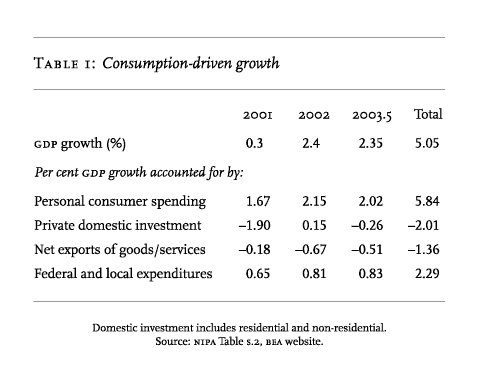
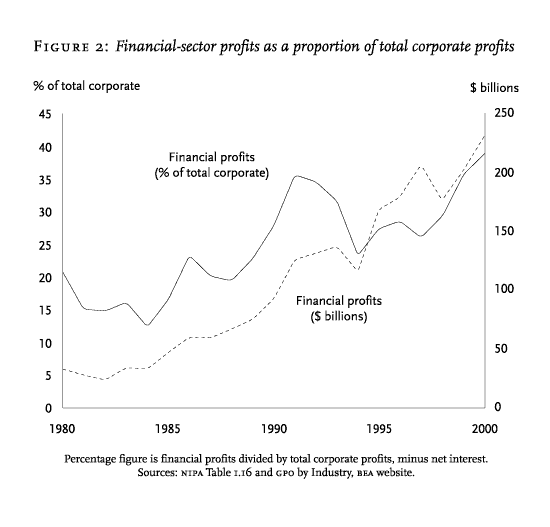
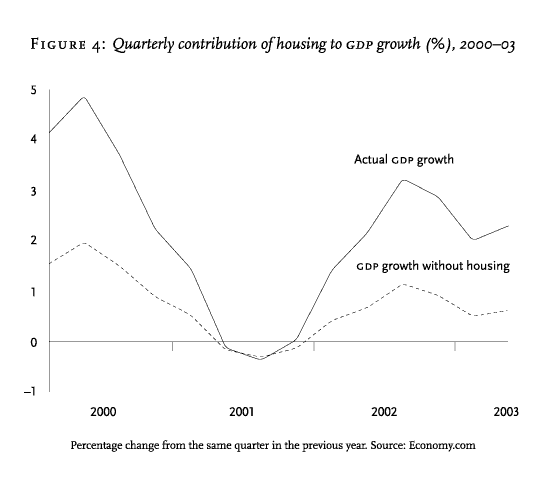
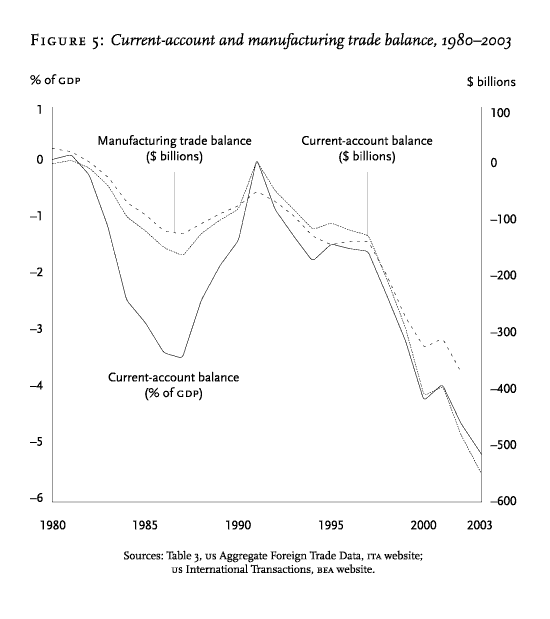




Nenhum comentário:
Postar um comentário