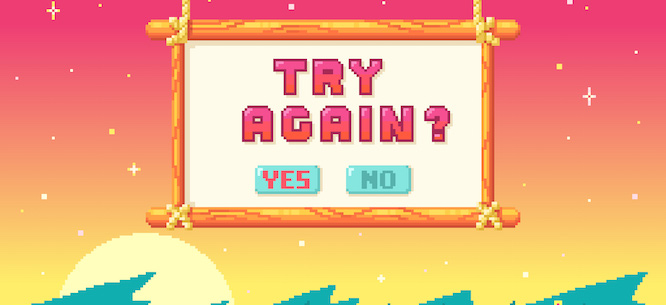 |
| (Guido Mieth via Getty Images) |
Tradução / Quando eu tinha sete anos, Matt, meu melhor amigo, e eu decidimos criar um videogame. Desenhamos fases elaboradas e cenários sobrenaturais cheios de seres alienígenas, criamos complexos desafios de salto e recortamos bonitos avatares de papelão para lidar com eles. Passamos semanas planejando o jogo e imaginando cenários traiçoeiros, poderes sobre-humanos e desafios a desbloquear e superar. Anotamos números e símbolos, registramos estatísticas nebulosas e condições de vitória. Foi emocionante. O mundo dos jogos e os poderes que tínhamos nele pareciam quase ilimitados, restritos apenas por nossa imaginação, nossa caligrafia infantil e a tinta de nossas canetinhas.
Depois de um mês, Matt me disse muito sério: “Tudo bem, agora como podemos transformá-lo em um jogo de verdade?” Sua pergunta me confundiu e magoou. Eu achava que já estávamos jogando. Em algum momento, soube que não tínhamos a capacidade de criar um videogame “real”. Estávamos fingindo, mesmo que não pareça a palavra certa para descrever o nível de criatividade que alcançamos. A alegria estava em nossos voos de fantasia, em criar regras que quebrávamos em segundos, no jogo interminável de limite e resolução. O jogo consistia em imaginar o jogo. Mas Matt não tinha visto dessa forma. Ele gostava, mas acreditava que acabaríamos transformando nossos recortes de papel em um jogo digital funcional, e que o que tínhamos feito até então era apenas preparatório, o prelúdio de outra coisa, algo real e com regras. Quando eu disse: “Matt, não podemos fazer isso, somos apenas crianças”, ele ficou desapontado. “Isso é uma mentira”, acrescentei, sabendo que o magoaria também. Foi o fim do nosso jogo.
O crítico Michael Thomsen compara os videogames às orações: “Eles têm mais oportunidades de se materializar quanto menos específicos são”. Essa dinâmica atinge sua forma mais extrema no que os jornalistas da área de games chamam de “ciclo de hype”. Um novo jogo é anunciado anos antes da data de lançamento estimada, geralmente com um trailer que não contém imagens do jogo real (às vezes é apenas uma tela de título com música de fundo, como foi o caso com o novo God of War, agendado para este ano). É o próprio jogador que se dá ao trabalho de imaginar o jogo, e as seções de comentários do YouTube estão cheias de especulações sobre como poderia ser: a história, o cenário, a mecânica. Essas fantasias são fomentadas por desenvolvedores, que vazam pequenos dados tentadores para anunciantes, jornalistas e streamers do Twitch.
O ciclo de hype funciona porque os jogadores se divertem. Imaginar o jogo perfeito dá a eles um prazer diferente do prazer de jogar. Como escreve Thomsen, “Pensar em jogos enquanto eles ainda estão intocados e não contaminados pela experiência de jogo real pode ser revelador, inspirando desejos futuros que estão prestes a se tornar realidade.” Para Thomsen, os videogames “prometem diferentes formas de realização de desejos” mas, mais importante, “oferecem a garantia de que desejar ainda vale a pena, de que algum mecanismo o está esperando para receber seus desejos e responder a eles, de forma minimamente consistente”.
O que devemos pensar então daqueles que projetam e desenvolvem videogames? Eles são deuses benevolentes que ouvem nossas orações, inventam mundos e nos dão as boas-vindas para habitá-los? Ou são indiferentes? É inevitável que eles nos desapontem? Afinal, os designers enfrentam uma tarefa difícil: transformar nossos desejos em realidades funcionais e lucrativas. No final do ciclo de hype, geralmente há apenas uma mercadoria, um mundo cheio de tarefas rotineiras entediantes e mecânicas pouco originais, que empalidecem em comparação com o sonho (uma decepção que às vezes leva a ressentimentos e reações negativas).
Em seu novo livro Press Reset: Ruin and Recovery in the Video Game Industry, [Aperte “reiniciar”: Ruina e recuperação na indústria do videojuego] Jason Schreier, jornalista da Bloomberg News e coautor do popular podcast de videogame Triple Click, apresenta uma verdade muito mais prosaica: os desenvolvedores de videogames não são deuses. Eles são pessoas, trabalhadores, sonhadores como Matt e eu, navegando no doloroso abismo entre seus desejos e suas obrigações, entre o trabalho e o lazer.
O primeiro livro de Schreier, Blood, Sweat, and Pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made [Sangue, suor e píxels. As historias exitosas e turbulentas por trás da produção de videojogos], aborda os desafios técnicos que acompanham o desenvolvimento de videogames. Já Press Reset concentra-se mais no custo humano. Seus personagens são designers, programadores e escritores que trabalham para grandes estúdios que produzem alguns dos títulos favoritos das últimas décadas (e assim contribuem para a receita anual dessa indústria de aproximadamente 150 bilhões de dólares): o jogo da sobrevivência e do terror interplanetário Dead Space, o surpreendentemente inovador crossover Disney – Nintendo Epic Mickey e o jogo de tiro subaquático de ficção científica BioShock, famoso por ser ambientado em uma batisfera distópica, projetada por um fã de Ayn Rand. Algumas seções são dedicadas à experiência de autores renomados, mas o livro segue principalmente os trabalhadores comuns da indústria, responsáveis por aspectos menores, mas essenciais dos jogos que amamos.
O que une essas pessoas, de acordo com Schreier, é uma profunda paixão pelas recompensas criativas que o desenvolvimento de videogames traz e também uma profunda incerteza sobre suas condições de trabalho. Embora muitos empregos no setor sejam bem remunerados e permitam aos trabalhadores sobreviverem em algumas das cidades mais caras do mundo, a experiência também é pontuada por períodos de extrema sobrecarga de trabalho e uma taxa de rotatividade muito alta. Durante uma fase eufemisticamente conhecida como “reta final”, que geralmente ocorre pouco antes do lançamento do jogo, é muito comum trabalhar 100 horas semanais. De acordo com Schreier, “em troca do prazer de criar arte para viver, os desenvolvedores precisam aceitar que tudo pode desmoronar sem aviso” (os mineiros etíopes escavando materiais raros para a fabricação de placas-mãe, os operários que montam PlayStations na China e até mesmo os trabalhadores que vendem consoles no Walmart por um salário mínimo recebem remunerações ainda menos tentadoras, mas isso é assunto de outro livro.)
Schreier analisa o que acontece quando os estúdios de videogame fecham, o que parece acontecer com uma frequência surpreendente. “Converse com qualquer pessoa que trabalhou no setor por mais de dois anos, e ela com certeza terá uma história sobre a vez em que perdeu o emprego.” Em um capítulo particularmente bem narrado, ficamos sabendo da existência da 38 Studios, uma empresa de videogame condenada ao fracasso fundada pelo ex-lançador do Red Sox (e apoiador de Donald Trump) Curt Schilling, que faliu após receber uma garantia de empréstimo de US$ 75 milhões do estado de Rhode Island. Quando o estúdio encerrou suas atividades abruptamente, os funcionários não receberam seu último salário e tampouco suas indenizações, e aqueles que tiveram que se mudar para trabalhar para o estúdio tiveram que pagar milhares de dólares para as empresas de mudanças que Schilling havia enganado.
Mas a 38 Studios não é um caso isolado. Como um veterano do setor comentou com Schreier: “Com todas as dispensas com as quais tive de lidar, toda vez que recebo um e-mail convocando uma reunião de todos os funcionários do escritório, sofro de uma espécie de síndrome de estresse pós-traumático. Tenho certeza que é algo comum entre outros desenvolvedores”. Na verdade, o fechamento de estúdios é tão frequente no Press Reset que as histórias e personagens individuais do livro começam a correr juntos. Vários capítulos descrevem diferentes versões do mesmo processo: os funcionários largam tudo para terminar um jogo. O jogo é lançado. Todo mundo comemora. Logo depois, há uma reunião sinistra, todos são despedidos. Os desolados trabalhadores bebem uma cerveja funeral em um bar próximo antes de ir para casa para atualizar seus currículos. Alguns decidem se tornar “independentes” e criar jogos menos ambiciosos sobre os quais possam exercer maior controle criativo, enquanto outros abandonam completamente o setor. Apesar de serem indispensáveis em todos os estágios do processo de desenvolvimento do jogo, os trabalhadores são tratados como peças descartáveis de uma máquina com fins lucrativos. “A volatilidade”, escreve Schreier, “tornou-se o status quo.”
Schreier não analisa com profundidade as características estruturais que levam à instabilidade (para uma descrição mais clara dos processos de trabalho e produção da indústria de videogames, ver o livro de Jamie Woodcock, Marx at the Arcade, de 2019). A desculpa dos grandes empresários é que o setor opera em um ciclo de expansão e contração, condicionado ao lançamento de novos hardwares. Investir em videogames seria, para eles, uma atividade de alto risco e alta recompensa. Alguns jogos que são muito caros para desenvolver falham, enquanto outros geram bilhões de dólares em receitas. Além disso, grandes produtoras estão constantemente comprando e vendendo pequenos estúdios (geralmente após essas falhas, mas nem sempre), resultando em demissões e mudanças.
No entanto, algumas das fontes de Schreier oferecem uma explicação mais clara: os chefes têm muito poder e não dão a mínima para o que acontece com seus funcionários. Zach Mumbach, que trabalhou para a Electronic Arts por muitos anos, observou que, enquanto ele e seus colegas trabalhavam por tarefa, jogo após jogo, os executivos iam para casa todos os dias às cinco da tarde. “Estou cansado de trabalhar 80 horas por semana para que pessoas como [o ex-executivo da Electronic Arts] Patrick Söderlund possam comprar um carro novo”, disse Mumbach a Schreier. “Parece que esses caras estão jogando. Eles brincam com orçamentos, com receitas e com despesas. Eles demitem funcionários apenas para recontratá-los porque, assim, obtêm números melhores em um trimestre ou outro”. Sem uma voz organizada no setor (quase ninguém pertence a nenhum sindicato, com exceção de alguns dubladores filiados ao Sindicato dos Atores de Cinema), as prioridades dos trabalhadores não importam.
Como em outras indústrias criativas, chefes e gerentes exploram a paixão de seus funcionários para silenciar a dissidência e forçar a aceitação de condições injustas. Schreier descreve um “sentimento subjacente de que os trabalhadores deveriam se sentir com sorte” por estar onde estão. “Muitos no setor de videogames acreditam que trabalhar nele é um privilégio e que você deve estar disposto a fazer o que for necessário para permanecer lá”, disse Emily Grace Buck, uma ex-funcionária da Telltale Games, em uma entrevista de 2019 na revista Time. Os trabalhadores são encorajados a pensar em seus empregos como a realização de suas fantasias de infância. Eles são pagos para criar mundos de sonho e realizar desejos. Isso não seria o suficiente?
Como Sarah Jaffe observa em seu novo livro Work Won’t Love You Back [O trabalho não vai te amar de volta], essa dinâmica é um mecanismo disciplinar essencial do mercado de trabalho moderno. Em vez de conceder aos trabalhadores o desejo de estabilidade e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, os estúdios de videogame, como outras empresas de tecnologia, oferecem serviços que buscam eliminar a divisão entre trabalho e lazer: comida de graça e camas no escritório durante as “retas finais”. Mesas de pingue-pongue e pebolim e dias de trabalho inteiramente dedicados a jogar os últimos títulos de seus concorrentes. Um estúdio resume essa abordagem em seu site: “A diversão está no cerne do que fazemos. Sabemos que se quisermos desenvolver jogos divertidos, devemos nos divertir desenvolvendo jogos”.
Apesar de simpatizar com seus colegas e se solidarizar com os infortúnios deles, Schreier reafirma de certa forma a noção de que os designers de videogames dedicam-se a produzir “diversão”. “Os videogames”, escreve ele, “são projetados para trazer alegria às pessoas, mas são criados à sombra da crueldade corporativa” (como se isso fosse uma contradição). A ideia de que ambientes de trabalho “divertidos” geram produtos “divertidos” pode ser marketing, mas contém uma verdade oculta: os videogames, como qualquer produto criativo, refletem as condições em que foram produzidos e muitas vezes são funcionais às necessidades ideológicas e reprodutivas de seu tempo e espaço.
É por isso que a essência dos videogames mais populares de hoje não é “divertida”. O que mais se parecem, ou com o que parecem sonhar, é o trabalho do século XXI.
“A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio”, afirmaram Theodor Adorno e Max Horkheimer em 1944. A Escola de Frankfurt acreditava que a mecanização do trabalho havia se tornado tão entrelaçada com o “tempo livre e felicidade” do ser humano e havia determinado tanto a “fabricação de produtos para diversão” que o entretenimento passou a ser “nada mais que a cópia ou reprodução do mesmo processo de trabalho”. Nessa linha, o especialista em teoria dos jogos Steven Poole observou em 2008 que os videogames modernos “parecem aspirar a uma mimese do processo de trabalho mecanizado”. Aprendemos (ou somos disciplinados) pelas regras do jogo e recebemos um feedback positivo por segui-las com eficácia. “Você não joga o jogo”, escreve Poole, muito menos o “vence”, mas sim “executa as operações que ele exige, como um empregado obediente. O jogo é uma tarefa do trabalho”.
Jogos individuais com toneladas de armas para atualizar, habilidades para adquirir e moedas para gastar são talvez o arquétipo desse fenômeno, mas quase todos os jogos contemporâneos contêm algum elemento mimético de trabalho e troca de mercado. Eles não oferecem fantasias de fuga, de jogo imaginativo por si mesmo; eles oferecem uma fantasia de regras (uma lógica ausente do processo de trabalho assalariado contemporâneo). Vicky Osterweil descreveu esse tipo de jogo como um “simulador de trabalho utópico”, distribuindo recompensas em intervalos previsíveis em troca de esforço disciplinado. Essas recompensas podem tornar o jogo mais fácil, nos permitem comprar decorações, mostrar nossas conquistas a outros e progredir em uma trajetória lógica e satisfatória em direção a uma meta alcançável. Os jogos ainda são uma forma de diversão, mas não nos tiram do nosso trabalho. Eles apenas eliminam a nossa decepção com a sua volatilidade, com a sua arbitrariedade, com a sua crueldade e injustiça.
Em sua forma mais nítida, escreve a jornalista Cecilia D’Anastasio, os trabalhadores usam videogames “para representar os fantasmas de seu trabalho diário”. Um motorista de caminhão de longa distância passa sua semana de folga jogando American Truck Simulator. Chefs deixam suas cozinhas à meia-noite para jogar Cook, Serve, Delicious antes de dormir. No mundo do jogo, ao contrário do nosso, escreve D’Anastasio, “a produtividade é quantificável e discernível.” Os jogos compensam a falta de controle, de feedback confiável, de objetivos claros e de recompensas justas em nossa vida profissional. Desse modo, os jogos continuam sendo uma forma de realização de desejos nos quais as ficções ideológicas do capitalismo se materializam. É um sonho insignificante que nos reconcilia com mentiras que, do contrário, seríamos forçados a engolir.
O fato de muitos dos jogos mais populares serem simuladores de assassinato muito realistas também é digno de nota. “É bem possível”, como Tom Bissell escreveu em seu ensaio clássico sobre o gênero jogo de tiro em primeira pessoa (FPS), “que jogos como Call of Duty revelem que, em algum lugar íntimo, cada pessoa esconde um ser que mata e faz o que quer”. Esses jogos que recriam o combate marcial e recompensam os jogadores por eliminar efetivamente os inimigos humanoides são claramente sintomáticos de uma ideologia: uma sublimação da agressão reprimida e das fantasias imperiais. Mas os filmes de ação também. O que os jogos de tiro fazem, talvez de forma mais eficaz do que qualquer outro tipo de jogo, é transformar um quebra-cabeça cognitivo altamente repetitivo (localizar um pequeno ponto no espaço tridimensional e pressionar um botão para fazê-lo sangrar) em um passatempo infinitamente agradável e até viciante.
Ao mobilizar vários humores e sentimentos, incluindo fantasias de domínio patriarcal e competição, os jogos violentos conseguem “estruturar a repetição, o aprendizado e o tédio que se deve dominar e tolerar para experimentar as condições econômicas atuais como prazerosas”, escreve Osterweil. Por sua vez, locais de trabalho como a Amazon incorporam elementos de jogo (placares públicos, recompensas nominais por trabalho de expedição e até mesmo minijogos no estilo Arcade que são desbloqueados completando tarefas do armazém) para acostumar os funcionários a horas e horas de trabalho (física e mentalmente) monótono. Assim como a habilidade do jogador FPS é expressa em sua razão “assassinato/mortes”, o valor de um trabalhador da Amazon é expresso por sua “taxa de coleta”, medidas homólogas de eficiência cognitiva e cinética.
Assim, a violência em videogames não funciona principalmente como um libertador de comportamento antissocial, muito menos como uma perigosa porta de entrada para a crueldade do mundo real, mas como um véu agradável para um disciplinamento socialmente útil. A violência digital esconde e compensa a violência mais mundana da vida cotidiana: a de ser condicionado a um processo de trabalho. O fato de tal mecanismo manter um toque de transgressão misantrópica (inerente ao estereótipo do gamer “perigoso”, “desajustado” e “reacionário”) é um indício de sua sofisticação ideológica. Na realidade, nada pode ser mais normativo, mais complacente e pró-social do que comprar e jogar um jogo de tiro em primeira pessoa. De uma forma ou de outra, todos respondemos ao “chamado do dever” (Call of Duty).
Embora todos os jogos sejam ideológicos, nem todos são prejudiciais. Alguns, como o Universal Paperclips, o simulador da “tese da ortogonalidade” de Frank Lantz, revelam e criticam as poucas fantasias que os constituem. Outros, como Disco Elysium (uma fantasmagoria neo-noir aleatória) de 2019, superam as maiores esperanças da literatura ergódica . É tentador atribuir à motivação do lucro a grande distância entre esses títulos e os publicados pelos grandes estúdios. Como escreve Schreier, “A indústria de videogames, como todos os empreendimentos artísticos, é baseada na tensão entre duas facções: pessoas criativas e administradores de dinheiro.” O conflito entre desenvolvedores que tentam criar uma obra de arte e editores que procuram lucrar é tão antigo quanto os próprios videogames. A maioria dos personagens de Press Reset deseja criar jogos mais interessantes do que aqueles financiados por estúdios como a Electronic Arts. Quando eles saem dos grandes estúdios, se conseguem levantar dinheiro, geralmente o fazem.
Uma hipótese menos reconfortante é que os estúdios produzem “simuladores de trabalho utópicos” porque atendem aos nossos desejos e às necessidades da economia. Concordo com Osterweil que os videogames são “fundamentalmente uma tecnologia reprodutiva”. Eles contribuem para “criar, sustentar, organizar e treinar trabalhadores e sujeitos de uma forma que os ajude a funcionar em uma sociedade e economia fundamentalmente insalubres”. As técnicas e gramáticas de design de jogos evoluíram com os avanços na automação, globalização, produção e logística just-in-time, na economia de cuidados e no trabalho precário de meio período. Nesse contexto, voltando a Adorno e Horkheimer, o videogame “move-se rigorosamente nos sulcos desgastados da associação” esculpidos por nossa relação com essas formas de trabalho. Os jogos, como todos os produtos de entretenimento, fazem de nós os sujeitos exigidos pelo capital atual.
Que tipo de sujeitos são esses? Em seu livro Bullshit Jobs, o antropólogo David Graeber observou que, se “o jogo imaginário é a mais pura expressão da liberdade humana”, como nos quer fazer acreditar o especialista em teoria evolutiva Karl Groos (de acordo com Schiller), então “o trabalho imaginário, imposto por outros, é a mais pura expressão da falta de liberdade”. Este último, escreve Graeber, “é o mais puro exercício de poder pelo poder”. Em outras palavras, as apostas não poderiam ser maiores. Se os videogames são um jogo, eles são a expressão de nossas mais altas capacidades como seres humanos: nosso amor pela liberdade, imaginação e capricho criativo. Mas, quando são um trabalho (como me parecem nos momentos em que o prazer não consegue dissimular a repetição), nosso afeto por eles é algo verdadeiramente sombrio, sinalizando uma concessão extraordinária às condições modernas de falta de liberdade.
Press Reset é uma contribuição admirável para um crescente corpo de trabalho jornalístico sobre videogames, focado principalmente nas injustiças dessa indústria. Dado que há apenas sete anos o mundo dos videogames se rebelou ao menor esforço para aplicar as lições do feminismo e do antirracismo à indústria e seus produtos, é encorajador que pessoas como Schreier (que, junto com seus ex-colegas do Kotaku, recebeu parte do ódio reacionário do gamergate) continue escrevendo e publicando trabalhos críticos como este.
No último capítulo, Schreier propõe várias soluções para os problemas que identificou. Uma delas é a sindicalização: “Cada nova demissão ou fechamento de um estúdio é a prova de que os trabalhadores da indústria de videogames precisam de mais proteção”, escreve o autor, “e os sindicatos são uma parte essencial e inevitável dessa equação”. No momento em que este livro foi escrito, nenhum dos principais estúdios de videogame dos Estados Unidos tinha sindicato, mas o Game Workers Unite (GWU) está lutando pelos direitos trabalhistas nessa indústria. A divisão britânica da GWU ingressou formalmente no Independent Workers Union of Great Britain em 2019. O Communication Workers Union of America anunciou uma iniciativa para organizar os trabalhadores na indústria de videogames em janeiro de 2020.
Schreier também recomenda padronizar o trabalho remoto, para que os desenvolvedores não tenham que mudar de vida toda vez que um estúdio fecha ou tenham que se mudar para trabalhar. Nesse sentido, ele elogia o modelo de negócios de uma empresa chamada Disbelief, cuja equipe tem empregos garantidos em virtude de vários contratos simultâneos com grandes estúdios. “Acho que o futuro será assim: haverá uma pequena equipe responsável pela visão criativa e todo o resto do trabalho será terceirizado”, diz um dos fundadores da Disbelief. Dada a frequência com que as empresas de videogame terceirizam tarefas tediosas de design e programação para empresas localizadas na Índia e na China, onde os salários são mais baixos, não é difícil imaginar esse futuro, mas não tenho certeza se é a panaceia que Schreier imagina.
Enquanto isso, muitas pessoas que se cansam de trabalhar para grandes estúdios encaminham-se para abrir suas próprias empresas independentes e menores. Elas são tão capazes de explorar seus funcionários quanto seus colegas de alto nível, e ainda mais propensos a falir. Mas quando se trata de um pequeno grupo de coproprietários, as apostas são diferentes. Como um dos co-criadores de Enter the Gungeon, um jogo independente de grande sucesso lançado em 2016, disse a Schreier: “Não me interpretem mal, a reta final foi dura e horrível, mas passar por isso quando você sabe que vai participar dos lucros é uma experiência muito diferente”.
Melhorar as condições de trabalho para desenvolvedores é um objetivo que vale a pena. Espero que se sindicalizem e que mais pessoas possam criar coletivos independentes, se quiserem. Mas, à medida que os jornalistas especializados em videogame se tornem mais críticos do enorme custo humano e da volatilidade da indústria, e fiquem mais preocupados com as conotações políticas tóxicas de alguns jogos, espero ler mais investigações de qualidade.
O mundo da mídia de videogame é povoado (e pago) por pessoas que gostam de videogames, que tendem a não fazer as perguntas mais fundamentais sobre o efeito deles ou as consequências que podem ter sobre nós (os críticos citados acima infelizmente não são representativos da cultura de crítica dos videogames). Obviamente, não é que todos os amantes de games sejam trabalhadores obedientes, nem que todos os jogos sejam rotineiros e sem inspiração. De vez em quando é lançado um título que realmente me encanta e me desafia, como um grande romance ou um grande filme, e o faz com métodos intrínsecos à arte interativa (Disco Elysium foi um deles). Mas não é algo frequente. Costumo passar muito tempo jogando jogos cuja descrição como forma de entretenimento (e ainda mais, como forma de arte) me confunde, mesmo enquanto avanço, fase a fase, nível a nível. Em que tipo de indivíduo esses processos estão me transformando? Que tipo de economia política exige esse indivíduo? Para ser franco, em que mais eu gastaria meu tempo se não fossem esses jogos?
Sei que nossos sonhos não nos tirarão das armadilhas do capitalismo, e inclusive que eles podem nos fazer afundar nelas cada vez mais...
Depois de um mês, Matt me disse muito sério: “Tudo bem, agora como podemos transformá-lo em um jogo de verdade?” Sua pergunta me confundiu e magoou. Eu achava que já estávamos jogando. Em algum momento, soube que não tínhamos a capacidade de criar um videogame “real”. Estávamos fingindo, mesmo que não pareça a palavra certa para descrever o nível de criatividade que alcançamos. A alegria estava em nossos voos de fantasia, em criar regras que quebrávamos em segundos, no jogo interminável de limite e resolução. O jogo consistia em imaginar o jogo. Mas Matt não tinha visto dessa forma. Ele gostava, mas acreditava que acabaríamos transformando nossos recortes de papel em um jogo digital funcional, e que o que tínhamos feito até então era apenas preparatório, o prelúdio de outra coisa, algo real e com regras. Quando eu disse: “Matt, não podemos fazer isso, somos apenas crianças”, ele ficou desapontado. “Isso é uma mentira”, acrescentei, sabendo que o magoaria também. Foi o fim do nosso jogo.
O crítico Michael Thomsen compara os videogames às orações: “Eles têm mais oportunidades de se materializar quanto menos específicos são”. Essa dinâmica atinge sua forma mais extrema no que os jornalistas da área de games chamam de “ciclo de hype”. Um novo jogo é anunciado anos antes da data de lançamento estimada, geralmente com um trailer que não contém imagens do jogo real (às vezes é apenas uma tela de título com música de fundo, como foi o caso com o novo God of War, agendado para este ano). É o próprio jogador que se dá ao trabalho de imaginar o jogo, e as seções de comentários do YouTube estão cheias de especulações sobre como poderia ser: a história, o cenário, a mecânica. Essas fantasias são fomentadas por desenvolvedores, que vazam pequenos dados tentadores para anunciantes, jornalistas e streamers do Twitch.
O ciclo de hype funciona porque os jogadores se divertem. Imaginar o jogo perfeito dá a eles um prazer diferente do prazer de jogar. Como escreve Thomsen, “Pensar em jogos enquanto eles ainda estão intocados e não contaminados pela experiência de jogo real pode ser revelador, inspirando desejos futuros que estão prestes a se tornar realidade.” Para Thomsen, os videogames “prometem diferentes formas de realização de desejos” mas, mais importante, “oferecem a garantia de que desejar ainda vale a pena, de que algum mecanismo o está esperando para receber seus desejos e responder a eles, de forma minimamente consistente”.
O que devemos pensar então daqueles que projetam e desenvolvem videogames? Eles são deuses benevolentes que ouvem nossas orações, inventam mundos e nos dão as boas-vindas para habitá-los? Ou são indiferentes? É inevitável que eles nos desapontem? Afinal, os designers enfrentam uma tarefa difícil: transformar nossos desejos em realidades funcionais e lucrativas. No final do ciclo de hype, geralmente há apenas uma mercadoria, um mundo cheio de tarefas rotineiras entediantes e mecânicas pouco originais, que empalidecem em comparação com o sonho (uma decepção que às vezes leva a ressentimentos e reações negativas).
Em seu novo livro Press Reset: Ruin and Recovery in the Video Game Industry, [Aperte “reiniciar”: Ruina e recuperação na indústria do videojuego] Jason Schreier, jornalista da Bloomberg News e coautor do popular podcast de videogame Triple Click, apresenta uma verdade muito mais prosaica: os desenvolvedores de videogames não são deuses. Eles são pessoas, trabalhadores, sonhadores como Matt e eu, navegando no doloroso abismo entre seus desejos e suas obrigações, entre o trabalho e o lazer.
O primeiro livro de Schreier, Blood, Sweat, and Pixels: The Triumphant, Turbulent Stories Behind How Video Games Are Made [Sangue, suor e píxels. As historias exitosas e turbulentas por trás da produção de videojogos], aborda os desafios técnicos que acompanham o desenvolvimento de videogames. Já Press Reset concentra-se mais no custo humano. Seus personagens são designers, programadores e escritores que trabalham para grandes estúdios que produzem alguns dos títulos favoritos das últimas décadas (e assim contribuem para a receita anual dessa indústria de aproximadamente 150 bilhões de dólares): o jogo da sobrevivência e do terror interplanetário Dead Space, o surpreendentemente inovador crossover Disney – Nintendo Epic Mickey e o jogo de tiro subaquático de ficção científica BioShock, famoso por ser ambientado em uma batisfera distópica, projetada por um fã de Ayn Rand. Algumas seções são dedicadas à experiência de autores renomados, mas o livro segue principalmente os trabalhadores comuns da indústria, responsáveis por aspectos menores, mas essenciais dos jogos que amamos.
O que une essas pessoas, de acordo com Schreier, é uma profunda paixão pelas recompensas criativas que o desenvolvimento de videogames traz e também uma profunda incerteza sobre suas condições de trabalho. Embora muitos empregos no setor sejam bem remunerados e permitam aos trabalhadores sobreviverem em algumas das cidades mais caras do mundo, a experiência também é pontuada por períodos de extrema sobrecarga de trabalho e uma taxa de rotatividade muito alta. Durante uma fase eufemisticamente conhecida como “reta final”, que geralmente ocorre pouco antes do lançamento do jogo, é muito comum trabalhar 100 horas semanais. De acordo com Schreier, “em troca do prazer de criar arte para viver, os desenvolvedores precisam aceitar que tudo pode desmoronar sem aviso” (os mineiros etíopes escavando materiais raros para a fabricação de placas-mãe, os operários que montam PlayStations na China e até mesmo os trabalhadores que vendem consoles no Walmart por um salário mínimo recebem remunerações ainda menos tentadoras, mas isso é assunto de outro livro.)
Schreier analisa o que acontece quando os estúdios de videogame fecham, o que parece acontecer com uma frequência surpreendente. “Converse com qualquer pessoa que trabalhou no setor por mais de dois anos, e ela com certeza terá uma história sobre a vez em que perdeu o emprego.” Em um capítulo particularmente bem narrado, ficamos sabendo da existência da 38 Studios, uma empresa de videogame condenada ao fracasso fundada pelo ex-lançador do Red Sox (e apoiador de Donald Trump) Curt Schilling, que faliu após receber uma garantia de empréstimo de US$ 75 milhões do estado de Rhode Island. Quando o estúdio encerrou suas atividades abruptamente, os funcionários não receberam seu último salário e tampouco suas indenizações, e aqueles que tiveram que se mudar para trabalhar para o estúdio tiveram que pagar milhares de dólares para as empresas de mudanças que Schilling havia enganado.
Mas a 38 Studios não é um caso isolado. Como um veterano do setor comentou com Schreier: “Com todas as dispensas com as quais tive de lidar, toda vez que recebo um e-mail convocando uma reunião de todos os funcionários do escritório, sofro de uma espécie de síndrome de estresse pós-traumático. Tenho certeza que é algo comum entre outros desenvolvedores”. Na verdade, o fechamento de estúdios é tão frequente no Press Reset que as histórias e personagens individuais do livro começam a correr juntos. Vários capítulos descrevem diferentes versões do mesmo processo: os funcionários largam tudo para terminar um jogo. O jogo é lançado. Todo mundo comemora. Logo depois, há uma reunião sinistra, todos são despedidos. Os desolados trabalhadores bebem uma cerveja funeral em um bar próximo antes de ir para casa para atualizar seus currículos. Alguns decidem se tornar “independentes” e criar jogos menos ambiciosos sobre os quais possam exercer maior controle criativo, enquanto outros abandonam completamente o setor. Apesar de serem indispensáveis em todos os estágios do processo de desenvolvimento do jogo, os trabalhadores são tratados como peças descartáveis de uma máquina com fins lucrativos. “A volatilidade”, escreve Schreier, “tornou-se o status quo.”
Schreier não analisa com profundidade as características estruturais que levam à instabilidade (para uma descrição mais clara dos processos de trabalho e produção da indústria de videogames, ver o livro de Jamie Woodcock, Marx at the Arcade, de 2019). A desculpa dos grandes empresários é que o setor opera em um ciclo de expansão e contração, condicionado ao lançamento de novos hardwares. Investir em videogames seria, para eles, uma atividade de alto risco e alta recompensa. Alguns jogos que são muito caros para desenvolver falham, enquanto outros geram bilhões de dólares em receitas. Além disso, grandes produtoras estão constantemente comprando e vendendo pequenos estúdios (geralmente após essas falhas, mas nem sempre), resultando em demissões e mudanças.
No entanto, algumas das fontes de Schreier oferecem uma explicação mais clara: os chefes têm muito poder e não dão a mínima para o que acontece com seus funcionários. Zach Mumbach, que trabalhou para a Electronic Arts por muitos anos, observou que, enquanto ele e seus colegas trabalhavam por tarefa, jogo após jogo, os executivos iam para casa todos os dias às cinco da tarde. “Estou cansado de trabalhar 80 horas por semana para que pessoas como [o ex-executivo da Electronic Arts] Patrick Söderlund possam comprar um carro novo”, disse Mumbach a Schreier. “Parece que esses caras estão jogando. Eles brincam com orçamentos, com receitas e com despesas. Eles demitem funcionários apenas para recontratá-los porque, assim, obtêm números melhores em um trimestre ou outro”. Sem uma voz organizada no setor (quase ninguém pertence a nenhum sindicato, com exceção de alguns dubladores filiados ao Sindicato dos Atores de Cinema), as prioridades dos trabalhadores não importam.
Como em outras indústrias criativas, chefes e gerentes exploram a paixão de seus funcionários para silenciar a dissidência e forçar a aceitação de condições injustas. Schreier descreve um “sentimento subjacente de que os trabalhadores deveriam se sentir com sorte” por estar onde estão. “Muitos no setor de videogames acreditam que trabalhar nele é um privilégio e que você deve estar disposto a fazer o que for necessário para permanecer lá”, disse Emily Grace Buck, uma ex-funcionária da Telltale Games, em uma entrevista de 2019 na revista Time. Os trabalhadores são encorajados a pensar em seus empregos como a realização de suas fantasias de infância. Eles são pagos para criar mundos de sonho e realizar desejos. Isso não seria o suficiente?
Como Sarah Jaffe observa em seu novo livro Work Won’t Love You Back [O trabalho não vai te amar de volta], essa dinâmica é um mecanismo disciplinar essencial do mercado de trabalho moderno. Em vez de conceder aos trabalhadores o desejo de estabilidade e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, os estúdios de videogame, como outras empresas de tecnologia, oferecem serviços que buscam eliminar a divisão entre trabalho e lazer: comida de graça e camas no escritório durante as “retas finais”. Mesas de pingue-pongue e pebolim e dias de trabalho inteiramente dedicados a jogar os últimos títulos de seus concorrentes. Um estúdio resume essa abordagem em seu site: “A diversão está no cerne do que fazemos. Sabemos que se quisermos desenvolver jogos divertidos, devemos nos divertir desenvolvendo jogos”.
Apesar de simpatizar com seus colegas e se solidarizar com os infortúnios deles, Schreier reafirma de certa forma a noção de que os designers de videogames dedicam-se a produzir “diversão”. “Os videogames”, escreve ele, “são projetados para trazer alegria às pessoas, mas são criados à sombra da crueldade corporativa” (como se isso fosse uma contradição). A ideia de que ambientes de trabalho “divertidos” geram produtos “divertidos” pode ser marketing, mas contém uma verdade oculta: os videogames, como qualquer produto criativo, refletem as condições em que foram produzidos e muitas vezes são funcionais às necessidades ideológicas e reprodutivas de seu tempo e espaço.
É por isso que a essência dos videogames mais populares de hoje não é “divertida”. O que mais se parecem, ou com o que parecem sonhar, é o trabalho do século XXI.
“A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio”, afirmaram Theodor Adorno e Max Horkheimer em 1944. A Escola de Frankfurt acreditava que a mecanização do trabalho havia se tornado tão entrelaçada com o “tempo livre e felicidade” do ser humano e havia determinado tanto a “fabricação de produtos para diversão” que o entretenimento passou a ser “nada mais que a cópia ou reprodução do mesmo processo de trabalho”. Nessa linha, o especialista em teoria dos jogos Steven Poole observou em 2008 que os videogames modernos “parecem aspirar a uma mimese do processo de trabalho mecanizado”. Aprendemos (ou somos disciplinados) pelas regras do jogo e recebemos um feedback positivo por segui-las com eficácia. “Você não joga o jogo”, escreve Poole, muito menos o “vence”, mas sim “executa as operações que ele exige, como um empregado obediente. O jogo é uma tarefa do trabalho”.
Jogos individuais com toneladas de armas para atualizar, habilidades para adquirir e moedas para gastar são talvez o arquétipo desse fenômeno, mas quase todos os jogos contemporâneos contêm algum elemento mimético de trabalho e troca de mercado. Eles não oferecem fantasias de fuga, de jogo imaginativo por si mesmo; eles oferecem uma fantasia de regras (uma lógica ausente do processo de trabalho assalariado contemporâneo). Vicky Osterweil descreveu esse tipo de jogo como um “simulador de trabalho utópico”, distribuindo recompensas em intervalos previsíveis em troca de esforço disciplinado. Essas recompensas podem tornar o jogo mais fácil, nos permitem comprar decorações, mostrar nossas conquistas a outros e progredir em uma trajetória lógica e satisfatória em direção a uma meta alcançável. Os jogos ainda são uma forma de diversão, mas não nos tiram do nosso trabalho. Eles apenas eliminam a nossa decepção com a sua volatilidade, com a sua arbitrariedade, com a sua crueldade e injustiça.
Em sua forma mais nítida, escreve a jornalista Cecilia D’Anastasio, os trabalhadores usam videogames “para representar os fantasmas de seu trabalho diário”. Um motorista de caminhão de longa distância passa sua semana de folga jogando American Truck Simulator. Chefs deixam suas cozinhas à meia-noite para jogar Cook, Serve, Delicious antes de dormir. No mundo do jogo, ao contrário do nosso, escreve D’Anastasio, “a produtividade é quantificável e discernível.” Os jogos compensam a falta de controle, de feedback confiável, de objetivos claros e de recompensas justas em nossa vida profissional. Desse modo, os jogos continuam sendo uma forma de realização de desejos nos quais as ficções ideológicas do capitalismo se materializam. É um sonho insignificante que nos reconcilia com mentiras que, do contrário, seríamos forçados a engolir.
O fato de muitos dos jogos mais populares serem simuladores de assassinato muito realistas também é digno de nota. “É bem possível”, como Tom Bissell escreveu em seu ensaio clássico sobre o gênero jogo de tiro em primeira pessoa (FPS), “que jogos como Call of Duty revelem que, em algum lugar íntimo, cada pessoa esconde um ser que mata e faz o que quer”. Esses jogos que recriam o combate marcial e recompensam os jogadores por eliminar efetivamente os inimigos humanoides são claramente sintomáticos de uma ideologia: uma sublimação da agressão reprimida e das fantasias imperiais. Mas os filmes de ação também. O que os jogos de tiro fazem, talvez de forma mais eficaz do que qualquer outro tipo de jogo, é transformar um quebra-cabeça cognitivo altamente repetitivo (localizar um pequeno ponto no espaço tridimensional e pressionar um botão para fazê-lo sangrar) em um passatempo infinitamente agradável e até viciante.
Ao mobilizar vários humores e sentimentos, incluindo fantasias de domínio patriarcal e competição, os jogos violentos conseguem “estruturar a repetição, o aprendizado e o tédio que se deve dominar e tolerar para experimentar as condições econômicas atuais como prazerosas”, escreve Osterweil. Por sua vez, locais de trabalho como a Amazon incorporam elementos de jogo (placares públicos, recompensas nominais por trabalho de expedição e até mesmo minijogos no estilo Arcade que são desbloqueados completando tarefas do armazém) para acostumar os funcionários a horas e horas de trabalho (física e mentalmente) monótono. Assim como a habilidade do jogador FPS é expressa em sua razão “assassinato/mortes”, o valor de um trabalhador da Amazon é expresso por sua “taxa de coleta”, medidas homólogas de eficiência cognitiva e cinética.
Assim, a violência em videogames não funciona principalmente como um libertador de comportamento antissocial, muito menos como uma perigosa porta de entrada para a crueldade do mundo real, mas como um véu agradável para um disciplinamento socialmente útil. A violência digital esconde e compensa a violência mais mundana da vida cotidiana: a de ser condicionado a um processo de trabalho. O fato de tal mecanismo manter um toque de transgressão misantrópica (inerente ao estereótipo do gamer “perigoso”, “desajustado” e “reacionário”) é um indício de sua sofisticação ideológica. Na realidade, nada pode ser mais normativo, mais complacente e pró-social do que comprar e jogar um jogo de tiro em primeira pessoa. De uma forma ou de outra, todos respondemos ao “chamado do dever” (Call of Duty).
Embora todos os jogos sejam ideológicos, nem todos são prejudiciais. Alguns, como o Universal Paperclips, o simulador da “tese da ortogonalidade” de Frank Lantz, revelam e criticam as poucas fantasias que os constituem. Outros, como Disco Elysium (uma fantasmagoria neo-noir aleatória) de 2019, superam as maiores esperanças da literatura ergódica . É tentador atribuir à motivação do lucro a grande distância entre esses títulos e os publicados pelos grandes estúdios. Como escreve Schreier, “A indústria de videogames, como todos os empreendimentos artísticos, é baseada na tensão entre duas facções: pessoas criativas e administradores de dinheiro.” O conflito entre desenvolvedores que tentam criar uma obra de arte e editores que procuram lucrar é tão antigo quanto os próprios videogames. A maioria dos personagens de Press Reset deseja criar jogos mais interessantes do que aqueles financiados por estúdios como a Electronic Arts. Quando eles saem dos grandes estúdios, se conseguem levantar dinheiro, geralmente o fazem.
Uma hipótese menos reconfortante é que os estúdios produzem “simuladores de trabalho utópicos” porque atendem aos nossos desejos e às necessidades da economia. Concordo com Osterweil que os videogames são “fundamentalmente uma tecnologia reprodutiva”. Eles contribuem para “criar, sustentar, organizar e treinar trabalhadores e sujeitos de uma forma que os ajude a funcionar em uma sociedade e economia fundamentalmente insalubres”. As técnicas e gramáticas de design de jogos evoluíram com os avanços na automação, globalização, produção e logística just-in-time, na economia de cuidados e no trabalho precário de meio período. Nesse contexto, voltando a Adorno e Horkheimer, o videogame “move-se rigorosamente nos sulcos desgastados da associação” esculpidos por nossa relação com essas formas de trabalho. Os jogos, como todos os produtos de entretenimento, fazem de nós os sujeitos exigidos pelo capital atual.
Que tipo de sujeitos são esses? Em seu livro Bullshit Jobs, o antropólogo David Graeber observou que, se “o jogo imaginário é a mais pura expressão da liberdade humana”, como nos quer fazer acreditar o especialista em teoria evolutiva Karl Groos (de acordo com Schiller), então “o trabalho imaginário, imposto por outros, é a mais pura expressão da falta de liberdade”. Este último, escreve Graeber, “é o mais puro exercício de poder pelo poder”. Em outras palavras, as apostas não poderiam ser maiores. Se os videogames são um jogo, eles são a expressão de nossas mais altas capacidades como seres humanos: nosso amor pela liberdade, imaginação e capricho criativo. Mas, quando são um trabalho (como me parecem nos momentos em que o prazer não consegue dissimular a repetição), nosso afeto por eles é algo verdadeiramente sombrio, sinalizando uma concessão extraordinária às condições modernas de falta de liberdade.
Press Reset é uma contribuição admirável para um crescente corpo de trabalho jornalístico sobre videogames, focado principalmente nas injustiças dessa indústria. Dado que há apenas sete anos o mundo dos videogames se rebelou ao menor esforço para aplicar as lições do feminismo e do antirracismo à indústria e seus produtos, é encorajador que pessoas como Schreier (que, junto com seus ex-colegas do Kotaku, recebeu parte do ódio reacionário do gamergate) continue escrevendo e publicando trabalhos críticos como este.
No último capítulo, Schreier propõe várias soluções para os problemas que identificou. Uma delas é a sindicalização: “Cada nova demissão ou fechamento de um estúdio é a prova de que os trabalhadores da indústria de videogames precisam de mais proteção”, escreve o autor, “e os sindicatos são uma parte essencial e inevitável dessa equação”. No momento em que este livro foi escrito, nenhum dos principais estúdios de videogame dos Estados Unidos tinha sindicato, mas o Game Workers Unite (GWU) está lutando pelos direitos trabalhistas nessa indústria. A divisão britânica da GWU ingressou formalmente no Independent Workers Union of Great Britain em 2019. O Communication Workers Union of America anunciou uma iniciativa para organizar os trabalhadores na indústria de videogames em janeiro de 2020.
Schreier também recomenda padronizar o trabalho remoto, para que os desenvolvedores não tenham que mudar de vida toda vez que um estúdio fecha ou tenham que se mudar para trabalhar. Nesse sentido, ele elogia o modelo de negócios de uma empresa chamada Disbelief, cuja equipe tem empregos garantidos em virtude de vários contratos simultâneos com grandes estúdios. “Acho que o futuro será assim: haverá uma pequena equipe responsável pela visão criativa e todo o resto do trabalho será terceirizado”, diz um dos fundadores da Disbelief. Dada a frequência com que as empresas de videogame terceirizam tarefas tediosas de design e programação para empresas localizadas na Índia e na China, onde os salários são mais baixos, não é difícil imaginar esse futuro, mas não tenho certeza se é a panaceia que Schreier imagina.
Enquanto isso, muitas pessoas que se cansam de trabalhar para grandes estúdios encaminham-se para abrir suas próprias empresas independentes e menores. Elas são tão capazes de explorar seus funcionários quanto seus colegas de alto nível, e ainda mais propensos a falir. Mas quando se trata de um pequeno grupo de coproprietários, as apostas são diferentes. Como um dos co-criadores de Enter the Gungeon, um jogo independente de grande sucesso lançado em 2016, disse a Schreier: “Não me interpretem mal, a reta final foi dura e horrível, mas passar por isso quando você sabe que vai participar dos lucros é uma experiência muito diferente”.
Melhorar as condições de trabalho para desenvolvedores é um objetivo que vale a pena. Espero que se sindicalizem e que mais pessoas possam criar coletivos independentes, se quiserem. Mas, à medida que os jornalistas especializados em videogame se tornem mais críticos do enorme custo humano e da volatilidade da indústria, e fiquem mais preocupados com as conotações políticas tóxicas de alguns jogos, espero ler mais investigações de qualidade.
O mundo da mídia de videogame é povoado (e pago) por pessoas que gostam de videogames, que tendem a não fazer as perguntas mais fundamentais sobre o efeito deles ou as consequências que podem ter sobre nós (os críticos citados acima infelizmente não são representativos da cultura de crítica dos videogames). Obviamente, não é que todos os amantes de games sejam trabalhadores obedientes, nem que todos os jogos sejam rotineiros e sem inspiração. De vez em quando é lançado um título que realmente me encanta e me desafia, como um grande romance ou um grande filme, e o faz com métodos intrínsecos à arte interativa (Disco Elysium foi um deles). Mas não é algo frequente. Costumo passar muito tempo jogando jogos cuja descrição como forma de entretenimento (e ainda mais, como forma de arte) me confunde, mesmo enquanto avanço, fase a fase, nível a nível. Em que tipo de indivíduo esses processos estão me transformando? Que tipo de economia política exige esse indivíduo? Para ser franco, em que mais eu gastaria meu tempo se não fossem esses jogos?
Sei que nossos sonhos não nos tirarão das armadilhas do capitalismo, e inclusive que eles podem nos fazer afundar nelas cada vez mais...
Sobre o autor
Sam Adler-Bell é um escritor freelance em Nova York. Ele é co-apresentador do podcast Dissent, Know Your Enemy.


Nenhum comentário:
Postar um comentário