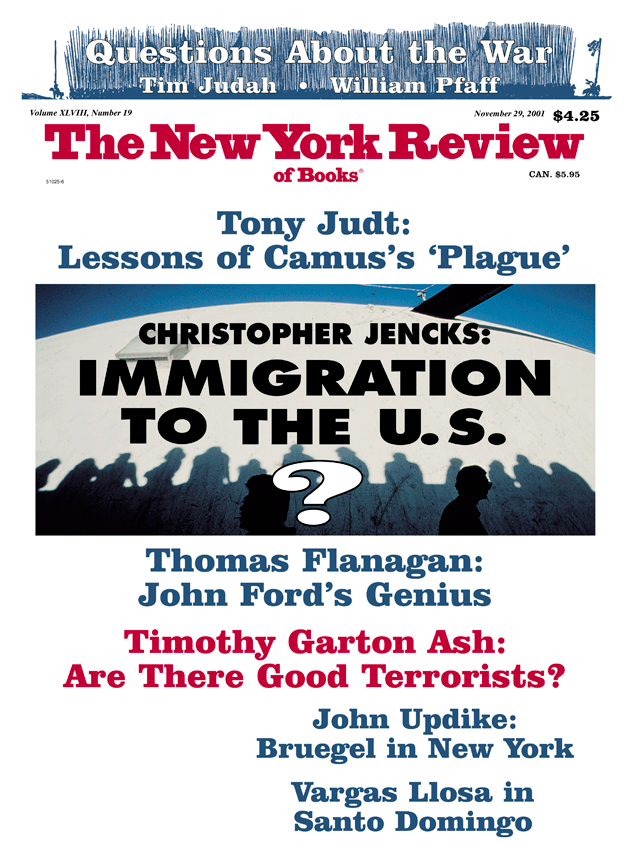Os emocionantes despachos de John Reed das linhas de frente da Revolução Mexicana poderiam tê-lo tornado uma celebridade da cultura pop. Em vez disso, a experiência o tornou um socialista comprometido.
Meagan Day
Jacobin
 |
| Jornalista John Reed, autor de México Insurgente e Dez Dias que Abalaram o Mundo, em 1914. (Getty Images) |
Em 1913, o jornalista americano John Reed foi incorporado a um bando de soldados revolucionários no México. Poucos deles possuíam uniforme completo. Alguns calçavam apenas sandálias de couro de vaca. Eles estavam acampados no norte de Durango, dormindo no chão de ladrilhos de uma hacienda cujo rico proprietário havia sido expulso pelas forças revolucionárias.
Mas agora os colorados contra-revolucionários vinham para matá-los a todos.
Reed, conhecido por seus amigos em casa como Jack e seus amigos aqui no México como Juan, tinha vinte e seis anos, era infantil e espirituoso, perspicaz e geralmente controlado, embora neste momento ele estivesse morrendo de medo . As balas já estavam voando, enviando mulas e homens para o deserto de Chihuahuan. Os camponeses da hacienda abrigaram-se em seus modestos adobes e rezaram. Um soldado, com o rosto enegrecido pela pólvora, passou galopando chorando que toda esperança estava perdida.
Reed escapou a pé com um pequeno destacamento. Eles fugiram por um caminho estreito através do chaparral, os colorados logo atrás deles. O lutador de quatorze anos ao seu lado foi pisoteado e baleado. Reed tropeçou em um galho de algaroba e caiu em um arroio, onde ficou ouvindo enquanto os colorados discutiam sobre o caminho que ele havia tomado. Ele permaneceu imóvel enquanto suas vozes enfraqueciam e, eventualmente, perdia a consciência. Quando acordou, ainda ouvia tiros perto da Casa Grande – o som, ele soube mais tarde, dos colorados atirando em cadáveres, como garantia.
Ele desceu o arroio para longe da ação, mas logo foi surpreendido por um estranho em seu caminho. O estranho tinha um lenço ensanguentado enrolado na cabeça e carregava um poncho verde no braço. Suas pernas estavam endurecidas com o sangue das espadas , os cactos espinhosos que cobriam o solo do deserto. Reed não sabia dizer de que lado da luta ele estava. O homem acenou, e Reed não viu escolha a não ser segui-lo.
Eles chegaram ao topo de uma colina e o estranho gesticulou para um cavalo morto, suas pernas rígidas projetando-se no ar. Perto estava o corpo de seu cavaleiro, estripado. Reed se virou para olhar para o homem com o poncho verde e viu que ele estava segurando uma adaga. O morto era um colorado. Juntos, eles o enterraram, cobrindo a cova rasa com pedras e prendendo uma cruz com galhos de algaroba. Quando terminaram, o homem com o poncho verde apontou Reed para um lugar seguro.
No ano anterior, Reed estivera em Portland, Oregon, vagando pelas ruas sozinho à noite, perdido em pensamentos infelizes. Ele voltou para casa para o funeral de seu pai e para resolver os assuntos financeiros de sua família. Reed descendia de uma grande riqueza, mas a fortuna havia praticamente desaparecido. Também se foi a alegria dos dias de Reed em Harvard e a novidade da vida do escritor boêmio em Nova York. Reed estava à deriva, incerto de que tipo de vida ele viveria, que tipo de homem ele se tornaria.
Menos de uma década depois, Reed morreu na Rússia, um bolchevique, um traidor de seu país e de sua classe. Seus restos mortais estão agora na Necrópole do Muro do Kremlin em Moscou. Sua biografia é imortalizada no aclamado filme épico de 1981, Reds, de Warren Beatty . E embora o filme representasse vividamente muitos dos episódios importantes de sua vida colorida e histórica, com exceção de uma breve tomada de Beatty lutando pelo deserto de Chihuahuan, deixou passar um importante: o tempo de John Reed entre os combatentes, incluindo o próprio Pancho Villa , durante a Revolução Mexicana.
Foi no México que Reed não apenas satisfez seu gosto pela ação e aventura, mas também testemunhou os pontos baixos da pobreza degradante, o ápice da esperança revolucionária e até onde a classe capitalista internacional iria para impedir a transformação social igualitária.
Na noite anterior ao cerco à hacienda, uma proclamação do governador de Durango foi lida em voz alta para os soldados em seus aposentos. Dizia:
Considerando... que as classes rurais não têm meios de subsistência no presente, nem esperança de futuro, a não ser servir de peões nas fazendas dos grandes latifundiários, que monopolizaram o solo do Estado. ....
Considerando... que as cidades rurais foram reduzidas à mais profunda miséria, porque as terras comuns que antes possuíam foram para aumentar a propriedade da hacienda, especialmente sob a ditadura do [presidente Porfirio] Díaz, com a qual os habitantes do estado perderam suas a independência econômica, política e social passou então da categoria de cidadãos à de escravos, sem que o governo pudesse elevar o nível moral por meio da educação, porque a fazenda onde viviam é propriedade privada. ...
Portanto, o governo do estado de Durango declara ser uma necessidade pública que os habitantes das cidades e vilas sejam proprietários de terras agrícolas.
“Isso”, disse um soldado a Reed, “é a Revolução Mexicana”. No dia seguinte, ao invés de fugir, o soldado ficou na Casa Grande, onde morreu tentando em vão afastar os colorados.
O nascimento do "Storm Boy"
John Reed nasceu em 1887 em Portland, no Oregon, então dominado pelos pioneiros capitalistas vindos de leste. Enquanto os barões da madeira passeavam em elegantes carruagens, os trabalhadores da cidade atravessavam avenidas lamacentas, perigosamente cheias com cepos e troncos cortados da floresta abatida, para realizar trabalhos manuais exaustivos ou para beber e jogar nos lugares de vício da cidade.
A aparente lassidão moral da classe trabalhadora de Portland era uma grande preocupação para os membros do Arlington Club, uma instituição exclusiva, fundada vinte anos antes entre as elites locais para promover a solidariedade social e profissional. Um dos fundadores deste clube era Henry Green, o avô materno de John Reed que tinha chegado de Nova Iorque para estabelecer uma bem sucedida empresa comercial. Henry e a sua mulher, Charlotte, tornaram-se pilares da alta sociedade de Portland.
A sua filha, Margaret Green, casou com C. J. Reed, um outro ambicioso jovem negociante que tinha vindo de Nova Iorque, e iniciaram a sua vida familiar na propriedade dos Green. John Reed descreveu mais tarde a casa como “uma mansão senhorial cinzenta” cercada de uma densa floresta de abetos. Os seus avós viviam com “sumptuosidade russa”, a sua residência estava decorada com têxteis elaborados e artefactos exóticos comprados durante as suas viagens pelo mundo. Apesar de aninhada no esmeralda vale Willamette, a mundos de distância do deserto Chihuahuan, a opulenta propriedade tinha muito em comum com as haciendas cuja expropriação era o principal objetivo da Revolução Mexicana.
“Quanto mais eu os conhecia”, escreveu Reed sobre seus colegas de Harvard, “mais sua estupidez fria e cruel me repelia”.
John Reed não foi uma criança especialmente feliz. Uma doença renal mantinha-o frequentemente fechado dentro de casa. Primeiro, confinado na propriedade dos Green, onde era cuidado pelos empregados chineses que o regalavam com histórias incríveis da sua pátria distante. Depois, quando a família saiu da propriedade, ficou em companhia dos livros. Era tímido com as outras crianças e até chegou a pagar ao bully do bairro para não lhe bater.
O negócio de J. Reed’s nunca chegou a ser tão bem sucedido quanto o de Henry Green e quando Charlotte Green gastou o resto da fortuna do seu falecido marido, os pais de John nunca conseguiram repor o gasto. Estavam longe de ser pobres mas também não conseguiam manter o seu estilo de vida anterior. Ainda assim, C.J. pôs de lado dinheiro para enviar o seu filho para um colégio em Morristown, Nova Jérsia, com a intenção expressa de o fazer entrar em Harvard.
Em Morristown, John Reed desabrochou. Estava finalmente bem de saúde e descobriu que uma certa reputação como habitante do Oeste o tinha precedido. Os outros rapazes, todos de sangue azul do nordeste, estavam à espera de um selvagem vindo da fronteira acidentada. Tendo consumido muitas novelas de aventuras durante a sua infância isolada, estava desejoso e apto a desempenhar esse papel. Da noite para o dia, a criança amuada tornou-se o jovem popular com um talento para desafiar a autoridade de forma divertida. Algures nesse caminho, ganhou a alcunha “Storm Boy” [rapaz-tempestade], evocando uma vitalidade malandra e a inclinação para se portar mal que esteve latente durante toda a sua infância subjugada e protegida.
Em Harvard, Reed desenvolveu uma nova consciência e uma aversão aguda pela riqueza excessiva. Ficou horrorizado ao saber que alguns dos seus novos colegas recebiam 15.000 dólares por ano dos pais, o que andaria perto dos 400.000 dólares por ano hoje em dia. O desejo de ser amado foi ultrapassado pelo seu irreprimível desprezo pela cultura e hábitos de Harvard. “Quanto mais conheço”, escreveu mais tarde acerca dos seus pares de Harvard, “mais a sua estupidez fria e cruel me repelia”. Comecei a sentir pena deles por causa da sua falta de imaginação e pela estreiteza das suas vidas cintilantes: clubes, atletismo, sociedade”.
Reed satirizava Harvard em qualquer oportunidade que tivesse, pregando frequentemente partidas que chamaram a atenção das autoridades académicas. A universidade até reestabeleceu uma forma arcaica de punição só para Reed, um tipo de confinamento obrigatório. O escritor e intelectual Walter Lippmann, que frequentou Harvard ao mesmo tempo, escreveu que ele “veio do Oregon, mostrou os seus sentimentos em público e disse o que pensava ao clube de homens que não o gostava de ouvir. Até quanto era estudante de licenciatura, ele traiu o que muitas pessoas acreditavam ser a paixão central de sua vida, um desejo exagerado de ser preso”.
Apesar de ter estado presente em algumas reuniões do Clube Socialista, a campanha de Reed para minar a seriedade de Harvard era animada mais pelo seu ódio pela convenção aristocrática do que por qualquer visão de uma sociedade sem classes. Isto mudou depois de terminar a licenciatura e mudar-se para Nova Iorque para tentar a sorte na escrita, ao início com pouco sucesso.
À procura de um tema adequado e de passar bons bocados, passou as suas noites em estabelecimentos de má fama, do tipo que o Arlington Club do seu avô criticava, conversando com clientes e indo com eles para a cidade para descobrir onde e como viviam. Uma história que surgiu deste processo foi o retrato sincero e humanizante de uma prostituta que Reed conheceu na cidade. Os editores da cidade concordaram que era excelente mas todos acharam que eram demasiado ambíguo moralmente para ser publicado.
Quando Reed voltou a Portland, enquanto fazia o luto pela morte do seu pai e cismava com a estagnação da sua vida em Nova Iorque, recebeu a notícia de que a revista socialista The Masses tinha aceitado publicar a sua história. Depois disso, escreveu para o The Masses e os seus interesses e perspetiva começaram a alinhar-se com a missão da publicação.
Numa festa dada pela artista de vanguarda e figura da alta sociedade Mabel Dodge Luhan, Reed conheceu “Big Bill” Haywood, que tinha ido em busca de conseguir apoios dos progressistas urbanos para o greve dos trabalhadores do setor têxtil em Paterson, Nova Jersey. Reed foi com Haywood para Paterson e entrou numa nova fase da sua vida.
A experiência de Reed em Nova Jérsia transformou-o em duas coisas ao mesmo tempo: um jornalista e um socialista. Não apenas cobriu a greve de Paterson de 1913 para o The Masses mas ficou conhecido por ter sido preso com os grevistas, uma experiência que ele contou de forma colorida e tocante nos seus artigos. Não muito depois disso aderiu ao International Workers of the World e passou a ajudar a organizar os movimentos de solidariedade com as greves.
Ao mesmo tempo, Reed demonstrou ser um escritor cativante e um repórter de coragem invulgar, desejoso de estar bem no meio dos acontecimentos em vez de andar a bisbilhotar à volta. Quando os editores do Metropolitan o contrataram para fazer reportagens sobre a Revolução Mexicana, fizeram-no porque já suspeitavam que ele encontraria forma de chegar ao centro da ação como uma mariposa é atraída pelas chamas. E estavam certos.
Terra e liberdade
Havia 15 milhões de pessoas a viver no México no início da revolução. Durante o conflito, calcula-se que um milhão foram mortos e aproximadamente dois milhões migraram para os Estados Unidos, fugindo da violência.
John Reed poderia facilmente ter perdido a vida ao viajar com exércitos beligerantes no pico dos acontecimentos em 1913 e 1914. Ao invés, sobreviveu e publicou um fascinante livro de reportagem, México Insurgente, que serviu de protótipo para os Dez Dias Que Abalaram o Mundo, o seu famoso relato da Revolução Russa. A experiência cimentou o seu estatuto como um dos principais jornalistas americanos a fazer cobertura de conflitos armados, domésticos ou internacionais. Também o fez conhecer novos níveis de privação e exploração e sentir a necessidade de um socialismo internacional.
A história da Revolução Mexicana começa com Porfirio Díaz que, em meados do século XIX, tinha sido o líder da fação liberal do país, proponente da democracia e de um capitalismo de mercado livre, em oposição aos conservadores que preferiam um acordo social hierárquico mais tradicional guiado por um monarca e pela Igreja Católica. Díaz tornou-se presidente em 1876 e, com o passar do tempo, deitou para o lixo o seu apoio liberal à democracia política. A viragem do século chegou e passou e ele continuava no poder.
Enquanto ditador, Díaz exerceu um controlo apertado sobre a política mexicana ao mesmo tempo que o seu exército doméstico de federales e a sua força policial de rurales mantinha o povo mexicano na linha. Só que, apesar de renegar as suas promessas políticas, Díaz mantinha firmemente o seu compromisso com o capitalismo. O regime porfiriano curvou-se para satisfazer os proprietários de terras mexicanos ricos, os hacendados, bem como para abrir o país a investidores estrangeiros, especialmente americanos, mas também britânicos e franceses, que cavaram minas e poços de petróleo e se apropriaram de vastas plantações.
Com o apoio de Díaz, a elite dos negócios domésticos e estrangeiros lucravam lindamente ao passo que os pequenos proprietários e o campesinato de sobrevivência eram desapropriados das suas modestas posses individuais e coletivas. Os camponeses do México estavam presos de uma forma semi-feudal às haciendas rurais ou eram obrigados a trabalhar em condições perigosas nos campos e minas por baixos salários, muitas vezes como trabalhadores precários à jorna. Alguns povos indígenas eram até vendidos como escravos.
Havia 15 milhões de pessoas vivendo no México no início da revolução. Ao longo do conflito, estima-se que 1 milhão foram mortas e cerca de 2 milhões fugiram do país.
Um primeiro desafio à ditadura de Díaz, liderado pelos irmãos Flores Magón, foi esmagado em 1906. Mas deixou uma impressão duradoura, ligando duas exigências que estavam nas mentes do povo mexicano: a democracia política por um lado e, por outro, a reforma agrária, especificamente o fim do sistema repressivo da hacienda e a redistribuição da terra a quem a trabalhava. A revolução por vir iria sumariar estas duas reivindicações com o lema tierra y libertad.
A revolução chegou finalmente quando Francisco Madero, o filho liberal de uma família rica que era proprietária não apenas de terra mas também de minas e de fábricas, apresentou uma candidatura à presidência, uma traição pela qual Díaz o mandou prender. Ao princípio, o conflito era entre as elites: Madero representava um segmento empreendedor da classe capitalista, mais moderno do que os hacendados da velha guarda. Mas os apelos de Madero a uma democracia tinha uma atração mais alargada. Exércitos improvisados de camponeses e trabalhadores desesperados por mudanças juntaram-se à sua causa, liderados por uma nova geração de líderes que parecia ter saído dos buracos.
Num ano, o regime de Díaz estava acabado e Madero estava no poder. Mas a revolução estava longe de ter acabado. Madero assumiu a presidência mas mudou muito pouco, mantendo a maior parte das estruturas administrativas e até do pessoal que nelas subsistia. As suas tentativas para apaziguar os porfiristas insatisfeitos não foram bem sucedidas porque, de qualquer forma, aconteceram revoltas de direita. Entretanto, a esquerda que tinha levado Madero ao poder estava desiludida pelo seu aparente desinteresse em implementar qualquer tipo de agenda reformista ambiciosa.
Emiliano Zapata, o comandante de um exército de camponeses no sul do México e o mais ideológico e radical de todos os novos líderes, declarou que a revolução continuava enquanto não se resolvesse a questão da reforma agrária e que não se aliviasse a pobreza. “La tierra es para el que la trabaja,” dizia o slogan zapatista.
No norte, o exército de Pascual Orozco, composto por mineiros, trabalhadores ferroviários e das quintas, também se virou contra Madero, ecoando não apenas os apelos para a justa expropriação das haciendas mas também melhores condições de trabalho e proteções para os sindicatos.
 |
| O líder revolucionário mexicano Pancho Villa posa com outros soldados na década de 1910. (Coleção Bettmann via Getty Images) |
A aparente fraqueza do governo de Madero face a estas rebeliões de camponeses e trabalhadores de esquerda assustara as elites doméstica e internacional dos negócios e os seus aliados no governo. Para resolver este problema, Henry Lane Wilson, o embaixador no México do presidente norte-americano William Howard Taft, desempenhou um papel principal ao orquestrar um golpe no qual Madero foi assassinado e o general traidor, Victoriano Huerta, assumiu a presidência. Foi um manual que os Estados Unidos iriam refinar ao ponto da quase perfeição ao longo do século seguinte.
Depois do assassinato de Madero em 1913, o inferno desceu à terra. Huerta ofereceu com sucesso algumas concessões sobre direitos dos trabalhadores a Orozco em troca do seu apoio. Mas Zapata, intransigente sobre a questão da reforma agrária, lançou-se contra ele. E também o fez Pancho Villa, o líder do maior exército revolucionário do país, a poderosa División del Norte. Apesar das simpatias pessoais de Villa se dirigirem aos pobres, pelo menos oficialmente trabalhava para outro general, Venustiano Carranza, um líder menos radical que tinha abraçado a causa maderista contra Huerta.
Foi nesta conjuntura caótica, quando o rol de nomes importantes tinha crescido demasiado, que John Reed passou a fronteira, passando da cidade texana de Presidio para a cidade mexicana de Ojinaga. Esta tinha sido cercada cinco vezes desde o início do conflito três anos antes. Sobre ela, escreveu:
As ruas brancas, empoeiradas, da cidade, empilhadas de imundice e forragem, a antiga igreja sem janelas com os seus três enormes sinos espanhóis pendurados numa prateleira fora do edifício e uma nuvem de incenso azul a rastejar para fora da porta preta, onde as mulheres que seguiam o exército no seu acampamento rezavam pela vitória dia e noite, repousavam ao sol quente e ofegante... quase não havia uma casa com um telhado e todas as paredes tinham buracos de tiros de canhão.
Reed percebeu imediatamente que, apesar da proliferação e de exércitos e da constante mudança de alianças tornar o conflito difícil de seguir, era simples de compreender. “É comum falar da revolução de Orozco, da revolução de Zapata e da revolução de Carranza,” escreveu. “De facto, o que há e tem havido é apenas uma revolução no México. É principalmente uma luta pela terra.”
Abrir o punho fechado
Enquanto o país mergulhava na ditadura burguesa de Díaz, aos camponeses e trabalhadores mexicanos faltava um veículo político que tornasse coerente e fizesse avançar os seus interesses. O que mais próximo existia disso era o exército de Zapata no sul, que era claro acerca dos seus objetivos: não apenas democracia política e reforma agrária mas também escolas laicas públicas universais, o que o colocava em conflito com a Igreja Católica que controlava a educação, e a nacionalização dos recursos naturais do México, o que o colocava em conflito tanto com os capitalistas nacionais quanto com os internacionais.
Mas, a norte, não havia nenhum exército cujos objetivos políticos fossem assim tão explícitos. Pancho Villa era conhecido como o Robin Hood do México pela sua ânsia de redistribuir riqueza e terra, frequentemente obtidos através de ações brutais de expropriação e de astutas façanhas de banditismo. Mas agia em aliança com outros cujas inclinações eram notoriamente menos redistributivas e, para além disso, apesar das suas simpatias de classe, Villa era mais um líder militar do que líder político. Assim, os trabalhadores e camponeses do norte enxertaram imperfeitamente as suas esperanças de transformação social radical na revolução embrulhada que já estava em andamento.
Socialismo — existe? Só vejo isso em livros e não leio muito.
Reed integrou-se muito cedo num batalhão revolucionário sob o comando do General Tomás Urbina, cujo círculo interno mostrava a variedade de perspetivas no topo da hierarquia militar revolucionária. Um major disse a Reed que a revolução “é uma luta dos pobres contra os ricos. Eu era pobre antes da revolução e agora sou muito rico.” Mas um capitão dizia: “quando ganharmos a Revolución haverá um governo dos homens – não dos ricos. Cavalgamos nas terras dos homens. Costumavam pertencer aos ricos. Mas agora pertencem a mim e aos meus compañeros.”
Mais tarde, Reed ficou bastante impressionado pelo General Toribio Ortega, “de longe o soldado mais simples e desinteressado do México”, que lhe contou:
Temos visto os rurales e soldados de Porfirio Díaz abaterem os nossos irmão e pais e a justiça a ser-lhes negada. Temos visto os nossos pequenos campos serem-nos retirados e todos nós vendidos como escravos, eh? Temos almejado ter as nossas casas e escolas para nos ensinarem e eles têm-se rido de nós. Tudo o que sempre quisemos era que nos deixassem em paz para viver e trabalhar e engrandecer o nosso país e estamos cansados, cansados e fartos de sermos enganados.
Por todo o norte do México, Reed encontrou-se tanto com soldados quanto com pacíficos – aqueles que permaneciam fora dos combates – que articulavam interpretações radicais dos objetivos da revolução. Na noite antes da batalha na hacienda, Reed testemunhou um soldado a compor uma balada que continha versos como “os ricos com todo o seu dinheiro, já tiveram as suas chicotadas… A ambição acabará por se arruinar e a justiça vencerá.” Reed deparou-se com um pacífico, um homem gentil cujo corpo estava gasto pela desnutrição, que lhe disse: “A Revolução é boa. Quando for concluída, nunca, nunca, nunca morreremos de fome, se servirmos a Deus.”
Num caminho, Reed encontrou dois criadores de cabras que partilhavam o fogo e lhe ofereceram abrigo, um deles um velho corcunda e enrugado e o outro um jovem alto de pele lisa. Ao falarem da revolução, a voz do jovem elevou-se apaixonadamente. “São os americanos ricos que nos querem roubar, tal como os mexicanos ricos nos querem roubar. São os ricos de todo o mundo que querem roubar os pobres.”
Trocaram-se mais algumas palavras e depois o jovem disse: “Durante os meus anos, os do meu pai e do meu avô, os ricos ficavam com o milho e seguravam-no com os punhos fechados ante as nossas bocas. Apenas o sangue os vai fazer abrir as mãos para os seus irmãos”.
Tocado por este encontro, Reed escreveu:
À volta deles, o deserto estendia-se, contido apenas pelo nosso fogo, pronto para saltar sobre nós quando este morresse. Acima, as grandes estrelas não esmoreciam. Os coiotes uivaram algures para lá da fogueira como demónios com dores. De repente, percebi estes dois seres humanos como símbolos do México – corteses, amorosos, pacientes, pobres, escravos por tanto tempo, tão cheios de sonhos, tão próximos de serem livres.
O sonho de Pancho Villa
John Reed queria ter uma audiência com Emiliano Zapata, pelo qual tinha uma admiração completa, chamando-lhe, numa carta ao seu editor, “o grande homem da Revolução… um radical, absolutamente lógico e perfeitamente constante”. O encontro acabou por se revelar impossível mas o Metropolitan ficou igualmente agradado, senão mais, quando Reed conseguiu uma audiência com o infame Pancho Villa.
Claro que cavalgar com Villa significava tentar o destino porque o general estava envolvido em combates pesados e nunca longe da linha da frente. Mas Reed agarrou a oportunidade, colocando a sua vida em perigo, para tentar capturar a essência de Villa, e era precisamente por isso que o Metropolitan o contratara.
Villa tinha sido diabolizado intensamente na imprensa americana, mas Reed via as coisas de forma diferente, olhando para ele como um homem do povo e um amigo dos pobres. Prometia que, depois da revolução, não iria haver “mais palácios no México" e manifestava muitas vezes o seu amor pelo povo através de frases como “as tortillas dos pobres são melhores que os pães dos ricos”. Demonstrou a sua lealdade de classe muitas vezes, confiscando dinheiro e propriedades dos ricos sem qualquer remorso e dando-os diretamente aos pobres ou colocando-os ao serviço da causa revolucionária. Villa foi vilificado pela burguesia mexicana, ao passo que os camponeses compunham baladas sobre ele.
Mas Reed também observou que as forças de Villa não eram políticas. Tinha vivido como um fora-da-lei antes da revolução, foi analfabeto até uma estadia na prisão por ter apoiado Madero lhe dar a oportunidade de aprender a ler. Tinha alguma ideia, que expressou vagamente a Reed, de que depois da revolução o Estado deveria criar grandes empresas que iriam tanto empregar toda a gente quanto produzir todas as coisas de que o povo necessitaria. Mas Reed perguntou-lhe o que pensava do socialismo ao que responder: “Socialismo, o que é isso? Só o vejo nos livros e não leio muito.”
Walter Lippmann escreveu em uma carta a Reed que sua reportagem mexicana foi "sem dúvida a melhor reportagem já feita".
O grande talento de Villa era, ao invés, uma destreza militar instintiva. Reed comparou o seu estilo de combate ao de Napoleão, contando entre as suas vantagens, “o sigilo, a rapidez de movimento, a adaptação dos seus planos ao carácter do país e dos seus soldados, o valor das relações íntimas com as bases e a construção de uma tradição para o inimigo de que o seu exército é invencível e de que ele próprio vivia uma vida de sonho.” Reed viu Villa como um génio militar autodidata, capaz de olhar a partir de um lugar cimeiro e ver o conjunto da revolução em toda a sua complexidade e de tomar decisões rápidas baseadas nos seus instintos que mostravam ser consistentemente corretas.
Quando Reed lhe perguntou se queria ser presidente do México, Villa respondeu sinceramente, “sou um combatente, não um estadista.” Sabendo que o Metropolitan não ficaria satisfeito com a sinceridade da resposta, Reed sentiu-se obrigado a perguntar mais algumas vezes. Isto chateou Villa que lhe disse que se perguntasse isso outra vez “seria espancado e enviado para a fronteira” e andou vários dias depois disso a dizer a contar divertidamente a toda a gente sobre o chatito que não deixava o assunto em paz.
Contudo, Villa gostava o suficiente de Reed para passar muito tempo com ele em privado e para lhe conceder um acesso total grátis aos caminhos de ferro e telefones em todo o estado de Chihuahua.
O Pancho Villa do México Insurgente é muito divertido. Nunca bebeu ou fumou mas gostava muito de dançar. Enviava os seus galos para a luta de galos todas as tardes às quatro. Se tivesse energia extra para gastar, via em algum matadouro perto se havia algum touro com o qual pudesse lutar. Era um matador mediano, “tão teimoso e desajeitado como o touro, lento dos pés, mas rápido como um animal com o corpo e braços”. Se o touro lhe acertasse com os cornos, Villa arremetia contra ele e começava a lutar, levando os seus homens a intervir.
“Os soldados comuns adoravam-nos pela sua bravura e pelo seu humor grosseiro e contundente”, escreveu Reed com admiração. “Vi-o muitas vezes relaxado na sua cama da pequena carruagem vermelha em que sempre viajava a contar piadas familiarmente com vinte soldados rasos esparramados no chão, nas cadeiras e nas mesas. ”
 |
Four revolutionary soldiers, likely followers of Emiliano Zapata, pose on the cowcatcher of a train.
|
Esta era uma carruagem de comboio: quando Villa saqueou a cidade de Torreón pela primeira vez, assumiu o comando dos caminhos-de-ferro do norte do México e, a partir de então, o seu exército passou a viajar tanto a cavalo como de comboio. Para além desta sua carruagem, havia carruagens-hospital, carruagens de transporte de água, carruagens-canhão e até mesmo carruagens de reparação cujo objetivo era reparar motores e segmentos de via partidos, por vezes durante o calor da batalha.
Os exércitos revolucionários começaram ao acaso, sem comissários ou quaisquer outros meios formais para providenciar os cuidados diários dos soldados, desde a cozinha à enfermagem à lavagem passando pelo remendar roupa. Assim, desde o início, mulheres chamadas soldaderas tinham viajado com o exército de Villa, cuidando dos seus maridos e levando os seus filhos a reboque. Famílias inteiras cruzaram o deserto com Villa, primeiro a pé e depois de comboio. As soldaderas também pegaram em armas, embora a maioria passasse o seu tempo a cozinhar tortillas e grandes tigelas de chili e a pendurar roupa nas improvisadas cordas de roupa no cimo das carruagens de comboio. Sem elas, toda a operação teria desmoronado.
Reed escreveu algumas das mais empolgantes passagens do México Insurgente a propósito do seu tempo nos comboios com os soldados e soldaderas de Villa. O governo contra-revolucionário de Huerta era instável, os seus inimigos eram uma legião e o seu reinado estava a chegar ao fim. Reed estava com a División del Norte enquanto esta avançava pela segunda vez sobre Torreón, com os espetaculares comboios guerrilheiros a serpentear pelo deserto, carregando nas suas costas o sonho de uma nova nação.
"O amanhecer chegou com o som de todas as cornetas do mundo a soprar; e olhando para fora pela porta da carruagem vi o deserto durante quilómetros a ferver com homens armados a selar e a montar... Uma centena de fogueiras de pequeno-almoço fumegavam do topo das carruagens e as mulheres viravam os seus vestidos lentamente ao sol, a tagarelar e a contar piadas. Centenas de pequenos bebés nus dançavam à sua volta, enquanto as suas mães levantavam as suas pequenas roupas para o calor. Mil soldados alegres gritaram uns aos outros que a ofensiva estava a começar…"
Uma guerra sem fim
Apesar de John Reed estar encantado com Pancho Villa, também estava igualmente pouco impressionado com Venustiano Carranza. Reed sentiu que Carranza tinha contribuído pouco para a revolução, escondendo-se a ocidente no pique das campanhas militares contra as forças de Huerta. Encontrou-se com Carranza uma vez e achou-o ao mesmo tempo pomposo e vazio, desprovido do empenho ideológico de Zapata ou do dinamismo e sentimento caloroso de Villa para com o povo mexicano.
Na sua ausência, Carranza tinha deixado a Villa todas as decisões militares e negociava sozinho com os poderes estrangeiros. Villa, pensando caracteristicamente em termos militares em vez de pensar em termos políticos, aceitou ajuda dos americanos, que já se tinham afastado de Huerta, da mesma forma como se tinham afastado de Madero antes dele.
Depois de Huerta cair, os Estados Unidos viraram-se rapidamente contra Villa. Isto era previsível: afinal, a objeção primária destes a Huerta e a Madero era que não conseguiam controlar as fações camponesas lideradas por Villa no norte e Zapata no sul.
México Insurgente foi o bilhete de Reed para o estrelato, mas também foi sua ponte para o radicalismo. Quando os dois caminhos divergiram, ele escolheu o último.
Com Huerta já fora da fotografia, tendo a segunda ofensiva de Villa sobre Torreón sido decisiva na sua queda, Carranza tratou de estabelecer um governo provisório. A sua primeira prioridade foi restaurar os chefes de negócios nacionais e estrangeiros. Começou assim uma nova fase da revolução: Zapata e Villa versus Carranza, um liberal moderado que nunca tinha tido particular interesse na expropriação e redistribuição. Villa sofreu uma derrota militar devastadora em 1915. Zapata foi assassinado em 1919. No final da década, as formações mais radicais da revolução estavam extintas.
Contudo, apesar dos poderosos exércitos proletários e camponeses da Revolução Mexicana terem sido esmagados pelos seus outrora aliados, a sua ideologia persistiu – inclusive no novo governo, apesar da oposição de Carranza. A pobreza e a exploração não foram eliminadas, mas ao longo das décadas seguintes, o sistema da hacienda foi abolido com sucesso, foram criadas escolas públicas por todo o México, as proteções para os trabalhadores e sindicatos foram reforçadas e a indústria do petróleo foi nacionalizada. A revolução ficou incompleta, mas não sem vitórias significativas.
De volta a casa, John Reed recebeu rasgados elogios pelos artigos que acabariam por se tornar a base do México Insurgente. Walter Lippmann escreveu numa carta a Reed que as suas reportagens mexicanas era “indubitavelmente as melhores algumas vez feitas. É algo embaraçoso dizer a um tipo que conhecemos que ele é um génio”. O seu editor do Metropolitan disse-lhe que “nada melhor poderia ter sido escrito” e a revista publicitava fotos enormes dele como se já fosse uma celebridade. As revistas mainstream clamavam por publicar o seu trabalho e os convites para palestras eram intermináveis. Reed poder-se-ia ter tornado no jornalista mais popular do país, se é que já não o era.
Em vez disso, quando voltou aos Estados Unidos, apenas conseguia pensar na injustiça. Escreveu artigos contra a intervenção dos EUA no México e criticando os seus colegas jornalistas pelas suas recitações acríticas da linha do Departamento de Estado. Seguiu o seu faro para o Colorado, onde relatou o massacre de Ludlow, no qual 25 pessoas foram mortas durante uma greve de mineiros de carvão, incluindo onze crianças. A sua reportagem de Ludlow demonstrava uma evolução na sua escrita, consistindo não apenas em observações evocativas, mas com análises detalhadas das circunstâncias que antecederam e seguiram o massacre, culpando os capitalistas e os seus aliados políticos.
Lenine e Trotsky nas comemorações do segundo aniversário da Revolução Russa, em 1919.
Centenário da Revolução Russa: O primeiro capítulo dos 10 dias que abalaram o mundo
Depois de Ludlow, o Metropolitan enviou Reed para a Europa para fazer reportagens sobre a Primeira Guerra Mundial. A revista tinha esperança de publicar mais histórias de aventuras mas as reportagens de Reed da Europa tinham um tom mais sombrio e contundente. O louco sentido de aventura e as tropelias do Storm Boy tinham sido substituídos pelo horror, a mágoa e a raiva aguda contra as elites internacionais que orquestraram esta guerra sem sentido. Enquanto esteve na Alemanha, Reed entrevistou o socialista revolucionário Karl Liebknecht sobre a sua oposição à guerra e acabou por concordar com as ideia dos socialistas radicais dos Estados Unidos e da Europa de que a própria guerra foi um crime cometido pela burguesia contra a classe trabalhadora internacional.
De volta aos Estados Unidos, recusou contratos mainstream para escrever, em vez disso, escreveu artigos anti-guerra para o The Masses. Quando os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial, os artigos de Reed foram censurados. Como resultado disso, The Masses perdeu o seu financiamento e deixou de ser impresso. Em vez de baixar a cabeça e trabalhar numa reconstrução da sua carreira de jornalista com reportagens mais politicamente anódinas, Reed navegou de volta pelo Atlântico para testemunhar e participar de facto na Revolução Russa. Voltou como comunista e o resto é história.
Essa história é bem conhecida, pelo menos das pessoas que gostam de filmes vencedores de Óscares. O que é menos conhecido é o papel da Revolução Mexicana na formação do socialista em que ele se tornou. O México Insurgente foi o seu bilhete para a fama mas também a sua ponte para o radicalismo. Quando os dois caminhos divergiram, seguiu o segundo. Porque quando John Reed foi para o México, foi para a guerra de classes. E nunca mais voltou.
Colaborador
Meagan Day é redatora da Jacobin. Ela é coautora de Bigger than Bernie: How We Go from the Sanders Campaign to Democratic Socialism.