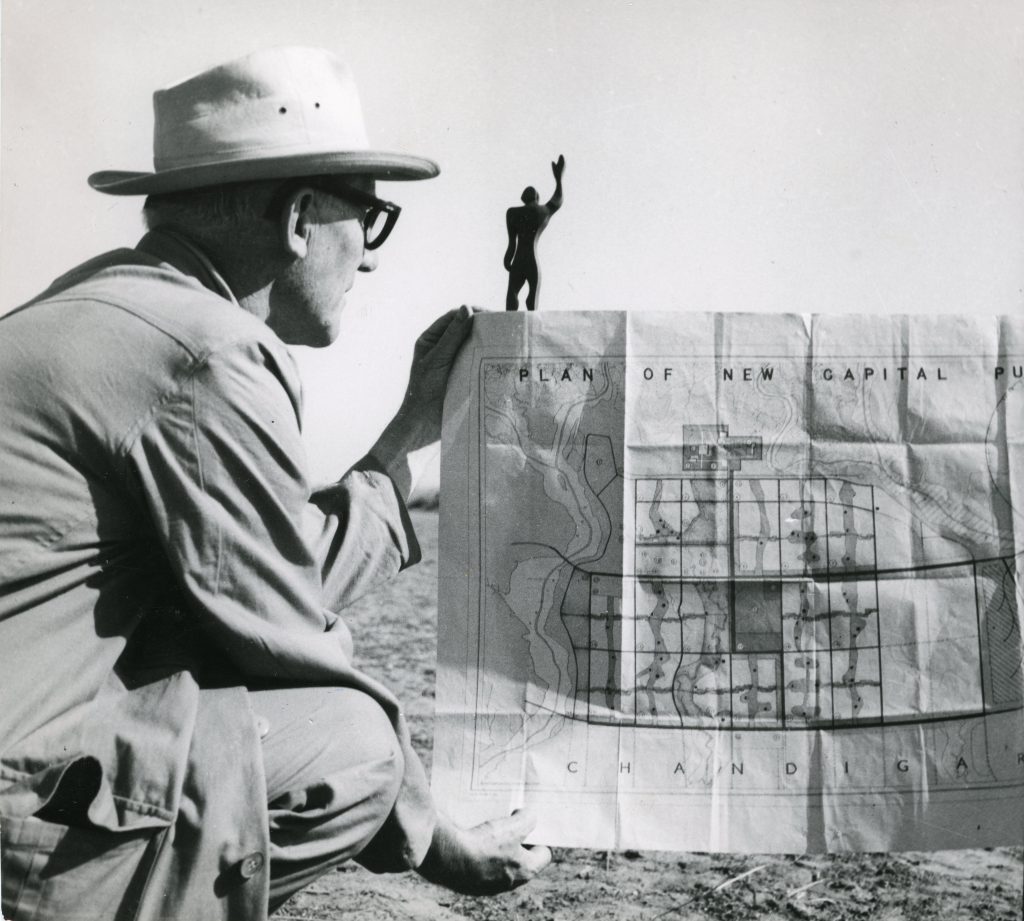Após a disputa deste verão para substituir Joe Biden, os democratas precisarão confrontar por que tiveram tanta dificuldade em pensar e agir como um partido, mesmo quando isso era mais importante.
Daniel Schlozman e Sam Rosenfeld
 |
| Joe Biden discursando à nação no Salão Oval sobre sua decisão de abandonar a disputa presidencial, Washington, D.C., 24 de julho de 2024 (Evan Vucci/POOL/AFP/Getty Images) |
Por que demoraram tanto? Os sinais de alerta eram claros de se ver. Muito antes do debate de 27 de junho, Joe Biden era impopular. Desde setembro de 2021, seus índices de aprovação eram negativos e, desde o início de 2023, eles vinham caindo. Na maioria das pesquisas pré-debate, ele concorreu atrás de um candidato republicano também impopular.
Muitos democratas estavam enjoados em concorrer com um octogenário. Colunistas enviaram sinais públicos de socorro que ecoavam a conversa privada. "Só posso esperar que, quando os historiadores futuros olharem para 2024", implorou Harold Meyerson no The American Prospect em novembro passado, "a pergunta que eles farão não seja 'Por que os democratas estavam sonâmbulos?'" Mas as principais figuras do partido conversaram principalmente sobre o problema. "Acho que você tem que ser o mais público possível ao abordar isso, e é assim que você pode resolver", disse o senador de Montana Jon Tester em uma resposta típica quando o Politico perguntou a ele sobre a idade de Biden em outubro passado. Em seu relatório de fevereiro sobre o manuseio de documentos confidenciais por Biden, o conselheiro especial Robert Hur descreveu o presidente como um "homem idoso e bem-intencionado com memória fraca". Os democratas descartaram isso como um golpe partidário. Enquanto circulavam histórias de cochilos à tarde e olhares vagos, o partido e seu candidato idoso tropeçavam.
O debate mudou tudo. O desempenho incoerente de Biden abalou todo o firmamento democrata, de autoridades eleitas a líderes de grupos de interesse e defesa e grandes doadores. A Câmara dos Representantes, cujos membros estão todos concorrendo à reeleição, foi o centro da dissidência. "Linha de frente" em distritos ameaçados soaram o alarme. "Temos muito em jogo nesta eleição para ficarmos de braços cruzados e em silêncio enquanto ainda temos tempo para fazer algo", disse Hillary Scholten, que representa West Michigan, ao The Detroit News.
O papel principal coube a Nancy Pelosi, a ex-presidente da Câmara ainda servindo na câmara e três anos mais velha que Biden. Após o debate, ela começou a insinuar que o processo de nomeação não estava, de fato, concluído e encerrado. Sempre que um membro pedia a Biden que passasse a tocha, os observadores do Congresso viam sua mão. No início de julho, Biden disse a George Stephanopoulos que somente "o Senhor Todo-Poderoso" poderia fazê-lo renunciar. Um estrategista democrata apontou para Pelosi: "Bem, este é o Senhor Todo-Poderoso".
As carteiras dos doadores secaram, principalmente na Hollywood preocupada com a imagem. George Clooney expressou sua desaprovação no The New York Times. "É uma crise. O dinheiro não está se movendo", disse um "grande arrecadador de fundos democrata" à Semafor. De sua parte, Biden ligou para o Morning Joe para dizer que não "se importava com o que os milionários pensam" — assim que as pesquisas começaram a indicar que mais de 60% dos eleitores democratas queriam que ele se retirasse.
Foi um esforço hesitante e caótico, mas no final foi o suficiente. No domingo, 21 de julho, o presidente, por alguma reviravolta extraordinária do destino, atingido pela Covid, desistiu e apoiou Kamala Harris. A conversa era intensa de que os concorrentes jogariam seus chapéus no ringue, mas eles não o fizeram. Os endossos se acumularam rapidamente. No dia seguinte, ela era a provável indicada.
É assim que um partido funcional se parece? Enquanto Harris se deleita com o entusiasmo reprimido, é tentador acreditar nisso. Mas, na verdade, houve tanto caos quanto ação coletiva. Presos no dilema de um prisioneiro, a maioria dos atores do partido optou por não arriscar o pescoço e arriscar a reação negativa, mesmo sabendo muito bem que todos precisavam de outro nome no topo da chapa. Biden poderia muito bem ter persistido se não fosse por Pelosi. Hakeem Jeffries, o líder da minoria na Câmara, e Chuck Schumer, o líder da maioria no Senado, se contiveram, buscando garantir o consenso dentro de seus respectivos caucuses — e suas posições no topo. Para evitar um desafio no plenário da convenção, o Comitê Nacional Democrata (DNC) apresentou argumentos especiosos para uma chamada virtual, na qual os delegados votariam online semanas antes do evento. (Citando possíveis desafios ao acesso às cédulas, ele manteve o plano.) Os principais grupos trabalhistas, ambientais e de direitos civis estavam visivelmente ausentes em momentos cruciais. Os democratas se uniram em apoio a Harris. Mas eles não a "escolheram" significativamente.
Nas próximas quatorze semanas de campanha, a vice-presidente pode ser capaz de fazer o que a presidente não conseguiu — enfatizar as fraquezas manifestas de sua oponente e ressaltar sua própria aptidão para o trabalho. Agora não é hora de introspecção. Mas, seja na vitória ou na derrota, os democratas eventualmente terão que revisitar a saga fervorosa do verão que os viu, embora desorganizadamente, pensando e agindo como um partido — e se perguntar o que tornou essa tarefa tão difícil.
*
Desafios intrapartidários sérios a presidentes em exercício normalmente exigem divisões faccionais profundas. Quando Eugene McCarthy e depois Bobby Kennedy concorreram contra Lyndon Johnson em 1968, suas candidaturas foram alimentadas pela oposição ao envolvimento americano no Vietnã. Quando Ted Kennedy enfrentou Jimmy Carter em 1980, ele se baseou em um senso generalizado de que o presidente havia administrado mal a economia e traído o legado do New Deal. A situação estava muito menos definida dessa vez.
Certamente, Biden era impopular entre o eleitorado. As razões são um pouco misteriosas: ele presidiu taxas de crescimento que são a inveja de outras democracias ricas e aprovou uma legislação de alto valor, acima de tudo o gigantesco Inflation Reduction Act (IRA). Mas a inflação claramente cobrou seu preço. Com pico acima de 9% em 2022 antes de desacelerar para sua taxa atual de 3%, era a principal preocupação do eleitorado de longe. Para combater a inflação, o Federal Reserve manteve as taxas de juros altas, tornando mais difícil garantir um empréstimo residencial ou comercial. Depois, havia a idade do presidente, com a qual os eleitores se preocupam há anos.
Mas passivos eleitorais são uma coisa; apoio partidário é outra. Biden manteve por muito tempo amplo, se não ardente, apoio em toda a grande tenda democrata. Ele cuidou de seus eleitores políticos, tomando cuidado especial para alcançar autoridades eleitas negras e hispânicas e sindicatos. Seu primeiro chefe de gabinete da Casa Branca, Ron Klain, foi um aliado maior dos progressistas do que seus antecessores sob Obama. Apesar de todos os sinais de perigo, além disso, a erosão de Biden nas pesquisas foi mais acentuada entre aqueles com menor probabilidade de votar: os entrevistados mais jovens, aqueles que ficaram longe em 2020 ou 2022 e aqueles que não estavam acompanhando a disputa presidencial — dificilmente uma base potente para um desafio. Dean Phillips, um membro da Câmara de Minnesota em terceiro mandato, foi o único "democrata normie" que concorreu contra Biden nas primárias; ele citou especificamente a idade do presidente. Por seus problemas, ele ganhou aborrecimento generalizado, cinco delegados e um futuro político como uma resposta trivial.
 |
| Nancy Pelosi saindo de uma reunião do caucus democrata, Washington, D.C., 23 de julho de 2024. (Kent Nishimura/Getty Images) |
O partido também estava amplamente unido em questões de política. Os democratas concordam em reforçar a rede de segurança e proteger os direitos ao aborto, e o governo Biden também construiu consenso em torno da engenharia de uma transição de carbono e da prevenção da ascensão da China. Sua agenda trazia as marcas registradas das organizações sem fins lucrativos liberais nas quais tantos funcionários de Biden marinavam, começando com o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan. Jennifer Harris, outra autoridade do Conselho de Segurança Nacional, descreveu a política industrial do governo Biden como "uma reivindicação da ideia de que a democracia tem tanto a ver com agência econômica quanto com agência política". Quaisquer que sejam os méritos dessa afirmação, eles podem apontar para realizações reais. Projetos de lei como o CHIPS e o Science Act e a Bipartisan Infrastructure Law ganharam um mínimo de apoio republicano; outros, como o IRA, foram aprovados com votos quase partidários.
Houve desacordos, é claro. Moderados resmungaram que os indicados de Biden para agências como a Federal Trade Commission regulavam de forma muito autoritária a Big Tech e outras indústrias. Progressistas como Elizabeth Warren e Bernie Sanders ansiavam pelos ambiciosos gastos do estado de bem-estar social que foram eliminados do IRA como preço para obter o consentimento de Kyrsten Sinema e Joe Manchin.
A divisão mais dolorosa foi Gaza. Quando os manifestantes pediram um cessar-fogo imediato e a retirada do apoio militar dos EUA a Israel, eles atacaram uma falha geológica que atravessava a coalizão democrata. As apostas ficaram claras em junho, quando um desafiante primário apoiado pelo AIPAC chamado George Latimer derrotou Jamaal Bowman, um membro da Câmara em segundo mandato que criticou "o genocídio que está acontecendo em Gaza". No entanto, apesar de toda a sua intensa relevância — particularmente entre os eleitores muçulmanos, árabes e judeus — as pesquisas sugerem que a guerra não é uma grande preocupação dos eleitores, mesmo para os jovens. A campanha "não comprometida" conduzida por ativistas antiguerra para pressionar Biden sobre a questão acumulou apenas um por cento dos delegados. Não estamos em 1968.
Então chegamos ao dilema dos democratas. Biden claramente não era o melhor candidato para enfrentar Trump em 2024. No entanto, não havia incentivo para que alguém montasse um desafio intrapartidário contra ele. A verdadeira questão, então, não é por que o presidente demorou tanto para se retirar — essa história será contada com o tempo — mas sim por que o partido não conseguiu produzir um indicado superior em primeiro lugar. A crise que envolveu o Partido Democrata era sobre Biden, com certeza — mas apenas aproximadamente.
As raízes dessa crise podem ser encontradas em dois desenvolvimentos históricos. Um é a presidencialização da política americana, que ganhou força ao longo do século XX. O outro é o esvaziamento da capacidade de organização do Partido Democrata, que começou no final dos anos 1960. Cada desenvolvimento reforça o outro: à medida que a presidência se torna mais poderosa e o partido se esvazia, os presidentes escapam de seus grilhões.
*
Martin Van Buren, um advogado que virou senador dos EUA, estabeleceu o modelo para o primeiro partido político de massa do mundo na década de 1820 em Nova York. O "pequeno mágico" e seus aliados formaram uma organização conhecida como Albany Regency, que dominou a política estadual, nomeando membros do partido para cargos, distribuindo empregos e contratos governamentais e publicando uma rede de jornais. A Regency valorizava a lealdade partidária acima de tudo — diferentemente de seu oponente DeWitt Clinton, que fez acordos com oponentes federalistas. Quando Andrew Jackson concorreu à presidência em 1828, Van Buren viu uma chance de levar o modelo nacionalmente. Ele imaginou um Partido Democrata Jacksoniano que uniria "os fazendeiros do Sul e os republicanos simples do Norte" em torno dos princípios jeffersonianos — e manteria a discussão sobre a escravidão fora da agenda federal, evitando assim ameaças à instituição peculiar. Fiel à sua linhagem Empire State, seria localmente enraizado, altamente participativo e dedicado ao princípio do partido sobre o homem.
A partir de 1832, os democratas escolheram indicados em convenções, que os partidos estaduais dominaram por mais de um século. Como explicou um relato de jornal de 1884, "a Convenção Nacional tem apenas uma autoridade delegada e nenhum poder de coerção sobre o partido em qualquer estado". No início, os candidatos raramente faziam campanha em seu próprio nome. Em vez disso, as organizações locais comandavam a máquina eleitoral. Eles inventaram plataformas, conduziram campanhas com bandas de metais e desfiles de tochas e, na era anterior às cédulas secretas, imprimiram bilhetes de partido. No cargo, os presidentes tinham que apaziguar os rivais no gabinete. Como cinco titulares ao longo do século XIX descobriram, a renomeação não era garantida.
Tudo isso mudou com o tempo. Nas últimas décadas do século, os comitês nacionais do partido se tornaram permanentes, em vez de organizações ad hoc.[1] Em vez de servir à mercê dos chefes estaduais, os presidentes em exercício e até mesmo os indicados presidenciais agora tinham pessoal e financiamento para administrar suas próprias campanhas e criar seu próprio clima político. Em 1955, Dwight Eisenhower criou uma escola de campanha para ensinar a todos os quarenta e oito presidentes estaduais do Partido Republicano tópicos como os "fundamentos da organização de campanha" e "utilização eficaz de homens avançados". Os presidentes, por sua vez, treinavam seus próprios presidentes de condado. Muitos presidentes, especialmente republicanos, se envolveram nessa forma de construção partidária.[2]
Enquanto isso, o governo federal expandiu seu alcance. Durante a Era Progressista, o New Deal e o início da Guerra Fria, ele inexoravelmente invadiu as prerrogativas tradicionais estaduais e locais em tarefas que iam do desenvolvimento de infraestrutura à legislação trabalhista e assistência aos pobres. A posição política dos presidentes aumentou por sua vez. Estabelecido em 1939, o Gabinete Executivo do Presidente se tornou um centro nervoso para as operações da Casa Branca. E o surgimento do moderno aparato de segurança do país, particularmente seu arsenal nuclear, também ampliou a autoridade executiva - um fenômeno que Garry Wills chamou de "poder de bomba".[3]
No entanto, os antigos baluartes do poder partidário dificilmente desapareceram. Governadores, senadores e prefeitos de grandes cidades ainda controlavam as delegações estaduais para as convenções nacionais. Na era do New Deal, as máquinas urbanas — mais proeminentemente em Chicago, mas também em cidades como Pittsburgh e Albany — assumiram posições liberais populares em questões nacionais (o que aconteceu em casa, onde o conflito de grupo era mais intenso, era uma questão diferente) e colocaram para trabalhar os recursos que os programas federais canalizaram em seu caminho. Todos esses jogadores exigiam favores dos candidatos presidenciais, seja em nomeações ou políticas. Mais precisamente, eles indicaram candidatos cujas fortunas políticas poderiam aumentar as suas.
Os partidos estaduais geralmente escolhiam seus delegados para convenções nacionais por meio de processos opacos com pouca participação pública. As primeiras primárias presidenciais ocorreram em 1912. Mas a maioria delas eram "concursos de beleza" não vinculativos, para usar o apelido da época: úteis para avaliar os pontos fortes dos candidatos, mas sem influência na seleção de delegados. Somente na década de 1950 e no início da década de 1960 o partido nacional começou a emitir requisitos formais para a escolha de assentos para delegações estaduais. À medida que o movimento pelos direitos civis ganhava força, os democratas do norte, cada vez mais comprometidos em impedir Jim Crow, miravam delegações brancas do sul. E assim o partido nacional implementou padrões mínimos de lealdade, eventualmente ordenando que os partidos estaduais "garantissem que os eleitores no estado, independentemente de raça, cor, credo ou origem nacional, tivessem a oportunidade de participar plenamente dos assuntos do partido". Mesmo assim, os processos de seleção de delegados colocavam os insiders em vantagem, inclusive no norte. O sistema estava repleto de práticas caprichosas e arbitrárias: procedimentos ocultos em regulamentos inacessíveis, horários de reuniões não publicados, requisitos de quórum aplicados seletivamente e votação por procuração desenfreada.
 |
| A polícia se reuniu do lado de fora do Anfiteatro Internacional durante a Convenção Nacional Democrata, Chicago, 1968. (Bettmann/Getty Images) |
Sua intransigência ficou clara em Chicago em 1968. Como Johnson se retirou meses antes da convenção, a maioria dos delegados apoiou seu vice-presidente, Hubert Humphrey, enquanto uma minoria da facção antiguerra que havia apoiado McCarthy e Kennedy (assassinados dois meses antes) procurou um candidato alternativo e impulsionou uma postura mais pacífica sobre a Guerra do Vietnã. Da Casa Branca, Johnson trabalhou suas conexões no salão para evitar qualquer acordo. Do lado de fora do Anfiteatro Internacional, seu aliado, o prefeito Richard J. Daley, colocou a polícia atrás dos manifestantes.
Buscando uma maneira de quebrar a maioria contra eles, as forças antiguerra lançaram uma série de desafios formais às delegações estaduais, questionando os procedimentos pelos quais foram selecionadas. Eles perderam em quase todos os lugares. Seus esforços para emendar a plataforma também terminaram em fracasso: a plataforma adotada declarou que a retirada unilateral do Vietnã permitiria que a "agressão e a subversão comunistas tivessem sucesso". No entanto, mesmo com os "regulares" do partido prevalecendo no salão, sua implacabilidade violenta refletia uma crise de legitimidade mais ampla. Como Elizabeth Hardwick escreveu nestas páginas, "Poucos perceberam até Chicago quão grande foi a ruína que Johnson e sua guerra no Vietnã trouxeram ao nosso país".
*
Os insurgentes garantiram uma vitória. Em uma votação caótica tarde da noite, os delegados aprovaram a criação de um comitê para reexaminar o processo de seleção de delegados e promulgar reformas. A Comissão McGovern-Fraser, como veio a ser conhecida, não incluía nenhum representante genuíno da Nova Esquerda, mas grande parte do corpo foi moldada pelos movimentos sociais do período, e muitos tinham começado na campanha de McCarthy. Eles defendiam o que ele descreveu como "democracia no procedimento do partido, bem como na política pública". Os regulares do partido e a ala agressiva da AFL-CIO resistiram ineficazmente.
Em pouco tempo, a comissão ofereceu dezoito novos padrões para a seleção de delegados estaduais. Os partidos estaduais tiveram que tornar seus procedimentos transparentes, oportunos e acessíveis a todos os democratas; delegados automáticos “ex-officio” foram banidos; e os aspirantes a delegados tiveram que declarar sua preferência presidencial (ou status não comprometido). Em poucos anos, esses novos padrões deram forma ao nosso atual sistema de nomeação: uma série de disputas primárias estaduais, com algumas convenções partidárias espalhadas.
Este resultado foi em grande parte não intencional. Embora suas visões fossem variadas e frequentemente nebulosas, os reformistas geralmente queriam que os delegados fossem escolhidos em convenções estaduais onde ativistas e movimentos sociais pudessem participar efetivamente. O presidente da comissão, Donald Fraser, fez sua carreira em tal cenário, o Partido Democrata-Fazendeiro-Trabalhista de Minnesota; mais tarde, ele chamou as primárias de "coisas horríveis" por roubarem dos partidos o controle sobre as indicações.
O ethos McGovern-Fraser, em outras palavras, era participativo, mas não antipartido. E ainda assim suas recomendações enfraqueceram os atores partidários. A principal razão era prática: eleições primárias diretas ofereciam os meios mais baratos e menos onerosos para atender aos novos requisitos participativos. No sistema que surgiu em meados da década de 1970 e assumiu algo como sua forma atual após o ciclo de 1988, os delegados eram alocados aos candidatos em proporção às preferências dos eleitores nas primárias, e prometiam apoiá-los na primeira votação. As convenções foram efetivamente tornadas obsoletas como órgãos deliberativos e transformadas em infomerciais e eventos de networking de uma semana.
Isso marcou uma ruptura radical na história do Partido Democrata. Antes da reforma, as organizações estaduais e locais (e, por sua vez, seus patronos) tinham dado as cartas.[4] Havia pouca pretensão de democracia interna do partido, mas o aparato partidário desempenhou um papel central, culminando na chamada presidencial na convenção. Uma vez que tudo se tornou sobre primárias e caucuses, um gênio saiu da garrafa. Qualquer argumento de que a convenção deveria fazer sua vontade, que os delegados deveriam debater os méritos de cada indicado, seria doravante rotulado como antidemocrático. De forma reveladora, enquanto lutava para salvar sua candidatura, Biden escreveu aos democratas do Congresso que "os eleitores — e somente os eleitores — decidem o indicado".
A desautorização dos delegados removeu um baluarte que impedia os presidentes de dominar o partido — especialmente os titulares que buscavam a reeleição. No passado, a maneira mais direta de os políticos negarem uma renomeação era por meio do controle sobre como os delegados votavam na convenção. Agora essa rota estava bloqueada.[3] Um viajante do tempo de meados do século XX ficaria surpreso que as figuras cruciais que pressionaram Biden a se retirar — acima de tudo, Pelosi e Barack Obama — devessem sua influência à estatura pessoal, não ao seu domínio sobre as delegações estaduais.
O que nos leva a uma ironia crucial. Os reformadores antiguerra foram estimulados a agir por seu desgosto com a agressão de Johnson no Vietnã, mas falharam em construir um contrapeso eficaz ao que Arthur Schlesinger logo chamaria de "a presidência imperial". No mínimo, eles acabaram reforçando ainda mais o domínio do presidente sobre o partido.
 |
| Bill Clinton na Convenção Nacional Democrata, Nova York, 1992. (Steve Liss/Getty Images) |
As nomeações na era pós-reforma não foram inteiramente livres para todos, impulsionadas pelos candidatos. Uma rede expandida de participantes dentro e, em muitos casos, fora do partido formal — doadores e "consultores de doadores", grupos de interesse e ativistas, pesquisadores e publicitários — frequentemente se coordenam para sinalizar um candidato favorito durante as chamadas "primárias invisíveis" no ano anterior ao caucus de Iowa. Bill Clinton, por exemplo, aliviou as preocupações sobre sua boa-fé democrata em um desses eventos em novembro de 1991. Tendo salpicado a multidão com apoiadores, ele evocou o que o The Washington Post chamou de "devoção quase religiosa de seu avô a Franklin D. Roosevelt". Dinheiro e endossos logo se seguiram.
Mas a tomada de decisões pela rede partidária se tornou difícil de manejar, principalmente porque essa rede sofreu metástase. Apesar das fulminações sobre Koch, Thiel e Musk, os novos super-ricos da tecnologia e das finanças doaram generosamente aos democratas e organizações progressistas, motivados pelo liberalismo social e, mais recentemente, pela repulsa a Trump. Os democratas têm tido vantagem financeira desde a primeira campanha de Obama. Os dólares fluíram cada vez mais livremente desde a decisão do Citizens United em 2010. Mas eles vão mais frequentemente não para partidos formais, mas para "despesas independentes", principalmente os chamados Super PACs, que são proibidos de coordenar com candidatos ou partidos.
Enquanto isso, os grupos de interesse tradicionais do lado Democrata, principalmente o trabalho organizado, foram substituídos por um bando de organizações sem fins lucrativos, financiadas por pessoas como a Ford e a Open Society Foundations, uma série de fundações familiares menores e ativistas de classe média. Essas entidades buscam colocar “novos paradigmas” e apelos para “pensar grande” na corrente sanguínea. Mas, dado seu status tributário, elas são normalmente impedidas de participar da política eleitoral — e não são responsabilizadas se as coisas derem errado. Todo o dinheiro e todas as entidades nebulosas girando ao redor tornam ainda mais difícil para o partido realizar o que Van Buren identificou como sua tarefa essencial: coordenar quando os riscos são mais altos e alinhar incentivos pessoais com a vitória eleitoral.
*
Como um senador eleito precoce de Delaware, Joe Biden entrou na política nacional em 1972, no alvorecer da era da fragmentação centrada no candidato. Apesar de todos os seus acenos retóricos ao New Deal, ele continua sendo uma figura daquela era individualista. Sua equipe central insular de conselheiros remonta aos seus dias de senador, incluindo Ted Kaufman, Mike Donilon e Klain. Mas ele mudou agilmente com os ventos ideológicos. Em 1988 e 2008, enquanto as primárias invisíveis faziam sua mágica, ele se retirou para manter vivas suas perspectivas de longo prazo. Quando ele finalmente ganhou o prêmio, foi por meio de uma disputa primária que ilustra a desordem abjeta do partido moderno.
Em nenhum sentido efetivo ou concertado, “o Partido Democrata” decidiu seu indicado para 2020. As elites dentro e ao redor do aparato formal — autoridades eleitas, chefões de grupos de interesse e organizações sem fins lucrativos, doadores — estavam profundamente céticas em relação a Sanders. Mas, em vez de se unirem em torno de outra pessoa, eles falharam em peneirar um campo superlotado. A nomeação dificilmente seria perdida por Biden, principalmente depois que ele ficou em quarto e quinto lugar consecutivos em Iowa e New Hampshire. Então, com a ajuda de Jim Clyburn, ele teve um desempenho superior na Carolina do Sul e, nos três dias confusos que se seguiram, os moderados Amy Klobuchar e Pete Buttigieg desistiram quase simultaneamente, dando um sinal aos eleitores que duvidavam de Sanders. Depois que Biden limpou na Super Terça-feira, a corrida efetivamente acabou. Os apoiadores desaprovadores de Sanders e os cientistas políticos aprovadores viram a mão invisível da coordenação.[6] Mas todo o episódio foi marcado por atrasos, contingências e um frenesi improvisado que desmente qualquer noção de forte controle do partido.
 |
| Kamala Harris chegando à Casa Branca para um evento para celebrar os times campeões da NCAA, Washington, D.C., 22 de julho de 2024 (Andrew Harnik/Getty Images) |
A escolha de Biden para sua companheira de chapa também foi ad hoc. Ele escolheu Harris mais porque ela era uma mulher afro-americana e promotora reformista do que por seus relacionamentos no Senado. Ela lutou, especialmente em seus dois primeiros anos como vice-presidente, com pastas complicadas, desde direitos de voto até gestão de fronteiras. Alguém com amizades mais profundas em todo o partido e julgamentos mais seguros aos olhos de seus líderes poderia ter tornado a sucessão menos tensa. No evento, uma vez que Biden endossou Harris, os democratas rapidamente enterraram seus escrúpulos (pelo menos por enquanto), postaram memes de coqueiros e consolidaram. Foi o processo de 2020 que se desenrolou muito mais tarde e ainda mais rápido.
Os limites externos da dominação presidencial sobre os democratas estão mais claros agora do que estavam em 27 de junho (assim como o contraste com o GOP Trumpificado), e o caso da vitalidade do partido é mais forte. No século XIX, quando o partido imprimia bilhetes com os nomes dos aspirantes a cargos em todos os níveis, todos tinham motivos para cooperar. Neste verão, quando um titular enfraquecido ameaçou arrastar para baixo todos os que concorriam sob o rótulo do partido, eles brevemente mostraram a capacidade de fazê-lo novamente.
Mas a dinâmica subjacente que quase levou à nomeação de Biden ainda não mudou. Ao elevar Harris ao topo da chapa com base no endosso de seu antigo chefe, os democratas meramente aceitaram a lógica da presidencialização. Eles parecem encantados por ter uma candidata fazendo campanha a todo vapor. Mas esse entusiasmo não deve ser lido de trás para frente no processo de sua seleção.
Os democratas têm novos motivos para defender a venerável alegação, recentemente reafirmada por Jonathan Rauch no The Atlantic, de que “as nomeações pertencem aos partidos, não aos candidatos”. Reforçar o papel dos partidos nas nomeações exigirá o desenvolvimento de capacidade, no DNC e nas organizações estaduais. Os democratas podem até ir mais longe, cumprindo a promessa não cumprida da era da reforma de construir um partido que pudesse restringir a própria presidência. Em 1976, Leonard Woodcock, o chefe do United Auto Workers, propôs que os presidentes democratas “relatassem anualmente, não apenas à nação sobre o estado da união, mas ao Partido Democrata sobre o estado do partido”. Alguém pode ousar imaginar a cena: um ano após garantir a nomeação democrata como subproduto de um esforço coletivo de curso intensivo, a presidente Harris emite exatamente esse relatório ao partido que a colocou no poder.
1. Ver Daniel Klinghard, The Nationalization of American Political Parties, 1880-1896 (Cambridge University Press, 2010).
2. Ver Daniel J. Galvin, Presidential Party Building: Dwight D. Eisenhower to George W. Bush (Princeton University Press, 2010.
3. Bomb Power: The Modern Presidency and the National Security State (Penguin Books, 2010).
4. A única concessão notável do lado dos democratas à noção tradicional de influência da elite do partido sobre as nomeações foi uma fração de "superdelegados" não comprometidos que uma comissão sucessora de McGovern-Fraser estabeleceu no início dos anos 1980. Pretendidos como uma medida corretiva para trazer autoridades eleitas e leais ao partido de volta ao processo, os superdelegados nunca exerceram seu poder formal de rejeitar um candidato com uma maioria de delegados comprometidos. Como um agrado aos apoiadores de Bernie Sanders após 2016, o partido retirou dos superdelegados seus direitos de voto em uma primeira votação presidencial na qual nenhum candidato é certificado como tendo uma maioria de delegados comprometidos.
5. Ver Juan J. Linz, "The Perils of Presidentialism," Journal of Democracy, Volume 1, No. 1, 1990.
6. Ver Seth Masket, Learning from Loss: The Democrats, 2016-2020 (Cambridge University Press, 2020).
Daniel Schlozman é professor associado de Ciência Política na Universidade Johns Hopkins. Ele é coautor, com Sam Rosenfeld, de The Hollow Parties: The Many Pasts and Disordered Present of American Party Politics, e autor de When Movements Anchor Parties: Electoral Alignments in American History.
Sam Rosenfeld é professor associado de Ciência Política na Universidade Colgate. Ele é coautor, com Daniel Schlozman, de The Hollow Parties: The Many Pasts and Disordered Present of American Party Politics, e autor de The Polarizers: Postwar Architects of Our Partisan Era.



.jpg)